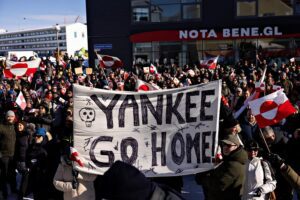Em meio às comemorações pelo descarte de Trump, alguém disse que, no Brasil, os candidatos de Bolsonaro, para as próximas eleições municipais, afundam tanto quanto o energúmeno que está sendo despejado da Casa Branca.
Trata-se de um modo muito suave – e, talvez, falso – de colocar a questão.
Não porque a derrota de Trump seja pequena. Ao contrário do que disseram, segundo a TV, alguns bolsonaristas, não é verdade que sua derrota, para Bolsonaro, seja coisa de somenos – porque não teria acontecido uma suposta “onda azul” a varrer os EUA, e o “trumpismo” seguiria forte naquele país.
Primeiro, essa “onda azul” era mais uma fabricação do pavor bolsonarista frente a qualquer movimento democrático – mesmo um movimento tão limitadamente democrático, como são, há muito, as eleições nos EUA – do que uma expectativa real.
Segundo, o “trumpismo” não existe. Existe a decadência cultural, política, ideológica e econômica do imperialismo norte-americano, que está levando aquele país a um carnaval de aberrações desumanas, mal parafraseando um pensador brasileiro dos fins do século XIX e início do século XX.
Terceiro, a posição de Bolsonaro sempre foi a mesma do beato Salú – isto é, daquele maluco que ele nomeou para o Itamaraty -, segundo o qual, Trump é o representante de Deus, encarregado de “salvar o Ocidente” (não importa que nenhum dos dois saiba o que significa “Ocidente”).
Por isso, quando Bolsonaro disse – ainda com a apuração das eleições nos EUA sem definição, embora correndo mal para o seu apóstolo (nos perdoem os leitores pelo uso dessa palavra para um crápula, como Trump, mas cada um escolhe o apóstolo à sua própria imagem) – que “eu não sou a pessoa mais importante do Brasil, assim como Trump não é a pessoa mais importante do mundo, como ele bem mesmo disse. A pessoa mais importante é Deus”, isso quer dizer apenas que ele se considera, assim como considera Trump, um enviado de Deus. Naturalmente, um enviado não pode ser mais importante do que aquele que o enviou…
Se isso parece muito doido aos leitores e às leitoras, é apenas porque somos um jornal com leitores normais. Porém, esse não é o caso nem de Bolsonaro nem do beato Salú.
Mas, aqui, não nos estenderemos sobre as consequências da derrota de Trump para Bolsonaro – embora, voltaremos rapidamente ao assunto, antes de dar o ponto final neste artigo.
Retornemos, portanto, às eleições do Brasil, e ao sensacional desempenho dos candidatos de Bolsonaro – principalmente aqueles apoiados explicitamente por ele.
DERROTA CONTAGIOSA
Convenhamos que, no Brasil, os candidatos que colaram em Bolsonaro parecem ter adquirido uma modalidade político-eleitoral da lepra.
Ninguém – ou pouca gente – quer se aproximar deles. O contágio de Bolsonaro parece ter o condão de afundá-los mais e mais na corrida eleitoral. Mesmo aqueles que já eram eleitoralmente medíocres, estão sendo reduzidos a pequenos restolhos no redemoinho de um ralo. Pior ainda para os que, no início da campanha, apresentavam alguma perspectiva acima da mediocridade eleitoral.
Há poucos dias, um órgão pouco propenso à oposição a Bolsonaro – portanto, nesse caso, insuspeito – dizia que, com exceção de Fortaleza, os candidatos apoiados por Bolsonaro “patinavam nas pesquisas”, o que era uma forma amenizada de dizer que eles desciam o abismo sem o uso de paraquedas (v. Andrea Torrente, À exceção de Fortaleza, candidatos com apoio explícito de Bolsonaro patinam nas pesquisas, Gazeta do Povo 03/11/2020).
A exceção era um deputado federal do Pros, com o nome eleitoral de Capitão Wagner, que é candidato a prefeito da capital cearense.
Pois, no mesmo dia em que o artigo que citamos foi publicado, o Ibope divulgou sua última pesquisa, com o bolsonarista Capitão Wagner caindo para segundo lugar, e ameaçado de sair da pista que leva ao segundo turno (v. Altamiro Borges, Capitão Wagner cai no CE. Culpa do Bolsonaro?, HP 07/11/2020).
O resto… bem, não se pode dizer que o resto é silêncio, como Hamlet ao morrer – até porque Bolsonaro não sabe quem é Hamlet, nem quem foi Shakespeare, nem o que é silêncio.
Pelo contrário, tem sido algo barulhento o desmoronamento de Russomanno, em São Paulo; de Crivella, no Rio de Janeiro; a perenização do achatamento, em Belo Horizonte, de Bruno Engler, o amigo dos zero-zero, isto é, dos filhos de Bolsonaro; a remessa ao quinto (aliás, ao sexto…) dos infernos eleitorais do padrinho de casamento de Bolsonaro, e seu candidato à Prefeitura de Manaus, Coronel Menezes; o esquálido desempenho dos candidatos bolsonaristas em Curitiba, Belém, Porto Alegre, Salvador e Recife – e paramos por aqui apenas para não continuar repetindo e lotando de monotonia o saco do leitor.
Em todas essas cidades, Bolsonaro, em 2018, ganhou as eleições.
Aliás, vejamos os resultados de Bolsonaro, em 2018, nestas cidades, em percentagem dos “votos válidos” (isto é, dos votos dados a algum candidato) no primeiro turno:
São Paulo: 44,58%;
Rio de Janeiro: 58,29%;
Belo Horizonte: 55,17%;
Manaus: 57,30%;
Curitiba: 62,13%;
Belém: 43,18%;
Porto Alegre: 45,43%;
Salvador: 47,75%;
Recife: 43,14%.
Das cidades que citamos, Bolsonaro apenas em Fortaleza não foi o primeiro colocado em 2018. Mas ficou em segundo, com 34,38% dos “votos válidos”, depois de Ciro Gomes (40,13%).
Pois essas, repetimos apenas para ressaltar, são as mesmas cidades onde os candidatos bolsonaristas hoje se arrastam, nas preferências eleitorais, como répteis engrenados em marcha a ré.
Não poderia haver derrocada política mais escandalosa.
O fato de que alguns indivíduos, em geral pertencentes àquele círculo conhecido por “Centrão”, não tenham ainda percebido que Bolsonaro, em termos eleitorais, é portador de uma doença potencialmente mais contagiosa – e mais letal – do que a COVID-19, demanda, no entanto, uma abordagem dessa derrocada.
O FALSO LUSTRO
Então, o que houve?
Evidentemente, houve um governo – um desgoverno, pois, nesse caso, o clichê corresponde totalmente à realidade – desastroso, o pior da história do país desde, pelo menos, o conde da Cunha, vice-rei da colônia lusitana do Brasil entre 1763 e 1767.
Com uma diferença importante: um dos puxa-sacos do conde da Cunha, o poeta Basílio da Gama, escreveu que pretendia “Ajuntar mais um eco à vossa glória,/ Sem abrir os anais da antiga História” (cf. Ode ao Conde da Cunha, Obras Poéticas de Basílio da Gama, Edusp, São Paulo, 1996, org. Ivan Teixeira).
Já os puxa-sacos de Bolsonaro, bem menos ilustrados, como se viu no caso do senador Chico Rodrigues, não têm inibições quanto a anais de qualquer tipo. Não se trata apenas de um trocadilho, mas de uma realidade que revela muito do que é o bolsonarismo e sua falta de limites, inclusive na corrupção.
Entretanto, em seguida à prisão, em junho deste ano, de seu operador, Fabrício Queiroz, Bolsonaro pareceu, a alguns, ter se civilizado – pelo menos na casca.
Houve até quem dissesse que ele aprendera a fazer política…
Na prática (isto é, na verdade), o que houve foi medo, covardia, diante da Justiça, da Polícia e do Ministério Público.
O grau de socialização de Bolsonaro é inferior ao da maioria dos gângsters, pelo menos aqueles tipo Don Corleone, do filme de Francis Ford Coppola (“O poderoso chefão”) e do livro de Mario Puzo (“The Godfather”).
Por exemplo, apesar de sua suposta e súbita “civilização”, ele não se sentiu obrigado a explicar por que Queiroz depositou R$ 89 mil na conta de sua mulher, Michelle Bolsonaro.
O sujeito é Presidente da República e não acha que é preciso explicar ao povo, à sociedade, por que um delinquente, um “miliciano” com 10 mortes nas costas, sob processo e investigação do Ministério Público, da Polícia e da Justiça, depositou R$ 89 mil na conta da sua mulher – depósitos que, inclusive, desmontam a própria explicação de Bolsonaro sobre o achado anterior do Coaf, há dois anos, de depósitos de R$ 24 mil na conta da mesma Michelle, pelo mesmo Fabrício Queiroz (v. HP 08/12/2018, Jair Bolsonaro diz que não informou à Receita depósitos suspeitos de Queiroz, e, Bolsonaro explica que ninguém recebe dinheiro sujo com cheque nominal; HP 09/12/2018, Bolsonaro agora diz que quer explicações do motorista que depositou 24 mil na conta de sua mulher).
De onde se conclui que a suposta conversão de Bolsonaro à civilização era apenas o medo da Polícia e dos demais órgãos que investigam os delitos de sua família – isto é, dele próprio e de seu entorno.
Por isso, durante algum tempo, manteve a boca fechada quanto ao ataque às instituições – sobretudo ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Congresso Nacional.
Mas há um outro elemento, nas ilusões “civilizatórias” em relação a Bolsonaro.
Esse elemento são os R$ 321 bilhões que o governo gastou – por iniciativa sobretudo do Congresso – com o “auxílio-emergencial” após o deflagrar da pandemia de COVID-19.
Como diz um articulista:
“A popularidade de Bolsonaro cresceu e a economia não afundou porque o governo jogou R$ 321 bilhões no programa de Auxílio Emergencial (…). Só que o déficit público deste ano foi para quase R$ 900 bilhões e não há condições para manter um programa que, mesmo na sua versão mais barata, custa R$ 25 bilhões ao mês. O Auxílio Emergencial termina em dezembro e, até agora, o governo não tem ideia do que fazer a partir de janeiro” (v. Thomas Traumann, Janeiro vai cobrar Bolsonaro e Guedes, Veja 20/10/2020).
Em outras palavras: a continuação do “auxílio emergencial”, no quadro da política reacionária de Guedes e Bolsonaro, é insustentável.
Aliás, talvez fosse mais preciso dizer que a própria política econômica de Bolsonaro e Guedes, inclusive o “auxílio emergencial”, é insustentável.
Sobretudo e principalmente quando essa política é, para usar uma expressão popular direta, a de não dar nada ao povo. O impasse no “renda Brasil” ou “renda cidadã”, ou lá que nome tenha, é exatamente esse: o de querer estabelecer um curral eleitoral cortando direitos e benefícios.
Assim, para que haja o “renda alguma coisa” sempre aparecem as ideias geniais: rebaixar as aposentadorias, cortar gastos de uma máquina pública (ou seja, gastos com atendimento ao povo) que já está em perigoso estado de raquitismo, aumentar a carga de impostos, etc., etc.
Ou seja, o “renda qualquer coisa” acaba sendo – se for – mais um corte, uma perda, que alguma vantagem adquirida.
Mas aqui é preciso voltar ao propalado aumento de popularidade de Bolsonaro, para perceber o quanto ele é frágil – o que, aliás, já está demonstrado na atual campanha eleitoral.
ILUSÕES E ALUCINAÇÕES
A ilusão bolsonarista, nesse caso, é uma sucessora da ilusão lulista de que o “Bolsa-família” garantiria voto eterno em Lula e no PT.
Essa forma – aliás, moralmente repugnante – de tentar criar currais eleitorais de baixo custo individual, às custas do dinheiro do Estado, tem um problema: quem controla o curral é quem tem a chave do cofre.
Assim, são, grosso modo, as mesmas áreas que votavam em Lula por causa do “Bolsa-família” que passam a apoiar (e “aprovar”, nas pesquisas de opinião) Bolsonaro, por causa do “auxílio emergencial”.
Existe, aqui, um debate que está presente no Brasil desde o governo Fernando Henrique: a ideia de que uma política de desenvolvimento nacional (mais precisamente, poderíamos chamá-la de política geral de desenvolvimento nacional) pode e deve ser substituída por políticas focais, é inteiramente reacionária, estúpida e subserviente aos covis mais parasitários da economia, ou seja, ao setor financeiro estrangeirizado.
Não por acaso, essa ideia tem origem naquilo que houve de mais podre no neoliberalismo: o sr. Milton Friedman e seus acólitos.
Assim, toda a conversa em focalizar (sic) nos mais miseráveis, nos mais desvalidos, nos mais indigentes, esconde apenas o objetivo de, com um pequeníssimo estipêndio de dinheiro público, mantê-los na miséria, na desvalia e na indigência.
Toda a política de desenvolvimento que tirou o Brasil de um atraso e marasmo abissal, teve como característica essencial a elevação da capacidade de consumo – e, por consequência, de investimento – do conjunto da sociedade, isto é, da Nação brasileira.
Trata-se, aqui, da elevação dos salários e da consequente multiplicação de empregos, do aumento da produção nacional e do consumo de mercadorias produzidas internamente – por empresas nacionais, sobretudo, ainda que não exclusivamente.
Portanto, a questão é a elevação do nível de vida geral, através do aumento da produção e do emprego – do salário, a começar pelo seu piso, o salário mínimo.
Nada mais estranho a uma política de desenvolvimento nacional do que o abandono de seu caráter geral, através de políticas focais.
Uma política de desenvolvimento nacional que não é geral, também não é nacional – e, aliás, também não é uma política de desenvolvimento.
A política tipo “bolsa-família” ou “renda-Bolsonaro” é apenas a manutenção do status quo, isto é, do atraso e da pobreza, no melhor dos casos um pouco (mas muito pouco) lubrificados.
O leitor pode estar perguntando se estamos fazendo uma condenação de toda e qualquer política para um determinado setor.
Certamente, não. O que estamos dizendo é que as políticas com foco em tal ou qual setor não substituem e não podem substituir a política geral – isto é, nacional – de desenvolvimento.
Como contraprova, existe a questão da distribuição de renda.
Em um livro bastante conhecido, Paul Sweezy estabeleceu, com base em Marx, a mudança na distribuição da renda como o sinal que marca um verdadeiro processo de mudança – vale dizer, uma revolução (cf. Paul Sweezy, Teoria do Desenvolvimento Capitalista, trad. Waltensir Dutra, Zahar, 4ª ed., 1976, p. 78 e segs).
A mudança na distribuição da renda é, evidentemente, a redistribuição da renda entre as várias classes e setores sociais.
Com o “Bolsa-família” – ou, brevemente, com o “auxílio emergencial” – alguns setores aumentaram, ainda que pouco, a sua renda.
Mas não houve uma redistribuição da renda entre os vários setores. No caso do governo de Lula, o aumento da renda de alguns setores foi facilitado pelo boom das commodities.
No caso de Bolsonaro, nem isso.
Portanto, programas desse tipo servem, precisamente, para tentar eternizar uma determinada distribuição da renda – sempre em favor do setor financeiro, parasitário, da economia.
É evidente que não estamos condenando ajudas “emergenciais” em geral – mas apenas afirmando, exatamente, o seu caráter “emergencial”.
A tentativa de transformar esse caráter “emergencial” em permanente equivale a querer congelar a miséria social, isto é, o monopólio da riqueza por uma faixa estreitíssima da população – e, sobretudo, por uma faixa estreitíssima de antros financeiros, que nem faz parte da população do Brasil, porque faz parte da população de outros países, já que a sede desses antros se localiza no exterior.
Resta dizer – na verdade, repetir – que, para Bolsonaro, esses programas de renda funcionam como um suborno a determinadas parcelas do povo. O modelo da corrupção é o máximo que ele consegue elaborar como relacionamento com o povo brasileiro.
Entretanto, ele (ou, pelo menos, Guedes) parece achar possível subornar sem nem ao menos gastar dinheiro, apenas cortando direitos ou benefícios do próprio povo.
É verdade que até Bolsonaro consegue notar que o povo não engolirá tamanha trapaça – daí os sucessivos freios de mão que puxou na equipe de Guedes. Em parte é palhaçada, mas em parte é, também, o medo do que pode acontecer.
O problema é que já está acontecendo, com a redução do “auxílio emergencial” e a exclusão de milhões dessa ajuda.
Com o correr do tempo, isso somente piorará para Bolsonaro. As eleições do próximo 15 de novembro serão um introito para a situação real de sua trupe diante do povo brasileiro.
MARGINALIDADE
O fato é que o suposto – e miraculoso – lustro civilizatório de Bolsonaro (ou, melhor, sua miragem) foi pelo esgoto com o ataque hidrófobo à vacina chinesa (v. HP 21/10/2020, Bolsonaro diz que vacina chinesa “não será comprada” e dificulta país de se livrar da Pandemia).
Já havia, então, mais de 150 mil mortos pela COVID-19.
Mas isso, foi o que sentiram os brasileiros, não tem a menor importância para Bolsonaro.
Alguns comentaristas atribuíram tal interrupção do teatro político bolsonarista, a que esse anormal, devido ao acordo com o Centrão, com a nomeação de Aras para a Procuradoria Geral da República (PGR) e de Kássio Nunes para o STF, estaria mais seguro do que antes, em relação às investigações sobre sua quadrilha familiar.
Não eliminamos a hipótese, pois Bolsonaro é tão estúpido que até isso é possível – achar que pode voltar a ser publicamente o que é, pois todos agora teriam de acompanhá-lo…
Mas, talvez o mais simples – e mais verdadeiro – seja dizer que ele jamais deixou de ser esse fascista arrogante, obscurantista e muar que ficou conhecido desde o fim da ditadura.
Pode ter enganado alguns, mas isso dura pouco, muito pouco.
Vejamos, então, a última ilusão da praça.
Dizem alguns que, com a eleição de Biden, Bolsonaro tende a se tornar mais contido e – quase se diz – mais razoável.
Essa ideia apareceu em vários órgãos da imprensa – e foi atribuída, inclusive, a altos oficiais das Forças Armadas, que teriam torcido por uma vitória de Biden, na esperança de que, sem Trump, Bolsonaro se torne mais sensato, mais racional, mais afastado dos batoteiros olavistas.
É compreensível que, diante da perspectiva de mais dois anos de vandalismo e subversão na Presidência da República, algumas pessoas estejam tão horrorizadas, que tenham a tendência a fantasiar um Bolsonaro mais contido.
Mas é incongruente esperar essa contenção – ou, pior, sensatez – de Bolsonaro.
Antes de tudo porque isso implicaria em que Bolsonaro é capaz de aprender alguma coisa com a experiência, isto é, com as derrotas.
No entanto, isso é tudo o que ele jamais foi capaz em toda a sua vida.
Hoje, continua tão adepto da ditadura, da tortura e do servilismo ao que existe de mais podre nos EUA, quanto era em 1987, ao afrontar a disciplina militar e atacar, solertemente, o general Leônidas Pires Gonçalves, ministro do Exército (v. HP 16/08/2018, Terrorismo de baixa potência).
A penúria espiritual do sociopata é terrivelmente sem mudanças – exceto para pior.
Nesses mais de 30 anos, se algo mudou em Bolsonaro, foi no sentido do maior apodrecimento: tornou-se um representante das “milícias” e grupos de extermínio, com operadores como Fabrício Queiroz e amigos como Adriano da Nóbrega, fundador do Escritório do Crime, e vizinhos como Ronnie Lessa, o assassino de Marielle Franco.
Tornou-se, portanto, mais marginal do que já era.
Suas tentativas de usar o poder público para conceder impunidade à sua família e aos seus sequazes, são sua única política real.
O resto, para ele, deve estar em função dessa nobre missão.
O problema é que “o resto” é o Brasil, suas riquezas, e, sobretudo, o povo brasileiro.
CARLOS LOPES