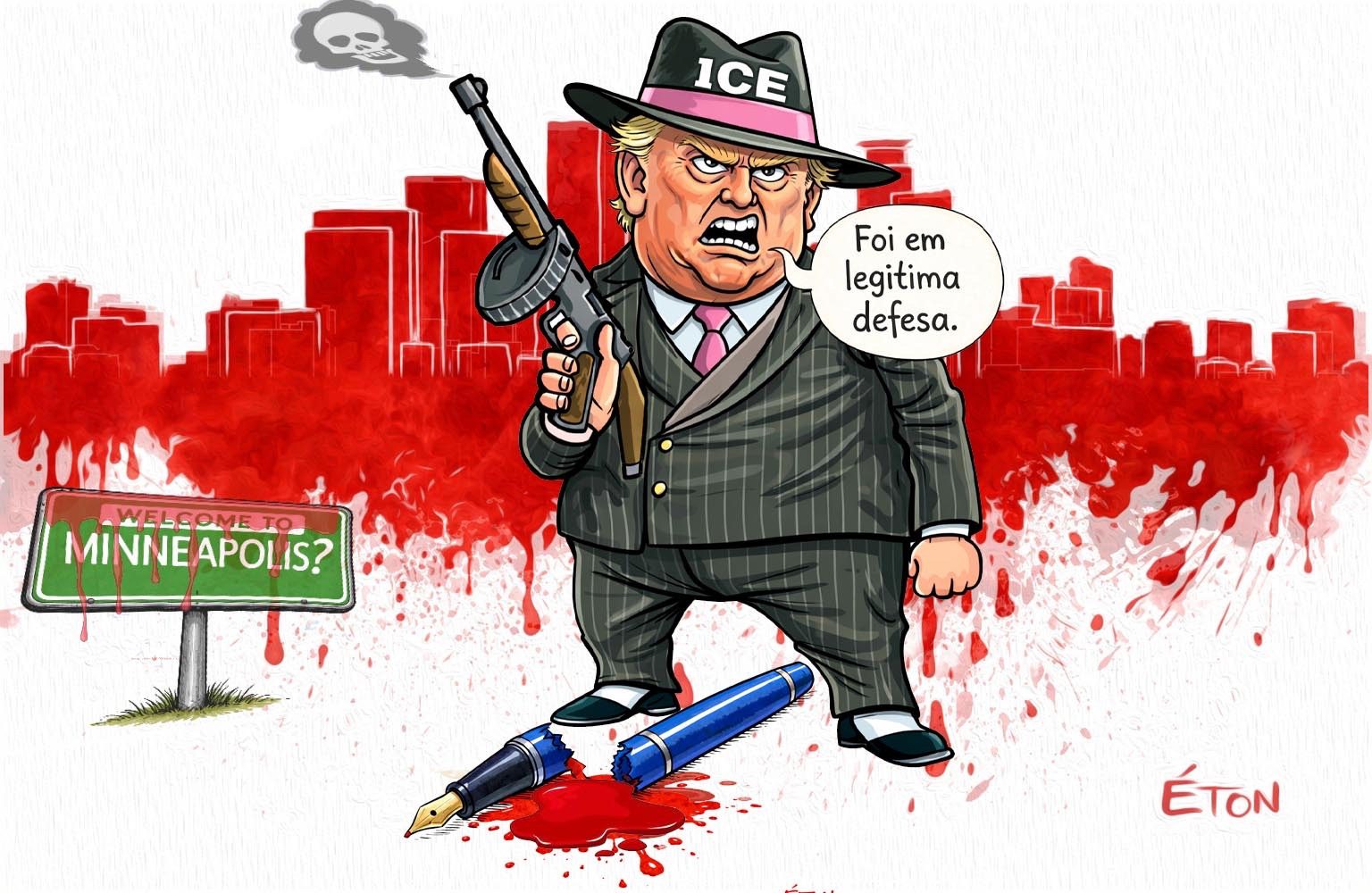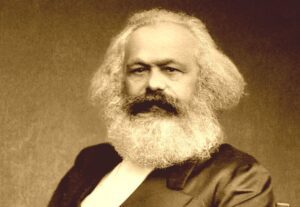CARLOS LOPES
É um sinal indelével – uma espécie de marca da infâmia, como aquela tatuagem da vilã mais conhecida dos livros de Alexandre Dumas – que, na época do capitalismo monopolista, seus ideólogos, em geral recrutados nas parcelas desesperadas da pequeno-burguesia, tenham por ideal o passado.
Não o passado histórico, o que se poderia chamar de “passado verdadeiro”, mas uma utopia algo grotesca, que é localizada no passado – e o futuro ideal seria apenas o “renascimento” desse passado de fantasia.
Por isso, Nietzsche diz que o renascimento da tragédia somente é possível com o banimento da razão, isto é, do legado filosófico de Sócrates.
Como o ideal de futuro é um passado que jamais existiu, aparece, transbordante, o ódio àquilo que é histórico, inclusive explicitamente:
“A cultura histórica é também, realmente, uma espécie de encanecimento inato e aqueles que trazem consigo seu sinal desde a infância precisam chegar certamente à crença instintiva no envelhecimento da humanidade, mas por este envelhecimento paga-se agora com uma ocupação senil, a saber, olhar para trás, acertar contas demasiado, fechar-se, buscar um consolo no que foi, pelas lembranças, em suma, pela cultura histórica” (F. Nietzsche, “Segunda consideração intempestiva: da utilidade e desvantagem da história para a vida”, trad. Marco Antônio Casanova, Relume Dumará, 2003, pp. 66-67, grifo do autor).
Poderia parecer que Nietzche, nesse texto de 1874, estaria denunciando apenas certo tipo de “cultura histórica”. Mas ele se encarrega de dirimir essa dúvida, com a nostalgia de uma época em que a história não existia:
“… reconheço a missão daquela juventude, daquela primeira geração de lutadores e matadores de cobras, que precede o aparecimento de uma cultura e uma humanidade mais feliz e mais bela, sem ter desta felicidade vindoura e da beleza mais do que um pressentimento promissor” (idem, p. 96, grifo do autor).
E, um pouco antes:
“… o a-histórico e o supra-histórico são os antídotos naturais contra a asfixia da vida pelo histórico, contra a doença histórica” (grifos nossos).
Ele é, até, mais específico:
“Com a palavra ‘a-histórico’ denomino a arte e a força de poder esquecer (…); com a palavra ‘supra-histórico’ denomino os poderes que desviam o olhar do vir a ser e o dirigem ao que dá à existência o caráter do eterno e do estável em sua significação, para a arte e a religião. A ciência (…) vê nesta força, nestes poderes, forças e poderes contrários; pois ela só toma por verdadeira e correta, ou seja, por científica, a consideração das coisas que vê por toda parte algo que veio a ser, algo histórico, e nunca vê um ente, algo eterno; [a ciência] … odeia o esquecer, a morte do saber (…)” (F. Nietzsche, op. cit., p. 95, grifos do autor).
O HUMANO
A História torna-se, na época do capitalismo monopolista, uma inimiga do status quo. Pois ele, do ponto de vista ideológico ou cultural, torna-se, inevitavelmente, destruidor de toda a obra civilizatória anterior dos seres humanos – e um bloqueio para que essa obra continue a se desenvolver.
Daí a tentativa, tremendamente agressiva, de submeter as pessoas – em uma época onde os meios de comunicação invadem as casas – a monstruosidades e aberrações, ou a tentativas de regredir ao trabalho escravo, sem direitos, com jornadas sem limites, sem proteção alguma para as mulheres – mesmo que sejam apenas alguns minutos entre um turno e outro.
Do mesmo modo, todo o desenvolvimento humano, desenvolvimento civilizatório, do amor entre os sexos – isto que, hoje, se rotula com a palavra “heterossexualismo” -, passa a ser alvo de um ataque extremamente violento.
Mas, em que, específica ou genericamente, o amor entre homens e mulheres é um problema para o capitalismo monopolista?
Antes de tudo porque o amor entre os sexos é o encontro supremo da sociedade com a natureza – e ambos são opostos à exploração monopolista, que é antissocial e antinatural.
Nas palavras de Marx:
“A relação imediata, natural, necessária do ser humano para com o ser humano é, também, a relação do homem com a mulher.
“Nesta relação natural da espécie, a relação do ser humano com a natureza é diretamente a sua relação com o ser humano, e a sua relação com o ser humano é diretamente a sua relação com a natureza, a sua própria condição natural.
“Portanto, nessa relação se revela de modo sensível, reduzida a um fato observável, até que ponto a essência humana se tornou natureza para o homem e em que medida a natureza se transformou em essência humana do homem.
“A partir dessa relação, é possível apreciar todos os níveis de formação do ser humano. Do caráter dessa relação, infere-se até que ponto o ser humano se tornou, e se entende a si mesmo, como ser de uma espécie, como um ser humano; a relação do homem com a mulher é a relação mais natural do ser humano para com o ser humano.
“Nela se manifesta, por consequência, em que medida o comportamento natural do homem se tornou humano, em que medida a sua essência humana se tornou para ele uma essência natural, até que ponto a sua natureza humana se tornou natureza para ele.
“Na mesma relação, revela-se, também, em que medida as necessidades do ser humano se transformaram em necessidades humanas, e, portanto, em que medida o outro ser humano, enquanto pessoa, se tornou para ele uma necessidade, até que ponto, na sua existência mais individual, ele é, ao mesmo tempo, um ser social” (Karl Marx, “Manuscritos Econômico-Filosóficos”, abril/agosto de 1844, grifos do autor; na tradução acima, para melhor compreensão, dividimos em parágrafos o que, no manuscrito, que é um rascunho de Marx, constitui um só parágrafo).

Reciprocamente:
“Na relação com a mulher, enquanto presa e serva da luxúria comunal, exprime-se a infinita degradação em que o homem existe para si mesmo, uma vez que o segredo dessa relação tem a sua expressão inequívoca, incontestável, revelada e descoberta na relação do homem com a mulher e na maneira como se concebe a relação direta e natural da espécie” (K. Marx, idem).
Não é casual, nem surpreendente, que Nietzsche, ao contrário, trate as mulheres, em seus escritos, com um misto de medo e desprezo, típicos de um fariseu prussiano (por exemplo, em “Além do Bem e do Mal”: “A mulher quer fazer-se independente e para começar quer mostrar aos homens o modo de ser da ‘mulher em si’, este é um dos mais odiosos progressos do embrutecimento da Europa”; ou, em “Assim Falou Zaratustra”: “É preciso que o homem seja educado para a guerra e a mulher, para o descanso do guerreiro; tudo o mais é estultice”; e, aconselha uma sábia velhinha a Zaratustra: “Vais ter com mulheres? Não esqueças o chicote!”).
O HORROR
A submissão da maioria – sobretudo dessa classe operária supostamente composta de bárbaros e destruidores da cultura – a uma elite de “homens superiores” é a essência do que se pode chamar o pensamento de Nietzsche.
Muito coerentemente, para defender a cultura contra esses bárbaros, Nietzsche propõe… destruir a cultura desenvolvida desde Sócrates – além, é claro, da ética cristã.
A questão (e isso não depende da consciência que Nietzsche tinha dela) é que a cultura e a ética anterior – sinteticamente: a cultura e a ética – são um obstáculo para a exploração desenfreada, para a espoliação desapiedada dos países periféricos e para a especulação desmesurada, que caracteriza o capitalismo monopolista.
Como aponta a filósofa Abir Taha, o “desejo de poder” é o núcleo da concepção de Nietzsche – e dos nazistas.
Com efeito, diz Nietzsche, no livro que considerava a sua obra-prima:
“Onde encontrei vida, encontrei vontade de poder; e ainda na vontade do servo encontrei a vontade de ser senhor.
“Que o mais fraco sirva ao mais forte, a isto o induz a sua vontade, que quer dominar outros mais fracos: esse prazer é o único de que ela não quer prescindir.
“E, tal como o menor se abandona ao maior, para conseguir prazer e poder no menor de todos, assim também o maior se abandona a si mesmo e, por amor do poder — põe em risco sua vida.
“É esta a abnegação do maior: de que é risco e perigo e um lance de dados com a morte.
“E onde há sacrifícios e serviços prestados e olhares amorosos: ali, também, há vontade de ser senhor.
(…)
“Muitas coisas o ser vivo avalia, mais alto do que a própria vida; mas, através mesmo da avaliação, o que fala é — a vontade de poder!” (v. F. Nietzsche, “Assim Falou Zaratustra”, trad. Mário da Silva, Civ. Bras., 13ª edição, p. 145).
Não se trata, aqui, apenas de poder político:
“… o que Nietzsche chama de ‘poder’ (…) deve ser entendido como poder absoluto, global; ou seja, poder físico, espiritual, moral, mental e político… E esse poder absoluto é exatamente o que os nazistas querem atingir com as suas políticas raciais, criando uma Raça Superior Ariana – suprema em corpo e alma – e por meio de suas políticas militares expansionistas pretendem adquirir lebensraum (‘espaço vital’), ou seja, novas colônias onde eles possam escravizar ‘subumanos’ como os eslavos e os judeus” (Abir Taha, “Nietzsche, o Profeta do Nazismo: o culto do super-homem”, Madras, 2007, p. 50).
Existe, nesse “poder absoluto”, uma convergência com o marquês de Sade. Pois a submissão absoluta de um ser humano é a essência do sadismo. E, portanto, a falta de identificação com o outro, isto é, com o ser humano. Como diz o marquês: “Nós zombamos do tormento dos outros. O que teria esse tormento de comum conosco? (…) Não há comparação entre o que os outros experimentam e o que sentimos; a dor mais assustadora sentida pelos outros não existe para nós. (…) O próximo nada significa para mim: não existe a menor relação entre ele e eu” (cit. por Simone de Beauvoir, “Faut-il brûler Sade?”, Gallimard, 1972).
Comentando o texto de Simone de Beauvoir, Sartre disse algo bastante pertinente:
“O Marquês de Sade (…) viveu o declínio de um feudalismo, cujos privilégios eram contestados, um a um; seu famoso ‘sadismo’ é uma tentativa cega para reafirmar seus direitos de guerreiro na violência, fundamentando-os na qualidade subjetiva de sua pessoa. Ora, essa tentativa está já penetrada pelo subjetivismo burguês, os títulos objetivos de nobreza são substituídos por uma superioridade incontrolável do Ego. Desde a partida, seu impulso de violência é desviado. Mas quando ele pretende ir adiante, encontra-se perante à Ideia capital: a Ideia de Natureza. Ele pretende mostrar que a lei da Natureza é a lei do mais forte, que os massacres e as torturas limitam-se a reproduzir as destruições naturais etc.” (cf. Jean-Paul Sartre, “Questões de método”, trad. Guilherme João de Freitas Teixeira, in “Crítica da Razão Dialética”, DP&A, 2002, p. 91).
Sade é regressivo – ainda que seja a regressão a uma utopia de dominação e submissão completas, algo que nunca existiu, uma espécie de fantasma feudal projetado no presente.
Mas ele pretende que suas ideias são revolucionárias: “reivindica a liberdade (que seria, para ele, liberdade de matar) (…). Suas contradições, seus antigos privilégios e sua queda condenam-no, com efeito, à solidão” (Sartre, idem).
Não é muito diferente o que acontece com Nietzsche, exceto que, ao contrário de Sade, em vez de “entusiasmo” pela Revolução (uma revolução que, a rigor, não é a Revolução Francesa real), o ideólogo alemão sente, desde o início, um intenso medo e ódio à revolução – nesse caso, a revolução socialista, representada pela Comuna de Paris.
AS ESPÉCIES
O campo de batalha dessa luta pela dominação da plebe, é, inevitavelmente, o terreno moral:
“Na minha caminhada pelas morais mais refinadas e mais grosseiras, que prevaleceram e ainda prevalecem, descobri certos traços que se repetem e são ligados uns aos outros, de modo que estou prestes a descobrir dois tipos fundamentais (…). Existe a moral dos senhores e a moral dos escravos (…).
“… o bem-estar geral não é um ideal, uma meta, um conceito que se possa formular claramente (…); pretender uma única moral para todos tende, precisamente, a prejudicar os homens superiores, pois existe uma diferença de grau entre os homens, e, consequentemente, entre as morais” (F. Nietzsche, “Além do Bem e do Mal”, grifos nossos).
Em suma, existem duas variedades na espécie humana: os “senhores” e os “escravos” – os “superiores” e os “inferiores”.
Existem porque a espécie humana é assim mesmo: dividida em “senhores” e “escravos”.
A desgraça do mundo é que apareceram algumas ideias democráticas que pretendem uma suposta igualdade entre os seres humanos (a Liberté, Egalité e Fraternité da Revolução Francesa) – e, ainda por cima, apareceram os “socialistas”, pretendendo que a “piedade” (a identificação com o sofrimento de outro ser humano) deve ser uma qualidade humana geral.
É completamente inútil enfeitar – como já se tentou fazer – esse tipo de ideia (se é que isso é uma ideia) com adereços refinados, pois a grosseria e a vulgaridade estão nela própria.
Mas, continuemos.
Quanto aos “homens superiores”, os “senhores”:
“A espécie aristocrática do homem sente a si mesma como determinadora dos valores, não sente necessidade de ser aprovada, louvada, sente-se como atribuidora de valor às coisas, criadora de valores. Valora tudo aquilo que conhece de si mesma, é a moral da exaltação de si mesma” (F. Nietzsche, idem).
Mais sucintamente ainda:
“… uma pessoa tem obrigações apenas para com os seus iguais, com relação aos outros essa pessoa age como achar melhor.
“Perante Deus todas as ‘almas’ são iguais: eis aqui a mais perigosa de todas as apreciações possíveis” (F. Nietzche, “A Vontade de Poder”).
DEUS
Poderia parecer que a suposta existência de duas morais, uma “moral dos senhores” e uma “moral dos escravos”, explicitada por Nietzsche, conduz a uma nova ética – ou a duas éticas.
A rigor, essa postulação – melhor, essa pretensão – é a negação de qualquer ética. Pois não existe ética onde existem duas (ou três ou cinco mil) éticas.
Imaginemos uma sociedade onde cada indivíduo tem a sua ética própria – e age de acordo com ela, em total desprezo à ética dos outros.
Não haverá ética, nem haverá sociedade.
Do mesmo modo: como pode existir alguma ética onde alguns poucos privilegiados podem (têm o poder) de fazer o que lhes dê na telha com a maioria dos seres humanos?
Bem entendido, não se trata aqui, como em Aristóteles, de escravos verdadeiros, que estão excluídos, como sujeito e objeto filosófico, por serem escravos. Pelo contrário, uma das características dos “inferiores”, daqueles que têm uma “moral de escravos”, é que não se comportam como escravos. Reduzi-los a essa condição é, precisamente, a proposição central de Nietzsche.
Alguns nietzscheanos, senão todos, poderiam dizer que não foi isso que seu profeta quis dizer. Bem, quando se é obrigado a recorrer a esse tipo de argumento (tão comum, por exemplo, entre os lacanianos), deixa de existir qualquer possibilidade de discussão. Aliás, parece que o objetivo é este.
No caso de Nietzsche, não existe apenas a prova teórica, constituída pelo que escreveu. Há também a prova prática, dolorosa e sangrenta, que vai do incêndio do Reichstag até Auschwitz e aos “Einsatzgruppen” (os esquadrões da morte das SS, durante a invasão da URSS) – para mostrar que essa ética é, exatamente, nenhuma.
Certamente, fazer do “desejo de poder” (ou “vontade de poder” ou “vontade de potência”) a base de uma moral “além do bem e do mal”, é a negação de qualquer moral, assim como de qualquer humanidade.
Pela simples e pedestre razão de que nenhuma moral e nenhuma ética pode estar acima “do bem e do mal”, pois somente os limites destes é que tornam possível qualquer ética ou moral. Ou, dito de outra forma: a ética expressa os limites entre o bem e o mal em uma determinada sociedade, em uma determinada civilização. É, aliás, nesse sentido, um termômetro do grau de civilização – do grau de humanidade – a que uma sociedade chegou.
Nietzsche estava, portanto, aquém do humano, quando pretendia estar além.
Por exemplo:
Pelo super-homem almeja o meu coração, é ele o meu primeiro e único anseio — e não o homem: não o próximo, não o mais pobre, não o mais sofredor, não o melhor.
O que posso amar no homem, ó meus irmãos, é que ele é uma transição e um ocaso (v. F. Nietzsche, “Assim falou Zaratustra”, trad. Mário da Silva, Civ. Bras., 13ª edição, p. 335).
Em que sentido é esse “ocaso”, pode ser inferido no trecho, que já citamos acima, do mesmo livro (“Onde encontrei vida, encontrei vontade de poder, etc.“). Ou, ainda mais explicitamente:
“Onde há vida também há vontade: mas não vontade de vida, senão — é o que te ensino — vontade de poder!
“Muitas coisas o ser vivo avalia, mais alto do que a própria vida; mas, através mesmo da avaliação, o que fala é — a vontade de poder!” (idem, p. 146).
O poder é, evidentemente, o poder de submeter outros seres humanos, logo, o poder de desumanizar – tanto “senhores” quanto “escravos” – pois a dominação e a submissão implicam sempre em negar que exista uma essência humana comum, portanto, no limite, em negar qualquer essência humana, inclusive em si próprio, inclusive no dominador. Outra vez, sobre isso, os nazistas são um exemplo terrivelmente esclarecedor.
Como é (e era) inevitável, essa concepção do “além do humano” conduz à sacralização dos “homens superiores” e de seu domínio sobre os “homens inferiores” – que são, claro, o povo, em especial, os trabalhadores:
“Aprendei isto de mim, ó homens superiores: na praça do mercado, ninguém acredita em homens superiores. E, se quiserdes discursar por lá, pois não, à vontade. Mas a plebe piscará o olho: ‘Somos todos iguais’.
“‘Ó homens superiores’ — assim piscará o olho a plebe —, ‘não há homens superiores, somos todos iguais, um homem é um homem: diante de Deus — somos todos iguais!’
“Diante de Deus! — Agora, porém, esse Deus morreu. Mas, diante da plebe, nós não queremos ser iguais. Ó homens superiores, ide embora da praça do mercado!” (idem, p. 334).
Aqui, é a ética do cristianismo – e, especificamente, o seu aspecto mais progressista – que Nietzsche quer matar com sua proclamação da “morte de Deus” (e não apenas a ética do cristianismo; como notou Malcom X, o aspecto “igualitário”, que não admite a superioridade intrínseca de alguns homens sobre outros, pois todos foram criados igualmente por Deus, é também um componente da ética do islamismo).

Nietzsche não está contra todos os deuses, mas contra uma específica concepção de Deus, exatamente aquela concepção em que Feuerbach enxergou a projeção do humano:
“A consciência de Deus é a consciência que o homem tem de si mesmo, o conhecimento de Deus é o conhecimento que o homem tem de si mesmo. (…) O que para o homem é Deus, é o seu próprio espírito, a sua alma, e o que para o homem é o seu espírito, a sua alma, o seu coração, isso é o seu Deus: Deus é o [seu] interior revelado, o si-mesmo do homem expresso fora de si mesmo, a religião é o desvendamento dos tesouros escondidos do homem, a confissão dos seus pensamentos mais íntimos, a proclamação pública dos seus segredos de amor” (L. Feuerbach, “A Essência do Cristianismo”, Cap. II, “A essência da religião em geral”, grifo do autor).
É esse Deus, que é uma condensação do humano – e, como disse Gorky, em geral das melhores qualidades humanas – que Nietzsche quer matar.
E para quê?
Diante de Deus! — Agora, porém, esse Deus morreu! Esse Deus, ó homens superiores, era o vosso maior perigo.
Somente desde que ele jaz no túmulo, vós ressuscitastes. Somente agora chega o grande meio-dia, somente agora o homem superior se torna — o senhor! (F. Nietzsche, op. cit., p. 334, grifos nossos).
(CONTINUA)
Matérias relacionadas:
http://https://horadopovo.com.br/wp-content/uploads/2023/07/Batmovel-1.jpg.org.br/a-debacle-da-pseudo-esquerda-e-o-renascer-da-humanidade-1/
http://https://horadopovo.com.br/wp-content/uploads/2023/07/Batmovel-1.jpg.org.br/a-debacle-da-pseudo-esquerda-e-o-renascer-da-humanidade-2/
http://https://horadopovo.com.br/wp-content/uploads/2023/07/Batmovel-1.jpg.org.br/a-debacle-da-pseudo-esquerda-e-o-renascer-da-humanidade-3/
http://https://horadopovo.com.br/wp-content/uploads/2023/07/Batmovel-1.jpg.org.br/a-debacle-da-pseudo-esquerda-e-o-renascer-da-humanidade-4/
http://https://horadopovo.com.br/wp-content/uploads/2023/07/Batmovel-1.jpg.org.br/a-debacle-da-pseudo-esquerda-e-o-renascer-da-humanidade-5/