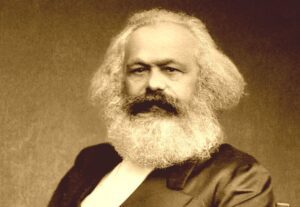CARLOS LOPES
Quando Jorge Amado faleceu, em 2001, escrevi um longo obituário, para a HORA DO POVO, onde ressaltava que, com os seus romances, finalmente o povo adentrara na literatura brasileira.
Fora um combate acirrado, desde a época de Alencar, a quem o próprio Amado se referira em seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras. Mas, enfim, com os romances da década de 30, e com Jorge Amado, o povo estava em nossos livros.
Essa era, que eu me lembre, a única novidade daquele meu texto – e não estou certo, longe disso, que tenha sido pioneiro nessa constatação, ou seja, não estou certo de que fosse uma novidade. Mas acho que vale – porque tem algum valor – a menção.
Resta esmiuçar em que sentido essa afirmação é verdadeira.
Pode-se dizer que o povo esteja presente nos romances e contos de Machado de Assis, Aluísio Azevedo, Lima Barreto, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, José Américo de Almeida, Rachel de Queirós, Graciliano Ramos, José Lins do Rego?
Sem dúvida, em maior ou menor medida, ele está presente nos livros desses escritores.
Mas não como protagonista.
A que povo estamos nos referindo?
A essa mistura mestiça (perdoe-nos o termo, algo pleonástico, leitor) que é o povo brasileiro. A essa negrada – como diria nosso saudoso amigo Eduardo de Oliveira – que habita o Brasil.
Jorge Amado é o primeiro autor a colocar esse povo – isto é, nós – na grande literatura, como protagonistas. Sem os seus romances, nós não teríamos uma arte e uma cultura a nos refletir, a nos espelhar. Talvez existam manifestações musicais que vieram antes, mas não manifestações literárias.
Tiremos algumas dúvidas sobre essa formulação.
Tomemos o exemplo de Graciliano. Em seus três primeiros livros – Caetés, São Bernardo e Angústia – o povo existe, mas os protagonistas (João Valério, Paulo Honório e Luís da Silva) não são típicos do povo brasileiro. Pelo contrário, são atípicos.
O protagonista de Graciliano que mais se aproxima do povo é o Fabiano, de Vidas Secas. Mas é interessante que, nesse livro, Graciliano tenha trocado a primeira pessoa pela terceira pessoa – a narrativa é “distanciada”, exceto no capítulo/conto em que o protagonista é um animal, a cachorra Baleia. A cadela é tão humana quanto Fabiano e a família são animais.
Nada disso, ou coisa semelhante, existe em Jorge Amado. Nem mesmo em A Morte e a Morte de Quincas Berro d’Água, cujo protagonista é um cadáver. Lá, o povo aparece, recriado literariamente, tal como o vemos e sentimos.
Após seu primeiro romance – O País do Carnaval (1931) -, uma obra fraca, em que o personagem principal, Paulo Rigger, é um intelectual, filho de um plantador de cacau, que resiste à mestiçagem brasileira, Jorge Amado vai em direção ao romance proletário da época.
Como contou a Alice Raillard, “nos anos 28-29 fiz a campanha de Getúlio Vargas – que preparava a Revolução de 1930 – e trabalhei num jornal fundado para sustentar a Aliança, O Jornal” (Alice Raillard, Conversando com Jorge Amado, trad. Annie Dymetman, Record, 1990, p. 34).
Nesse mesmo livro de entrevistas, Jorge Amado faz um julgamento muito preciso sobre o seu primeiro livro:
“O País do Carnaval é o livro de um jovem de dezoito anos. Era a idade que eu tinha quando o escrevi. E todo o pessimismo que transparece neste romance é totalmente artificial. É uma atitude exclusivamente literária, ingenuamente literária. É uma máscara, uma roupa emprestada – um pouco como se vestíssemos uma capa de chuva num dia de sol porque achamos que o efeito é bonito” (idem, pp. 45-46).
“… o Paulo Rigger de O País do Carnaval é, de todos os heróis dos meus romances, aquele em que eu menos me projeto, o que me é mais estranho. É uma exceção, porque creio que em todos os meus outros livros meus personagens, meus heróis sempre têm algo a ver comigo” (idem, p. 47).
Com efeito, o romance seguinte, Cacau (1933), seria um salto de qualidade. A polêmica que causou, parece hoje quase incompreensível, devido às dimensões da obra – não fosse o ambiente de luta política da década de 30, especialmente do ano em que foi lançado, o mesmo em que o nazismo subiu ao poder na Alemanha.
A luta política começa pela epígrafe do romance, que, no entanto, é vazada em tom tranquilo:
“Tentei contar neste livro, com um mínimo de literatura para um máximo de honestidade, a vida dos trabalhadores das fazendas de cacau do sul da Bahia.
“Será um romance proletário?
“J. A.
“Rio, 1933.”
Luís Bueno, em Uma História do Romance de 30 (EDUSP, 2006), ao abordar a polêmica que se seguiu à publicação de Cacau, em especial os ataques da direita ao livro de Jorge Amado (inclusive o artigo de Manuel Bandeira, mais inteligente que a maioria), está certo ao enfatizar que a verossimilhança do narrador (e protagonista) é um elemento irrelevante. O que importa, mesmo, é o estabelecimento de uma nova forma romanesca no Brasil. Quais as bases dessa nova forma, veremos mais adiante.
Por enquanto, basta dizer que essa nova forma continuou no romance seguinte de Jorge Amado, Suor (1934), desta vez um romance urbano, passado principalmente na Ladeira do Pelourinho, em Salvador, em meio à miséria, ao lúmpen, às lutas operárias e à repressão ao povo.
“Fazer um romance proletário era, evidentemente, pura pretensão da minha parte. A consciência proletária ainda estava em formação num país que apenas começava a se industrializar e onde não existia, propriamente, uma classe operária; o que havia era o trabalhador manual – e, neste ponto, a descrição da vida dos trabalhadores rurais é o que torna Cacau muito real; embora seja absolutamente idealista, do ponto de vista ideológico, a tentativa de aproximação entre os intelectuais e o proletariado ao qual corresponde o herói do livro” (cf. Alice Raillard, op. cit., p. 55).
E, sobre o papel de Cacau e Suor no conjunto da sua obra:
“Hoje, se considero as fontes de minha obra, vejo duas: uma fonte inicial encontra-se em Cacau e desemboca em toda a parte rural da obra, que está principalmente ligada à região do cacau. Em O País do Carnaval, já se encontram alguns dos elementos da parte citadina, que é a Bahia, a outra fonte; alguns elementos já estão lá, o Pelourinho – o livro se desenrola, em parte, no Pelourinho, ele está lá, eu vivia lá -, mas trata-se principalmente de um ambiente; é Suor que, depois, marca de fato o começo. Os dois livros que marcam as duas matrizes são Cacau e Suor. São dois cadernos de um aprendiz de romancista” (idem, pp. 56-57).
O livro seguinte, Jubiabá (1935), seria outra virada na obra de Jorge Amado. Como já examinamos esse romance com alguma extensão em texto anterior, vejamos, antes, as origens estéticas e políticas da obra de Jorge Amado – e, de resto, dos romancistas do Nordeste (v. HP 21/09/2023, Observações sobre o racismo; v. também, HP, 31/05/2022, A Semana de 1922, a literatura nacional e a revolução brasileira).
No livro que citamos, Luís Bueno faz algumas observações interessantes sobre Cacau e, de resto, sobre a obra de Jorge Amado:
“… Se olhamos a recepção que o livro tem tido, o que vemos é isso: ou elogios rasgados ou uma demolição radical.
“No campo dos elogios, basta dar uma rápida olhada na crítica do período. Vários dos artigos escritos por Edison Carneiro, Dias da Costa, o próprio Alberto Passos Guimarães, publicados no Boletim de Ariel e em Literatura são francamente positivos. O mesmo acontece com a crítica de Agripino Grieco. No sentido contrário, temos uma célebre crônica de Manuel Bandeira, mais o artigo de Marques Rebelo – que um pouco antes considerara O País do Carnaval o melhor romance de 1931 – e a violenta reação de Octávio de Faria.
“Posteriormente, no entanto, a crítica universitária se empenhou bastante para cristalizar a visão de que o romance é ruim – lembrem-se Luiz Costa Lima, em sua colaboração para A Literatura no Brasil, e Alfredo Bosi na História Concisa da Literatura Brasileira, que desautoriza a obra toda de Jorge Amado, quase sem comentários”.
Bueno, pelo contrário, analisa Cacau e a obra de Jorge Amado, levando em consideração a sua intencionalidade:
“Entender claramente que o que orienta o projeto de Cacau é sua intenção doutrinária pode dar um pouco mais de clareza a uma tentativa de, mais que julgar, compreender o romance. Ora, propaganda é discurso de convencimento, seu objetivo é atingir diretamente aquele que se expõe a ela. Nesse sentido, a lógica do romance pensado como propaganda passa muito mais pela retórica do que propriamente pela verossimilhança em seu sentido mais estrito, de possibilidades semelhantes às da realidade factual. Dizendo de outro jeito, um romance como Cacau, uma vez que construído sob a égide da propaganda, instaura uma rede específica de causalidades, estabelece uma outra verossimilhança, de validade puramente interna. Mal comparando, trata-se de uma espécie de ‘discurso engenhoso’, no sentido que Antônio José Saraiva o define ao tratar de Vieira, que engendra um padrão lógico que lhe é próprio”.
E, mais adiante:
“Trata-se de propaganda. Na luta de classes só há dois lados, o do capital e o do trabalho. Se se está de um lado, não se pode estar do outro. Nada mais natural, então, para tornar mais exemplares e claras as situações, que o contraste seja forte e que não haja qualquer forma de matização. Até mesmo o repisar de certas características é importante, pois dá ênfase ao claro-escuro”.
Apesar disso, que nos parece claro, não existe, provavelmente, algo mais irritante na história literária do que aquelas tarjas e falsos lugares-comuns: “Jorge Amado, escritor da segunda fase do modernismo, etc.”.
Já abordamos esta questão no texto sobre a Semana de Arte Moderna que citamos acima. Desde os srs. João Luís Lafetá e Sérgio Milliet, a maior parte da crítica acadêmica divide a literatura brasileira em pré-modernista, modernista e pós-modernista, ou em antecessores dos modernistas, primeira geração do modernismo, segunda geração, etc., como se tudo na literatura fosse uma derivação ou antecipação do modernismo.
Com isso, até antimodernistas abertos, como Graciliano Ramos e José Lins do Rego, transformam-se em modernistas (v., além do nosso texto citado acima, Thiago Mio Salla e Ieda Lebensztayn (orgs.), O Antimodernista: Graciliano Ramos e 1922, Record, 2022).
Ainda não analisamos essa questão no que se refere, especificamente, a Jorge Amado. O resultado não será, com certeza, muito diferente daquele constatado em relação a Graciliano e a José Lins do Rego, mas a verdade é que Jorge Amado fez uma colocação ainda mais geral que a desses outros grandes escritores, do ponto de vista histórico.
“Não nos pretendíamos modernistas, mas sim modernos; lutávamos por uma literatura brasileira que, sendo brasileira, tivesse um caráter universal; uma literatura inserida no momento histórico em que vivíamos e que se inspirava em nossa realidade, a fim de transformá-la” (Alice Raillard, op. cit., p. 36).
“Nada tínhamos a ver com o modernismo, nossa geração não sofreu qualquer influência do modernismo – um movimento regional de São Paulo que teve pequena influência no Rio e quase nenhuma no resto do país, e pequeníssima no Rio Grande do Sul…” (idem, pp. 52-53).
“No outro dia, eu lia um depoimento de Rachel de Queiroz sobre esta questão, que ia exatamente na mesma direção. Ela dizia que o que foi decisivo para nós foi a Revolução de 1930, que representava um interesse pela realidade brasileira que o modernismo não tinha, e um conhecimento do povo que nós tínhamos, e que os escritores do modernismo absolutamente não tinham” (p. 53).
E, sobre o modernismo em geral:
“Se você estuda o modernismo, vê que é um movimento de classe que nasce na órbita dos grandes proprietários do café. Formalmente, o modernismo no Brasil é uma transposição dos movimentos que surgiram na Europa depois da Primeira Guerra – cubismo, dadaísmo, surrealismo… Estes movimentos influenciaram os jovens paulistas da alta burguesia: Oswald de Andrade, filho de um grande fazendeiro, muito rico, Antonio de Alcântara Machado – todos; e aqueles que não eram ricos eram protegidos dos ricos, como foi o caso de Mário de Andrade, protegido por aquela riquíssima senhora de São Paulo, Dona Olívia Penteado, a grande dama do modernismo – foi ela quem o levou para a famosa viagem à Amazônia. O modernismo foi patrocinado pelos homens ricos de São Paulo, como Paulo Prado, autor de Retrato do Brasil” (p. 57).
Sobre as relações entre a ditadura e o modernismo, ele faz uma observação também feita por Franklin de Oliveira em seu livro sobre a Semana de 22, citado por nós no texto acima:
“… o cinquentenário do modernismo, da ‘Semana de 1922’, que se tornou a data de marco, foi comemorado pelo governo da ditadura militar, oficialmente comemorado, como se a dita revolução de 64 – que não foi uma revolução, mas um golpe de Estado – tivesse vindo ideologicamente do modernismo. O governo colocado pelo golpe de Estado de 64 reivindicava muito o modernismo. Apropriou-se dele e o colocou na frente, como que para esconder o movimento literário que surgiu com a Revolução de 1930” (pp. 58-59).
Se houvesse alguma dúvida sobre essa relação, Jubiabá e os romances subsequentes (Mar Morto e Capitães da Areia, mas também os livros das décadas seguintes) seriam mais do que suficientes para dirimi-la.
O que Jubiabá (1935), Mar Morto (1936) e Capitães da Areia (1937) têm a ver com o modernismo de 22?
Nada.
Além disso, há nesses livros o desenvolvimento do herói, ao contrário de Cacau e Suor, em que a figura do herói é embrionária ou incipiente.
Trata-se do herói popular – do povo como protagonista. Algo que nada tem a ver com a estética do modernismo, veja-se as Memórias Sentimentais de João Miramar (1924), de Oswald de Andrade, ou o Macunaíma (1928), de Mário de Andrade.
O próprio Jorge Amado percebe a sua originalidade como romancista:
“Desde o início, sempre tratei em meus livros de uma coletividade. A figura do personagem que se destaca não é tratada como um herói individual, isolado; ele está sempre envolvido por uma massa de personagens secundários, e por uma coletividade. Eu diria que neste romance [Jubiabá], como nos dois outros que vieram em seguida [Mar Morto e Capitães da Areia], é colocada uma série de problemas sociais e políticos importantes da realidade brasileira. Mas, fundamentalmente, há dois outros que me parecem mais significativos. O primeiro de todos é a questão da luta contra o preconceito racial e a afirmação da condição mestiça de nossa nacionalidade” (p. 156).
Antônio Balduíno, o negro Baldo, de Jubiabá, é o herói coletivo do povo brasileiro. Aquilo que Jorge Amado não conseguira no Sergipano, de Cacau, ou no Álvaro Lima, de Suor, conseguiu no protagonista de Jubiabá.
Graciliano Ramos, em magnífico artigo sobre Suor, escrito no ano de 1935, apontara o problema do autor baiano, em seus começos, antes de Jubiabá:
“O Sr. Jorge Amado tem dito várias vezes que o romance moderno vai suprimir o personagem, matar o indivíduo. O que interessa é o grupo — uma cidade inteira, um colégio, uma fábrica, um engenho de açúcar. Se isso fosse verdade, os romancistas ficariam em grande atrapalhação. Toda a análise introspectiva desapareceria. A obra ganharia em superfície, perderia em profundidade” (cf. Graciliano Ramos, Linhas Tortas, 13ª ed., Record, 1986, p. 95).
Em Jubiabá, essa concepção – e esse problema – que tem muito pouco a ver com o romance proletário ou socialista, é superado.
Antônio Balduíno é um herói, um protagonista pleno, como são os heróis de Gorky.
Mas a sua especificidade popular e racial é, naturalmente, única e característica. Baldo não poderia ter nascido em alguma parte do mundo, exceto no Brasil.
A esse herói, corresponde uma concepção do autor – e do país – sobre a nacionalidade. Nas palavras de Jorge Amado:
“Há hoje uma especificidade brasileira, uma identidade brasileira no candomblé e naquilo que nasce do candomblé. Aqui a origem africana se mistura e adquire uma identidade brasileira. Exatamente a mesma coisa acontece com os grupos negros, os grupos afro-brasileiros e todos os movimentos desse tipo. Pessoalmente, considero que todos eles são extremamente positivos, desde que representem uma afirmação dos bens trazidos pelos negros à cultura brasileira. Eles só se tornam negativos quando se opõem à identidade brasileira. Mas, quando eles querem a todo custo ser africanos, esta é a meu ver uma forma de racismo. Mas isto não me preocupa demasiado, pois é algo superficial, visto que a realidade é muito mais forte. E a realidade é o sincretismo no patrimônio cultural e religioso, e é a mistura de raças. E cada vez mais. Não há no Brasil nenhuma tendência que impeça a mistura de raças, mesmo entre aqueles que defendem ao máximo a pureza do sangue africano – e que geralmente são casados com brancas, ou até com estrangeiras brancas!…
“Tudo isto é um pouco como confundir a luta contra o antissemitismo com o sionismo. O sionismo é racista. É inútil reunir judeus e não-judeus e declarar que o sionismo não é racista; ele o é, digam o que disserem. O sionismo parte de um sectarismo religioso e social – a recusa do casamento entre judeus e não-judeus -, é de um sectarismo terrível, que leva ao racismo. Nos Estados Unidos, por exemplo, de vez em quando vemos tomadas de posição política que são absolutamente racistas em relação aos árabes: é o sionismo. Isto não quer dizer que não devamos lutar contra o antissemitismo, contra a discriminação, contra as ideias racistas de todos os tipos. Mas daí a ser sionista é outra coisa. Não devemos cair num racismo às avessas” (p. 93).
Esse aprofundamento étnico (se assim podemos nos expressar, pois é o aprofundamento da própria cultura nacional, miscigenada, mestiça, misturada) continua, em novo patamar, após Jubiabá, nos livros imediatamente posteriores de Jorge Amado, a começar pelo Guma, de Mar Morto, e pelo Pedro Bala, de Capitães da Areia, e nos outros: é forçoso lembrar, até o final da vida de Jorge Amado, em personagens tão inesquecíveis quanto Quincas Berro d’Água, Gabriela, Dona Flor, Pedro Archanjo, Tereza Batista.
Como ele escreveu ao final de Capitães da Areia:
“Anos depois os jornais de classe, pequenos jornais, dos quais vários não tinham existência legal e se imprimiam em tipografias clandestinas, jornais que circulavam nas fábricas, passados de mão em mão, e que eram lidos à luz de fifós, publicavam sempre notícias sobre um militante proletário, o camarada Pedro Bala, que estava perseguido pela polícia de cinco estados como organizador de greves, como dirigente de partidos ilegais, como perigoso inimigo da ordem estabelecida.
“No ano em que todas as bocas foram impedidas de falar, no ano que foi todo ele uma noite de terror, esses jornais únicas bocas que ainda falavam clamavam pela liberdade de Pedro Bala, líder da sua classe, que se encontrava preso numa colônia.
“E, no dia em que ele fugiu, em inúmeros lares, na hora pobre do jantar, rostos se iluminaram ao saber da notícia. E, apesar de que fora era o terror, qualquer daqueles lares era um lar que se abriria para Pedro Bala, fugitivo da polícia. Porque a revolução é uma pátria e uma família”.