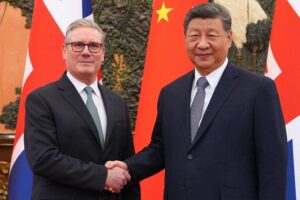[O texto que transcrevemos abaixo serviu de base à palestra do autor, proferida na União Municipal dos Estudantes Secundaristas (UMES) de São Paulo e promovida pelo Congresso Nacional Afro-Brasileiro (CNAB), na passagem do Dia da Consciência Negra.]
CARLOS LOPES
Agradeço o convite do CNAB, sobretudo do seu presidente, Alfredo Oliveira Neto.
Estive com o professor Eduardo de Oliveira na fundação do CNAB, inclusive quando ouvimos a sugestão de Cláudio Campos, de quem partiu a ideia inicial.
Muitos de nós convivemos com o professor Eduardo – e todos os que conviveram com ele têm histórias maravilhosas que presenciaram e poderiam contar. No meu caso, frequentávamos nossas casas – ele, a minha; eu, a dele. Meus filhos sempre tiveram uma relação terna com ele, assim como a minha mulher.
A pedido do professor, escrevi as teses para os congressos do CNAB – e me orgulho muito disso, embora, infelizmente, não conservei os textos.
Meu assunto, hoje, é o racismo, sobre o qual publiquei, recentemente um texto razoavelmente longo (v. HP 21/09/2023, Observações sobre o racismo).
Não pretendo, agora, repetir ipsis litteris o que está nesse texto. Muitos de vocês já o leram e aqueles que não o fizeram podem consultar Observações sobre o racismo no site da Hora do Povo.
Permitam-me apenas algumas considerações que proporcionem um arranque para a nossa discussão – inclusive para a possível discordância.
O racismo surge na relação entre povos, ou tribos, ou classes diferentes – evidentemente, com o objetivo de domínio. Por isso é tão inútil e tão errado reportá-lo a uma “estrutura” que é apenas a representação teórica do que é o igual e o mesmo. O racismo não é um problema exclusivamente “interno” ou de origem apenas interna, ainda que possa ser, a partir da subordinação externa, internalizado. É o caso, por exemplo, e evidentemente, do racismo inoculado nas populações periféricas pelo colonialismo – tal como retratado e denunciado pelos martinicanos Aimé Césaire (v. o seu Discurso sobre o colonialismo, e, também, Cahier d’un retour au pays natal) e Frantz Fanon (v. Pele Negra, Máscaras Brancas; Os Condenados da Terra; e Em Defesa da Revolução Africana).
Porém, na análise dessa questão, é preciso separar escravidão de racismo. Não tenho dúvida – como ninguém tem – de que em nosso país o racismo tem relação direta com a escravidão, com o nosso passado escravista.
Mas escravidão e racismo não são a mesma coisa. Essa confusão somente serviria para nos levar a aplicar ao racismo aquilo que é próprio da escravidão – e, portanto, aliviar o racismo como forma de discriminação de uma pequena parte da população contra a maioria do povo, em prol de um modo de produção, que tem uma lógica econômica própria.
Porém, mesmo na época da escravidão, nós temos a obrigação de explicar porque se destacaram tantos negros ilustres no Brasil.
Tomemos o grande engenheiro e geólogo Teodoro Sampaio, baiano, mas hoje nome de uma das principais ruas de São Paulo, patrono de dois municípios e principal influência brasileira de Euclides da Cunha. Filho de uma escrava e de um padre, Teodoro comprou a alforria dos irmãos. Ele mesmo, nunca foi escravo. Mas foi um dos maiores pensadores e eruditos brasileiros do seu tempo (v., para uma breve visão de Teodoro, HP 13/11/2015, Teodoro Sampaio e as recordações sobre o amigo Euclides da Cunha).
Peguemos outro negro, Juliano Moreira, patrono da psiquiatria nacional e introdutor da psicanálise no Brasil. Juliano, apesar de pobre, entrou para a faculdade de medicina da Bahia aos 14 anos – e se notabilizou, entre outros feitos, pelo combate ao racismo dentro da psiquiatria, inclusive em congressos internacionais (v. HP 27/01/2016, O manicômio antimanicomial e o espírito de Juliano Moreira).
Vejamos o senador Montezuma (Francisco Jê Acaiaba Montezuma), herói da Guerra de Independência, membro eminente do partido dos Andradas, Visconde de Jequitinhonha, ministro do Império, opositor de Pedro II na política platina e defensor da abolição da escravatura (v. HP 27/08/2022, Os Andradas e outros heróis da Independência do Brasil).
Todos eles eram negros – nem se pode dizer que fossem mulatos.
Assim como o maior escritor da época, Machado de Assis, assim como Luiz Gama, José do Patrocínio e outros mais conhecidos.
Como é possível que, em uma sociedade escravista, e uma sociedade em que o escravo era negro, tantos negros tenham se destacado?
Na verdade, algo que distingue o Brasil como formação histórica e social, é que, desde pelo menos o século XVII, houve um sensível contingente de negros que não eram escravos entre a população. As tropas comandadas por Henrique Dias contra os holandeses faziam parte desse contingente. Os dignitários africanos e suas tribos, que, segundo a História do Brasil, de Handelmann, foram trazidos pelos portugueses ao nosso país depois da invasão de Angola pelos holandeses, também.
Os países têm diferentes trajetórias históricas. A trajetória histórica do Brasil não é a mesma da África do Sul ou a mesma dos Estados Unidos. Portanto, também o racismo não é o mesmo no Brasil, na África do Sul ou nos EUA.
Entretanto, aqui estamos diante de um importante problema de luta ideológica, isto é, de submissão ou de altivez diante do imperialismo.
Trata-se, se eu posso me expressar desse jeito vulgar, do famoso “complexo de vira-latas” em suas mais variadas formas.
Um dos modos em que ele se manifesta é o de rebaixar a nossa História – e, portanto, o nosso país – porque ele foi construído pela escravidão, pela mão de obra escrava.
Realmente, nosso país foi construído pelo que Nelson Werneck Sodré chamou de “transplantação”. Em suma, os brancos e os negros vieram de fora. Somente os indígenas, que foram importantes em várias regiões do Brasil, pela mestiçagem, já estavam aqui.
O signo da nossa formação, como apontaram vários pensadores, foi a miscigenação. Sem esta, sem a mestiçagem, teria sido impossível a formação do Brasil.
Assim, Joaquim Nabuco estava plenamente justificado quando escreveu que a “raça negra” nos deu um povo. Sem ela, o povo brasileiro não existiria.
Isto se verificou não apenas através da escravidão, mas também através da mestiçagem de negros e brancos livres, assim como de indígenas.
Examinemos, no entanto, a questão específica do escravismo.
Existe alguma sociedade humana que não tenha, historicamente, base no escravismo?
A civilização grega e a civilização romana eram civilizações escravistas.
Então, por que somente nós temos que nos sentir rebaixados, porque nossa sociedade foi construída pelo escravismo?
Ou, formulando a questão de outra maneira: por que os negros, em nosso país, têm de se sentir humilhados e ofendidos porque seus antepassados foram escravos transportados, em navios negreiros, da África?
Infelizmente, há quem se sinta tão rebaixado por essa condição de seus antepassados, que até propõem uma nada original forma de ocultação semântica: substituir a palavra escravo por “escravizado”.
Mas em que isso modifica o caráter do escravismo?
Em nada, assim como em nada modifica a obra de Castro Alves chamá-lo de “poeta dos escravizados” ao invés de poeta dos escravos. Apenas torna o cognome mais ridículo.
Na verdade, esse tipo de identitarismo, ao invés de combater o racismo, o torna mais arraigado ainda, ao enfatizar o termo que quer evitar.
Pois devemos nos orgulhar da obra de nossos antepassados – assim como nos orgulharmos da obra que realizamos depois da Abolição e atualmente.
Nós construímos o Brasil. Devemos, portanto, tomar posse dele, como nossa obra. Aqueles negros ilustres que citamos são alguns dos faróis na edificação do nosso país.
É óbvio que qualquer categoria, qualquer ideologia, que pretenda a divisão do povo brasileiro, é altamente perniciosa à sua trajetória.
No Brasil, ao contrário de outros países, nós, os negros, somos maioria da população. Interessa ao imperialismo e à subordinação que quer impor ao país, que essa maioria da população esteja esmagada, pois assim é mais fácil impor a opressão sobre a nossa nação.
Este é o papel do racismo, um papel essencialmente político.
Supostos conceitos, tipo “racismo estrutural”, que pretende transferir o problema para a órbita econômica, como se o racismo fizesse parte das relações de produção capitalistas (isto é, não-escravagistas), ou aberrações como o escandaloso “lugar de fala”, que impedem – ou pretendem impedir – que a luta contra o racismo se generalize, escamoteiam o papel político do racismo, e, portanto, abafam a luta contra a subordinação ao imperialismo.
Além disso, quando se fala em “racismo estrutural”, estamos tratando-o como um problema exclusivamente interno, na medida em que é parte da “estrutura” do país, portanto, é componente do país e não de sua relação com o exterior, com a potência dominante.
O erro e descaminho nos parece claro: a luta contra o racismo é também a luta pela libertação nacional, a luta pelo rompimento das amarras de subordinação ao imperialismo. Não é possível libertação nacional com a conservação do racismo, assim como não é possível o fim do racismo sem a libertação nacional.
É preciso unir o povo – isto é, a população brasileira – para conquistar nossa soberania nacional plena. O combate ao racismo que divide ainda hoje a população brasileira, é, portanto, um imperativo político.
Daí a nocividade do identitarismo – e aqui nos referimos especificamente ao identitarismo, multiculturalismo, pós-modernismo (ou lá que nome tenha) no movimento negro.
No texto que citamos, Observações sobre o racismo, apontamos que o identitarismo é, na verdade, a recusa de uma identidade maior, em prol de uma identidade menor e mesquinha.
Resumidamente, o identitário recusa a identidade nacional, pois acredita – ou finge acreditar – que esta a dilui enquanto negro, para aceitar um nicho, exatamente uma suposta identidade enquanto negro.
Trata-se de um engano, pois os negros, como construtores do Brasil, só adquirem significação enquanto negros, dentro da identidade nacional que edificaram.
Foi essa a lição da vida, dos escritos e da ação de Luiz Gama e seus companheiros.
Entrando em outra questão polêmica, que já mencionamos: o Brasil é um país capitalista, ainda que dependente; portanto, nele existe, como predominante, o modo de produção capitalista – e o principal aspecto das relações de produção capitalistas vigentes no país é a dependência em relação às relações de produção da metrópole.
Portanto, o que podemos chamar de “estrutural” dentro do país são as classes sociais oriundas dessas relações.
O racismo tem origem, assim como na relação colonial, nas relações entre essas classes – como é, aliás, o argumento de Jorge Amado, em Jubiabá.
Transportar o racismo para a estrutura econômica pura e simplesmente, somente faz com que ele adquira uma aparente solidez, uma aparente fixidez, que ele não tem.
E não tinha já na época da escravidão, onde, evidentemente, era um inevitável componente da estrutura econômica, pois não é possível escravizar outro ser humano sem considerá-lo inferior.
Entretanto, é possível a existência do racismo sem escravidão nos termos que nós a conhecemos. Muitos autores têm levantado as relações entre ingleses e irlandeses, desde o século XVII, como um exemplo. Como vocês sabem, os irlandeses, que são celtas, foram dominados pelos ingleses, anglo-saxões, até o século XX. Ambos os povos são brancos e não poderiam ser mais brancos. No entanto, o racismo dos ingleses em relação aos irlandeses foi ostensivo.
No caso do Brasil, apesar da escravidão ser negra – isto é, o escravo ser africano até 1850, quando o tráfico transatlântico efetivamente terminou – existiram negros livres em posição de destaque na sociedade e a mestiçagem, nas palavras de Caio Prado Júnior, formou o país.
Não pretendo voltar a examinar, aqui, a vida de um Luiz Gama. Ao invés disso, lembro o lundu, dança africana que se abrasileirou a partir do século XVIII.
Meu amigo Irapuan Santos, vice-presidente do CNAB e um dos organizadores do evento de hoje, é, aliás, um admirador de Domingos Caldas Barbosa, padre, mulato, filho de uma escrava, compositor de lundus e modinhas do século XVIII.
Pois o lundu tornou-se a dança dos salões brasileiros – dos salões de gente branca – ainda na época da escravidão.
Sempre achei interessantes, também, as menções de José de Alencar – politicamente, um escravista – ao samba em O Tronco do Ipê. Essas menções são preconceituosas, mas o fato é que ele não conseguiu deixar de mencioná-lo.
Vejamos o que aconteceu com a Abolição.
Depois de uma gigantesca migração de ex-escravos e seus descendentes, cujo centro foi a capital do país, o Rio de Janeiro, os negros conformaram as Forças Armadas (vide a Revolta da Chibata e outros levantes), a música brasileira (Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, Sinhô, Donga, Dilermando Reis, etc., etc.), inclusive entre os brancos, como Noel Rosa e João Pernambuco, e, de forma geral, a cultura nacional, inclusive a literatura posterior a 1930 (e, claro, o maravilhoso futebol que desenvolvemos).
Existe, hoje, uma intensa subestimação da importância da Abolição da Escravatura, o que, em nossa opinião, é um caso particular da subestimação da História do país – isto é, da subestimação do próprio país.
Certamente, quando o país é subestimado, outro país – a metrópole imperialista – é superestimada. Assim, existem até mesmo aqueles que advogam que o racismo no Brasil é pior que o racismo dos EUA.
Nem mesmo achamos que essa questão merece abordagem, de tão óbvia que parece ser o seu caráter. Se merecer, ela certamente aparecerá no debate.
O que sabemos é o seguinte: a Abolição causou o maior movimento social e de massas que o nosso país vira até então. Acontecimentos como o funeral de Luiz Gama, que mobilizou toda a capital paulista em 1882 – inclusive os escravistas, como notou Raul Pompeia – são raríssimos na história de qualquer país.
O movimento popular pela Abolição foi tão forte, que acabou por derrubar também a monarquia. E não é à toa que passaram a difamar também a República, rebaixada a golpe elitista, esquecendo todo o movimento abolicionista anterior, que, como Luiz Gama jamais esqueceu, era essencialmente republicano. A monarquia, escreveu José do Patrocínio, era a superestrutura da escravidão.
A subestimação da Abolição, entretanto, merece uma consideração: em geral se apela para a situação dos negros após a libertação dos escravos, para afirmar que essa liberdade foi falsa, pois redundou no desemprego e na marginalização.
Isso não é inteiramente verdade, como já demonstramos do ponto de vista cultural – e nem falamos no Carnaval. Porém, é verdade que massas de negros liberadas do trabalho escravo ficaram sem emprego.
Mas essa foi a situação do país durante a República Velha, com uma economia agrária, sob o domínio da oligarquia cafeeira, quase sem indústrias, com uma elite mais europeia que brasileira.
O racismo, durante essa época, correspondia à submissão política do país – isto é, do povo – à parcela governante interna e ao jugo externo, sobretudo das finanças inglesas.
Por essa razão, ele começa a ruir com a Revolução de 30.
O Decreto n.º 19.482, de 12 de dezembro de 1930, conhecido como Lei dos 2/3 ou Lei de Nacionalização do Trabalho, significou a integração dos trabalhadores brasileiros. Essa lei garantia dois terços das vagas aos brasileiros natos em “empresas, associações, companhias e firmas comerciais, que explorem, ou não, concessões do Governo Federal ou dos Governos Estaduais e Municipais”. Ao mesmo tempo, barrava a entrada de estrangeiros no Brasil para impedir as altas taxas de desemprego, com o objetivo de “valorizar o trabalhador brasileiro, muitas vezes, preterido ante o estrangeiro”.
Isto significou a incorporação de negros – que constituíam os trabalhadores brasileiros – ao mercado de trabalho.
Hoje, existe uma longa e volumosa literatura sobre os negros e sobre o racismo. Não pretendo me estender sobre o assunto.
Apenas, encerraria dizendo que não devemos subestimar as nossas vitórias. Mas, para isso, é necessário chamar as coisas como elas são. Não pretendemos nos isolar como negros – mas, antes de tudo, nos reconhecemos como povo brasileiro, como construtores de uma nação chamada Brasil.
Obrigado.
[O autor finalizou a palestra com sua solidariedade à Palestina e ao povo palestino, vítimas do racismo sionista. Um agradecimento especial ao amigo e companheiro Ubiraci Dantas, também vice-presidente do CNAB e vice-presidente da Central das Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), que, com seu entusiasmo pelo que escrevo, me proporcionou as condições para que, hoje, eu viesse aqui falar a vocês.]