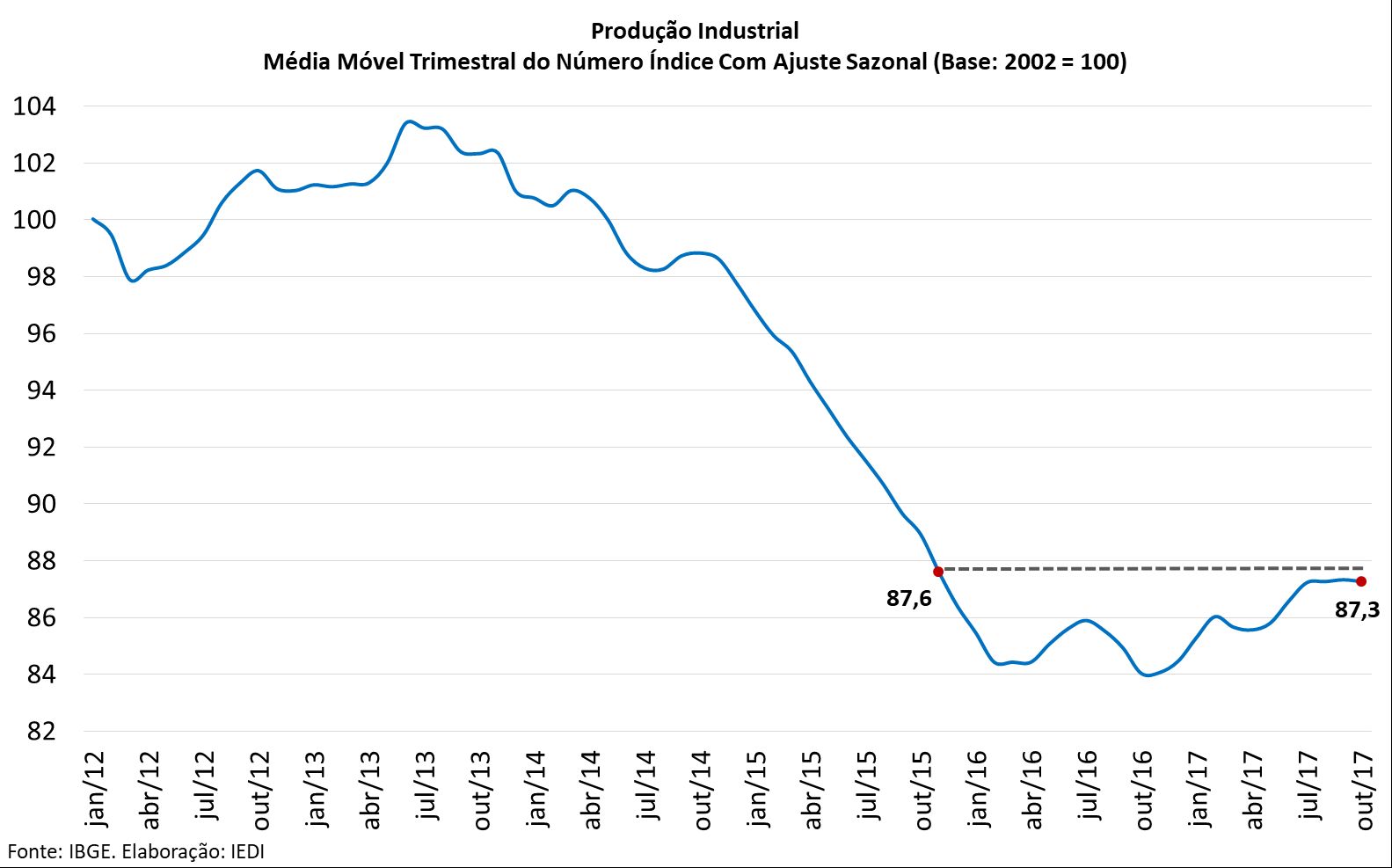CARLOS LOPES (HP, 27/11 a 04/12/2013)
Numa conferência, em agosto de 2012, o economista norte-americano Joseph Stieglitz – entre outras coisas, ainda que isso tenha importância apenas relativa, Prêmio Nobel de Economia – apontou “os bancos e setores financeiros especulativos” como responsáveis por criar uma “paranoia da inflação” com o intuito de provocar uma política de arrocho na economia dos países.
Essa conferência foi proferida na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade de Buenos Aires. Na entrevista coletiva que a sucedeu, Stieglitz observou que “a inflação não é um assunto em si mesmo”. A questão que merece preocupação “consiste nas consequências e do que acontece com o emprego, o crescimento, a distribuição de renda”.
“Quando nos dizem”, declarou o economista, “que a inflação é o imposto mais cruel, suspeitemos, pois só quando a inflação é muito alta pode afetar o crescimento de um país. A preocupação principal dos mercados financeiros nunca foi com os mais pobres” (cit. in Alfredo Zaiat, “Economía a Contra Mano“, ed. Planeta, Buenos Aires, 2012, pág. 173).
De certa forma, poderia se pensar, essa “paranoia da inflação” – ou a covardia frente a essa criação especulativa – define o problema do governo Dilma.
Em artigo recente, sublinha Amir Khair – que não pode ser acusado de anti-petista – a absurdamente escassa liquidez (ou seja, falta de dinheiro em papel-moeda ou moeda metálica) da economia brasileira, no mesmo momento em que, já há cinco anos, os países centrais, sobretudo os EUA, expandem aos trilhões a liquidez das suas economias.
“Essa inundação de moedas“, diz Khair, “desvalorizou-as em relação às moedas dos países que não usaram a mesma estratégia. Isso distorceu a concorrência internacional entre as empresas, prejudicando aquelas sediadas em países que não alteraram suas bases monetárias. Urge corrigir essa distorção e só vejo como forma eficaz nesse embate o uso da mesma arma, ou seja, a elevação da base monetária.
“Nesse sentido, o governo, ao invés de continuar a emitir títulos de dívida para cobrir o déficit fiscal, que oneram juros, deveria emitir moeda até atingir nível condizente com o que operam economias de países emergentes, que têm inflação semelhante à nossa. Trata-se de ampliar substancialmente a liquidez da economia.
Khair argumenta, muito convincentemente, com os dados do M1 (o “agregado monetário” formado pelo dinheiro em circulação + dinheiro depositado em contas-correntes). No Brasil, o M1 “oscila entre 5% a 7% do PIB. É muito baixo em comparação com os demais países. O último dado disponível é de 2010: Brasil 6,8%, Argentina e México 12%, Índia 19%, África do Sul 31% e China 60%. Na zona do euro o M1 estava em 2010 em 50% e no Japão 104%“.
Segundo o autor, “se o M1 fosse gradualmente elevado pela emissão monetária até o nível de 12% [do PIB], seriam economizados anualmente em juros R$ 23 bilhões por ano. A dívida do setor público cairia R$ 250 bilhões, levando-a abaixo de 30% do PIB, e o câmbio poderia caminhar rumo a R$ 3,00 por dólar, contribuindo para ampliar a competitividade das empresas e indo na direção do equilíbrio nas contas externas“.
Obviamente, tal alternativa deixa horrorizadas as atuais “autoridades econômicas” – e mais acima – todas com a mentalidade capturada pelo blá-blá-blá rentista-neoliberal sobre a inflação. Uma conversa, aliás, de um tédio infinito, pois não passa da repetição perpétua de grosseiros lugares-comuns, sem o menor espaço para algo que não seja a submissão dos juros altos e do arrocho geral sobre o país.
É interessante como Khair trata a questão da inflação:
“… a desvalorização cambial [consequente ao aumento de liquidez] num primeiro momento encarece os produtos importados, mas quem exporta procura estabelecer o preço levando em conta os preços praticados no mercado de destino. Com a desvalorização do real o preço do produto importado também pode ser reduzido dada a super oferta internacional com preços sendo derrubados. Assim, no momento seguinte os preços podem se acomodar não gerando inflação. A prova disso é que em 2011 o câmbio em valores de junho deste ano estava em R$ 1,83/US$ e a inflação bateu em 6,5%. Atualmente gira no entorno de R$ 2,20/US$, com desvalorização real (excluída a inflação) de 20% e a previsão da inflação é de 5,8%“.
Explicitemos que essa incrível “falta de liquidez”, em que a economia do país é mantida, serve ao propósito de manter os juros nas alturas – e, por consequência, os ganhos dos bancos e outros especuladores.
Por isso, já é possível perceber a relação entre a derrubada do crescimento e a locupletação do setor financeiro – que, hoje, mesmo dentro do país é sobretudo externo – com os juros, a dívida pública e os recursos de toda a sociedade.
Mas é preciso desenvolver um pouco mais a questão para torná-la totalmente nítida – e, como se trata de uma luta, pois a política econômica não é um fenômeno da natureza, caracterizar diante do que se rendeu o atual governo.
As atuais pressões (da mídia, dos porta-vozes dos bancos, especialmente dos órgãos oficiais e suboficiais dos monopólios financeiros externos) para que o governo aumente o desvio, para os juros, das receitas de impostos, contribuições e previdência social – a gritaria para aumentar o “superávit primário” e as transferências de dinheiro aos bancos – somente significam que a pior forma de tratar esses chacais é cedendo a eles. Sempre vão querer mais. Sobretudo quando, devido às concessões anteriores, o país está atolado na estagnação – portanto, na visão dos predadores financeiros, diminui a perspectiva de que haja mais carne para devorar no futuro. Logo, é preciso devorar o máximo antes que a festa acabe.
Certamente, não faltam “autoridades” (não estamos, aqui, nos referindo às governamentais) e “técnicos” que garantem que não podemos viver sem doar parte do dinheiro que pagamos – em impostos e contribuições – aos bancos e fundos externos. Essa malta de pseudo-sapientes econômicos parece ter substituído, definitivamente, o pensamento por um reflexo condicionado. Seus amestradores conseguiram – mais do que Pavlov conseguiu com seus cães – um tremendo sucesso, usando não somente os estímulos negativos, as ameaças de frustração se saírem da linha, mas também os “positivos” – ou seja, dinheiro.
Recentemente, o economista-chefe de uma das principais “consultorias” do país, a LCA Consultores (Luciano Coutinho e Associados Consultores) publicou um sintomático artigo, comentando a proposta de uma “banda” para o “superávit primário”, bobagem vulgarizada pela ministra Gleisi Hoffmann. A grande preocupação desse consultor com a proposta é: “quem garante que o resultado primário não ficará ad eternum no piso dessa banda (…)?“.
Trata-se de uma grande preocupação com os ganhos dos bancos, fundos e outros especuladores à custa do dinheiro público. Por consequência, o consultor levanta uma “sugestão”: “que esses intervalos para a oscilação do resultado primário estivessem associados a faixas para a variação do PIB, de modo a criar um mecanismo de ajuste automático da política fiscal com relação ao ciclo econômico“.
Traduzindo: que exista “ad eternum” (talvez incluído na Constituição, quem sabe, ou na Bíblia) um freio para impedir o país de crescer. O consultor cita “um relatório recente do FMI sobre a economia brasileira” que, diz ele, conclui que “um superávit primário no intervalo de 2% a 3,1% do PIB assegura, em 75% a 90% dos casos, um recuo da dívida pública bruta brasileira ao longo dos próximos 15 anos. Um superavit primário de 1% reduz essa probabilidade para 50%“.
Se a preocupação do FMI, ou dos consultores que repetem o FMI, fosse com a dívida pública, recomendariam uma queda nos juros, pois são eles os responsáveis pelo aumento da “dívida bruta”. No entanto, pelo contrário, os conselhos desses cavalheiros e damas são sempre de que os juros sejam mantidos nas alturas – em geral que sejam aumentados – e, coerentemente, que o desvio orçamentário para os juros (o superávit primário) seja mantido e aumentado, da mesma forma.
O problema deles, no entanto, é outro, aliás, oposto: que o crescimento do país não impeça o desvio de recursos nacionais (públicos, mas também privados) para a especulação. Por isso, o país não pode crescer além da camisa de força imposta pela especulação – e daí os sacrossantos limites do seu malfadado “PIB potencial”, além do qual, temem eles, os ganhos dos especuladores poderiam ser prejudicados. Não que diminuíssem automaticamente, mas o objetivo deles é garantir que esses ganhos aumentem sempre.
Como seria de esperar, é a esse ponto que chega o profissional da LCA Consultores: “… isso traz outro desafio: definir o que é um crescimento forte ou fraco do PIB“. E a resposta é: “… estimativas apontam que o crescimento potencial brasileiro nos próximos 15 anos é de cerca de 3,3% ao ano“.
A média de crescimento dos países “emergentes e em desenvolvimento” (150 países) foram as seguintes:
1995-2004: 4,9%;
2005-2012: 6,5%;
(cf. IMF, WEO, October 2013, p. 153, Statistical Appendix, Summary of World Output)
As projeções das médias para os próximos anos, segundo o FMI – que não existe para favorecer países “emergentes e em desenvolvimento” – é 4,5% (2013), 5,1% (2014), atingindo 5,5% em 2018.
Por que o Brasil, que tem muito mais recursos (não somente naturais, mas econômicos em geral, e humanos) do que todos, ou quase todos, esses países, seria diferente deles – e estaria condenado a amargar um medíocre crescimento médio de 3,3% nos próximos 15 anos?
Pela mesma razão que o “superávit primário” deveria ser eterno: porque esse é o desejo dos espoliadores do país. Inexiste outra explicação.
De janeiro de 2011 a setembro de 2013, o governo central (governo federal incluindo o Banco Central) passou R$ 462,948 bilhões aos bancos como juros. Se somarmos todo o setor público (governo central, governos estaduais, municipais e as estatais dos três níveis) essa magnitude vai para R$ 627,742 bilhões desperdiçados – na maior parte – em juros, com o governo aceitando taxas, para o conjunto de seus papéis, inclusive bem acima da taxa básica (em 2011: 19,1% ao ano; em 2012: 15,6% a.a.; em 2013, 14,1% a.a.). E essas taxas são apenas uma média de vários títulos ao longo do ano. Na verdade, em setembro último, a taxa acumulada em 12 meses estava em 18,7% ao ano (cf. BC, Relatório de Política Fiscal, Quadro XIII e Quadro XIV, 31/10/2013).
Os papéis do governo, apesar de renderem bilhões sem o menor risco, são apenas a base de uma pirâmide especulativa. Nos últimos 30 dias (15 de outubro a 14 de novembro) os juros dos derivativos – os famigerados “credit default swaps” (CDS) – usados, supostamente, como “hedge”, isto é, seguro, contra a inadimplência de títulos públicos brasileiros deram um salto. Evidentemente, não há risco algum de inadimplência dos títulos públicos emitidos pelo governo brasileiro. Neste sentido, o secretário do Tesouro, Arno Augustin, tem razão ao falar em “ataque especulativo”. Mas o problema é que especuladores são assim mesmo: realmente, o que eles sabem fazer são “ataques” especulativos – que não são sentidos por certas autoridades até que a economia, devido, precisamente, à permissividade com os especuladores, apresenta sinais de fragilidade. Muitas vezes esses “ataques” especulativos se confundem com – ou são a mesma coisa que – uma “fuga especulativa”, com a manada se evadindo de um país que ela mesmo quebrou, com a ajuda de um governo pouco sagaz.
SETE CRENÇAS
Diante do que já dissemos – ou citamos – poderia parecer sem sentido investigar a questão que, nos últimos meses, tem motivado uma crescente literatura econômica: quais as causas do fracasso econômico do governo Dilma? Porém, seria possível que estivéssemos simplificando demasiado os problemas – e, de certo modo, estaríamos mesmo – se nos ativéssemos apenas (!) à sangria financeira já mencionada, embora esta hemorragia seja quase um (desculpem-nos os leitores a imagem desajeitada) cume do abismo.
Portanto, como sintetizar as causas do fracasso econômico do governo Dilma numa única e mais abrangente causa?
Antes de tudo, pela mudança na política econômica – em relação, sobretudo, ao segundo mandato do presidente Lula (embora, como se viu no escândalo da entrega do campo petrolífero de Libra, o maior do mundo, também em relação ao primeiro mandato de Lula, período em que o principal feito, que não pode e não deve ser subestimado, foi o fim das privatizações).
Não estamos subestimando fatores supostamente “estruturais” – o importacionismo, a destruição de elos das cadeias produtivas internas e a desindustrialização, que alguns chegaram a chamar de “mudança de paradigma” – mas enfatizando que esses “fatores” são resultado de uma política econômica. As mudanças na economia têm sempre sujeito e predicado – mesmo quando um ou outro (ou os dois) são inconscientes de si mesmos.
Em suma, o governo Dilma, do ponto de vista econômico, preferiu ser uma continuação mais do governo Fernando Henrique Cardoso que do governo Lula. Daí, também, certos aspectos políticos assemelhados, especialmente a crença de que o marketing é um substituto aceitável para a verdade, e a obtenção do mesmo resultado: a condução do país a uma situação bastante difícil – digamos assim, não somente para evitar exageros, mas também porque o nosso objetivo não é apavorar as pessoas, e, sim, contribuir para a superação das dificuldades ao fornecer algum material para o debate. Nada mais nocivo, diante dos problemas de um país tão grande e complexo quanto o nosso, do que uma retórica cor de rosa – em que com os espinhos somente aparecem na dicção.
Como isso se concretizou?
Por uma série de outras “crenças” – e não conseguimos palavra mais suave para caracterizar esse tipo de concepção.
1) A crença de que o país não poderia continuar crescendo no mesmo ritmo do último ano do governo Lula, o que equivalia à restauração do famigerado “PIB potencial” dos tucanos, aquele que Lula, muito justamente, classificara como “uma imbecilidade de certos economistas”, segundo a qual o país não poderia crescer mais do que 3,5% (agora, 3,3%, o que significa menos, pois os números divulgados publicamente pelos tucanos sempre são para enganar trouxas: durante o governo Fernando Henrique, o país cresceu a uma média anual de 2,3%; durante os dois primeiros anos do governo Dilma, ainda menos: 1,8%; enquanto isso, no governo Lula, o país cresceu à média anual de 4,05%, e, no segundo mandato, 4,63% – apesar da crise nos países centrais, que provocou um resultado negativo em 2009).
Observemos que, apesar de um crescimento do PIB de 7,5% e um aumento da produção industrial de 10,5% em 2010, o PIB da indústria de transformação – o setor determinante para o crescimento – ainda não voltara, em janeiro de 2011, ao nível de antes da erupção da crise nos países centrais, ou seja, ao nível do terceiro trimestre de 2008 (cf. IBGE, Contas Nacionais Trimestrais, Tabelas Completas, Série encadeada do índice de volume trimestral com ajuste sazonal).
2) A crença, contra todas as evidências dos 80 anos anteriores, inclusive àquelas do segundo mandato de Lula, de que o motor do crescimento era o investimento privado – e não os gastos, investimentos e financiamentos públicos, que foram tremendamente cortados ou bloqueados a partir de janeiro de 2011, tanto no que se refere ao Orçamento, como, também, às estatais.
Mesmo se considerarmos o total do desembolso orçamentário (orçamento do ano + restos a pagar de outros anos), houve uma brutal queda nos investimentos e gastos públicos em 2011, em relação ao ano anterior, atingindo funções como saneamento (-32,3%), urbanismo (-16,3%), segurança pública (-20,7%), comércio e serviços (-13,7%), energia (-7,1%), organização agrária (-6,9%), defesa nacional (-1,0%), ciência e tecnologia (-1,0%).
Este quadro geralmente foi ofuscado pelo aumento das despesas financeiras, a que nos referiremos mais adiante. Resta dizer que ele não foi essencialmente diferente em 2012. Mesmo somando os restos a pagar, que correspondem ao orçamento de anos anteriores, somente 19,30% da verba orçamentária de investimento foi liberada (e isso são apenas R$ 22 bilhões dos R$ 114 bilhões autorizados pelo Congresso).
Prestemos atenção a um dado que, até agora, não recebeu o destaque que merece: o investimento efetivo (ou seja, o investimento realmente desembolsado) das estatais federais – estatais produtivas, isto é, não financeiras – comparado ao do ano anterior, levou um tranco de -1,54% em 2011, depois de subir a uma média anual de +28,45% durante o segundo mandato do presidente Lula, segundo mostram os relatórios do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST), do Ministério do Planejamento.
Até mesmo o Grupo Petrobras, cujos investimentos aumentaram 115,88% entre 2007 e 2010, sofreu uma redução nos investimentos efetivamente realizados em 2011 (-4,38%, em relação ao ano anterior). O aumento que houve em 2012 não fez com que retornasse à média anterior. Para que o leitor possa aquilatar a importância disso, lembramos que os investimentos do Grupo Petrobras foram 88,82% dos investimentos das estatais federais (não-financeiras) em 2011, e, em 2012, foram 90,66% desses investimentos.
Estranhamente (ou sintomaticamente), o “argumento” para a redução do investimento público era que este impedia o crescimento do investimento privado, contra toda a nossa história econômica anterior, e a dos outros países, onde os investimentos públicos sempre foram o estímulo por excelência aos investimentos privados.
Este “argumento”, realmente, não é original: pelo contrário, ele é recorrente, sob o nome de “hipótese crowding out”, nos ataques neoliberais à doutrina do economista inglês John Maynard Keynes. Já houve quem resumisse o “crowding out” à afirmação de que, se o Estado gasta dinheiro para determinado fim, os particulares não veriam razão de também gastar o seu dinheiro para o mesmo fim…
Apesar de caricata, essa versão tem o mérito de expor a falácia do “argumento”: no nosso caso, o investimento público somente impediria o investimento privado, se o investimento total da sociedade fosse uma despesa fixa, rígida, imutável, impossível de crescer ou variar quanto a um máximo pré-determinado (certamente que por alguma divindade).
Não entraremos, aqui, no problema da poupança (que, para os neoliberais, constitui um limite intransponível ao investimento, quando, na verdade, é este último que cria a primeira). Mas é preciso ser justo até com o inimigo, por exemplo, neoliberais como Milton Friedman: este, pelo menos, coloca o aumento da taxa de juros – que, na versão dele, sucederia a um aumento da despesa pública por causa dos investimentos públicos – como mediação para o “crowding out”. Esquematicamente: o investimento privado seria desviado para a especulação pelo aumento da taxa de juros, que seria provocado pelo aumento da dívida pública, que seria consequência do investimento público.
As coisas não são assim, até porque o Estado pode impor – como, aliás, impõe – as condições para o financiamento de sua dívida (e o investimento público, mais ainda quando também aumenta o investimento privado, cria riqueza, via tributos, também para o Estado, ou seja, para as finanças públicas).
Mas, pelo menos, a ciranda de Friedman, apesar de esquemática e grosseira, não é tão absurda quando as considerações do sr. Mantega, pois, no parecer deste último, o investimento público impediria o investimento privado, mas as altas taxas de juros não teriam esse efeito – tanto assim que o corte do investimento público foi executado ao mesmo tempo em que as taxas básicas de juros eram aumentadas cinco vezes seguidas, com acordo completo de Mantega.
3) Quase como corolário direto da “crença” a que acabamos de nos referir, há outra: a de que o “investimento direto estrangeiro” (IDE) é o fator decisivo para o crescimento do país – e que, para desenvolver o país, o principal setor da economia teriam que ser as filiais de multinacionais.
[Estamos, aqui, evitando a hipótese inversa: a de que a crença no “investimento” estrangeiro como fator principal do desenvolvimento nacional (o paradoxo apenas explicita a incoerência da tese) levou à crença de que o investimento privado é a principal mola do crescimento. Como já demonstramos inúmeras vezes desde 1994, este é o caso dos tucanos mais viscerais, que dedicam um ódio especialmente rancoroso ao empresariado nacional. Mas não parece ser o caso da presidente Dilma, apesar de seus elogios, totalmente descabidos, a Fernando Henrique (“acadêmico inovador“, “político habilidoso“, “ministro-arquiteto de um plano duradouro de saída da hiperinflação“, “presidente que contribuiu decisivamente para a consolidação da estabilidade econômica“, etc.).]
Mas, voltemos ao problema econômico do “investimento direto estrangeiro” (IDE): não se trata, aqui, do capital estrangeiro em geral. Como explicitaremos mais adiante, é evidente que se pode ter a presença de capital estrangeiro sem ferir ou lesar os interesses do país – em especial, sem ferir ou lesar o interesse em crescer e desenvolver-se que é parte do que chamamos Nação.
Estamos nos referindo especificamente ao dinheiro estrangeiro que entra no país para comprar empresas brasileiras, sem contribuir em nada, pelo contrário, para aumentar a taxa de investimento da economia. Mais adiante desenvolveremos a questão, já bastante conhecida dos nossos leitores. Por agora, basta observar que de janeiro de 2011 a outubro de 2013 entraram no país US$ 181 bilhões em “investimento direto estrangeiro” (IDE), ao mesmo tempo que a taxa de investimento, na base móvel trimestral (um indicador de tendência), caía de 20,73% do PIB (4º trimestre de 2010) para 18,86% do PIB (2º trimestre de 2013).
O IDE causou apenas desnacionalização – e, como consequência, desindustrialização, pois as empresas adquiridas por dinheiro externo passaram a fazer suas compras no exterior e a remeter lucros, reduzindo o investimento.
O resultado foi o encolhimento, verdadeiramente estúpido, da participação da indústria de transformação no PIB – e, por consequência, a estagnação atual da economia (e estagnação não deixa de ser um nome caridoso para aquilo que, em realidade, é um tremendo retrocesso). Como diz um economista:
“… o crescimento de longo-prazo depende da composição setorial da produção, mais especificamente depende da participação da indústria de transformação no PIB. Isso porque a indústria é o motor de crescimento de longo-prazo das economias capitalistas uma vez que ela é a fonte ou a principal difusora do progresso técnico para a economia como um todo, é o setor com maiores encadeamentos para frente e para trás na cadeia produtiva, é a fonte das economias estáticas e dinâmicas de escala e o setor cujos produtos possuem a maior elasticidade renda de exportação, permitindo assim o relaxamento da restrição externa ao crescimento. Sendo assim, o crescimento da economia no longo-prazo é extremamente dependente do crescimento da produção industrial.
“… a estagnação recente da economia brasileira é decorrência da estagnação da produção industrial. (…) Como a indústria é o setor da economia que utiliza mais intensamente máquinas e equipamentos não é surpresa se verificar que a estagnação/queda da produção industrial tem sido seguida por uma forte contração da formação bruta de capital fixo da economia brasileira a partir do segundo trimestre de 2011.
O autor aponta o “processo de substituição da produção doméstica por importações, a qual se expressa na brutal elevação do coeficiente de penetração das importações, que passou de 10% em 2003 para 21% em 2012. A substituição da produção doméstica por importações explica o aparente paradoxo do aumento do faturamento da indústria num contexto de estagnação da produção física, uma vez que a indústria brasileira está se transformando crescentemente numa maquiladora” (cf. José Luis Oreiro, “A Macroeconomia da Estagnação com Pleno-Emprego no Brasil”, in “A Economia Brasileira na Encruzilhada“, AKB, outubro 2013, p. 77 e 80, grifos nossos).
O fato – acrescentamos nós e por nossa inteira responsabilidade – é que não existe crescimento sem indústria nacional. As consequências apontadas, muito justamente, pelo autor que citamos, são consequências da desnacionalização, efetivada através de enxurradas de IDE na economia, sob os aplausos algo oligofrênicos do sr. Mantega, no momento em que os países centrais, acicatados pela crise, emitiam trilhões, especialmente os EUA, mas também a UE (leia-se Alemanha) e o Japão.
Hoje, o nosso país é o quarto maior alvo de IDE no mundo (cf. UNCTAD, “World Investment Report 2013“, Genebra, 2013, p. XIV e p. 3).
Os capatazes do IDE costumam agitar o exemplo da China (segunda maior afluência de IDE no mundo, logo após os EUA, com o dobro do influxo de IDE do Brasil) para, supostamente, demonstrar as virtudes da sua panaceia. Um trecho do último relatório da UNCTAD – que é insuspeito, pois seu objetivo é, precisamente, convencer os incautos de que a desnacionalização das suas economias, em proveito dos países imperialistas, é o futuro da humanidade – servirá para termos uma ideia de como é falacioso esse marketing:
“O Estado chinês é o acionista majoritário das 150 maiores empresas do país e as estatais constituem 80% do valor de mercado das ações em Bolsa” (UNCTAD, rel. cit., p. 12).
Essa é a base do crescimento da China.
Quanto aos EUA, já analisamos essa questão, há quase quatro anos, ao abordar o estoque de IDE no mundo:
“… o maior estoque de ‘investimento direto estrangeiro’ do mundo está dentro dos EUA (US$ 2,3 trilhões em 2008). Perto dele, os US$ 378 bilhões de estoque dentro da China são um mero troco. No entanto, não há perigo de que a economia norte-americana seja desnacionalizada por causa disso, ou de que o capital nacional [norte-americano] seja esmagado pelas multinacionais de outros países. E não apenas porque a propriedade em mãos norte-americanas é colossalmente superior, mas porque, da mesma forma que outros países (a própria China, por exemplo), os EUA não permitem que o ‘investimento direto estrangeiro’ compre ou faça qualquer coisa que lhe dê na telha. O governo e o Congresso norte-americanos determinam o que estrangeiros podem ou não comprar – como aprenderam os japoneses e os sauditas. Esse investimento ‘direto’ estrangeiro de US$ 2,3 trilhões nos EUA serve perfeitamente à casta econômica dominante naquele país. De certa forma, é uma “americanização” dos recursos de outros países e não uma desnacionalização da economia dos EUA – apesar de que esse estoque equivale a 16% do PIB norte-americano (v. base de dados da UNCTAD e a última edição do seu relatório anual, “World Investment Report 2009”). A diferença entre o IDE nos EUA e o IDE no Brasil é, fundamentalmente, àquela, já referida, entre um país imperialista e um país que não é imperialista. A dinâmica não é a mesma. Aliás, é oposta” (v. HP 26/02/2010, “O canto das sereias fracassadas 3: o IDE e a hipervalorização do real”, grifos atuais).
4) Enquanto isso, ocorria algo que é difícil classificar como “crença”, por mais pervertida que seja. Precisamente, o que ocorreu com os juros, como, em parte, já mencionamos.
Correspondendo aos aumentos de juros, que começaram 19 dias depois da posse da presidente, o “superávit primário” – o desvio de verbas para juros – do Governo Central (Tesouro, Previdência e Banco Central) aumentou 18,7% em 2011, em relação a 2010, e as transferências aos bancos a título de juros superaram em muito o “superávit”: +45% em relação ao ano anterior. Os aumentos de juros foram (como os atuais) tão absurdos que não podemos dizer que existisse alguma “crença” de que eles atuariam sobre a inflação – que era apenas especulação com commodities no exterior, longe da ação do Banco Central, e nunca esteve, em momento algum, fora de controle.
O que havia era uma ânsia sôfrega por entregar dinheiro aos bancos, fundos e outros especuladores, sobretudo com sede em outros países, e ser “confiável” aos nababos financeiros que haviam apoiado, nas eleições, o adversário da presidente Dilma Rousseff.
Após um período em que – por pressão, inclusive, da própria presidente – as taxas básicas de juros foram reduzidas, voltaram outra vez a aumentar, desta vez sem protestos por parte do governo.
Talvez a pior de todas as “crenças” – a mais nociva para o país – seja a de que aumentos de juros ou juros altos são remédio contra a inflação. Toda a suposta estratégia anti-inflacionária dos neoliberais é, na verdade, um pretexto para descarregar sobre os países periféricos – como o nosso – as mercadorias encalhadas dos monopólios privados dos países centrais, e, ao mesmo tempo, saquear seus recursos monetários, sobretudo os recursos públicos, os recursos do Erário.
Daí a relação dos juros irracionais com a, pessimamente chamada, “âncora cambial”. Em suma, esse falso combate à inflação é mero subsídio ao preço das mercadorias importadas às custas do país, tornando-as mais baratas que a produção interna devido à manipulação da taxa de câmbio – a hipervalorização das moedas locais frente ao dólar – induzida pelas altas taxas de juros que atraem montanhas de dólares para dentro do país.
Logo em seguida nos estenderemos um pouco mais sobre o problema. Resta dizer, agora, que altas taxas de juros mais câmbio manipulado para subsidiar importações significam a destruição crescente e violenta da economia do país para favorecer bancos e demais monopólios externos. Nada tem a ver com o combate ou controle da inflação, exceto se o lema for destruir o país para combater a inflação. Sem país, sem produção e sem dinheiro, realmente, é difícil haver inflação. Mas também é difícil que haja população…
5) A quinta “crença” que redundou nas vicissitudes porque passamos agora é a de que devíamos ser o único país do mundo a não defender nossa moeda e nossa economia da agressão cambial movida pelos EUA contra outros países, através das superemissões de dólares. Preferimos não esboçar hipóteses sobre os motivos do governo. Basta dizer que esses motivos nada têm a ver com qualquer necessidade econômica: as taxas de câmbio – assim como as taxas de juros – são preços da economia. Nem uma nem outra pode ser estabelecida pelo “mercado”, pois este não existe nesses dois casos – expressões como “mercado de câmbio” ou “mercado financeiro” apenas designam, escondendo, o domínio dos monopólios financeiros. A política do governo foi a de permitir que esses monopólios determinassem a taxa de câmbio.
Nesse caso, o governo conseguiu ficar à direita do professor Yoshiaki Nakano, ex-secretário da Fazenda de um governo tucano, que, desde outubro de 2009, advertia para o problema. Por exemplo, dizia ele em novembro de 2009:
“… os EUA desencadearam uma guerra cambial dissimulada com sua política monetária escandalosa de juro zero e de emissão de dólares, inundando as economias emergentes, adquirindo ativos, inflando as Bolsas e apreciando suas moedas. (…) Essa emissão de dólares, sem nenhum lastro, nos EUA chegou a triplicar seu estoque logo depois da crise financeira e, neste ano, está em média mais de 100% maior do que no período pré-crise. A consequência óbvia é a depreciação do dólar, mas essa política monetária não tem efeito sobre o setor real da economia americana, pois não há demanda de crédito porque foi o superendividamento que gerou a crise financeira e o consumidor americano iniciou um longo processo de desalavancagem. (…) Assim, a redução do juro para zero é um subsídio para o sistema financeiro americano que causou a desastrosa crise financeira global e tornou-se na realidade insolvente. É uma escandalosa política, na qual os EUA estão tentando fazer o resto do mundo pagar a conta da crise e exportando desemprego. (…) Isso é uma imensa transferência de riqueza do resto do mundo para os bancos norte-americanos recomporem seus balanços“.
Para se defender, todos os países baixaram rapidamente os juros – para que suas economias não “atraíssem” montanhas de dólares desvalorizados – e/ou emitiram moeda para impedir sua sobrevalorização frente ao dólar (zona do euro – isto é, Alemanha -, Inglaterra, Japão) ou administraram diretamente o câmbio (China).
Todos, menos o Brasil. Num seminário do FMI, “Managing Capital Flows in Emerging Markets” , em 26/05/2011, o sr. Mantega culpou pela situação do Brasil os países que se defendiam contra a agressão do dólar e propôs o igualitarismo na servidão: que todos os países do mundo adotassem o câmbio dito “flutuante”, o que provocou um sorriso irônico de Olivier Blanchard, economista-chefe do FMI, que sabia perfeitamente que isso era impossível – pois significaria a aceitação, por todos os países do mundo, da submissão de suas economias à espoliação financeira dos grandes bancos dos EUA. Portanto, Mantega estava apenas sendo ridículo, ao exibir publicamente seu colaboracionismo com a casta financeira dos EUA, que tentava, inutilmente, submeter a China e outros países.
Com os juros altíssimos – e aumentando cada vez mais – o nosso país foi invadido por dólares desvalorizados, com a consequência de hipervalorizar artificialmente o real, subsidiando as importações, ao rebaixar o seu preço, e encarecendo o preço da produção interna.
Evidentemente, não foi apenas no governo Dilma que isso ocorreu. Porém, no governo Lula esse problema cambial, causado pelas taxas de juro, foi em grande parte contrabalançado pelos investimentos públicos (e, também, pelos gastos públicos de custeio), pelo aumento do crédito para as empresas nacionais e pelo crescimento da renda, portanto, do consumo interno.
A média anual de aumento do investimento (formação bruta de capital fixo – FBCF) no governo Lula foi +7,5% (no segundo mandato, +10,5%), com a taxa de investimento (FBCF/PIB) subindo de 16% para 19,5% do PIB.
Para comparação: a média de variação do investimento nos oito anos de Fernando Henrique foram quase microscópicos +1,35%, e, no segundo mandato, negativos -1,6% (como não nos deixa mentir um corifeu tucano, o sr. Fabio Giambiagi: v. “Estabilização, reformas e desequilíbrios macroeconômicos: os anos FHC” in Giambiagi et al, “Economia Brasileira Contemporânea”, 1ª ed., Elsevier, Rio, 2005, p. 181). Poderíamos acrescentar que a taxa de investimento caiu de quase 21% do PIB no último ano do governo Itamar Franco (1994) para a casa dos 16%, uma trajetória abissal que deveria servir de advertência aos que, supostamente, pretendem aumentar o investimento através da privatização.
Quanto ao consumo das famílias (ou consumo pessoal), ele aumentou +4,48% ao ano no governo Lula e apenas +0,56% no governo Fernando Henrique.
Em suma, a política econômica de Lula – sintetizada pelo PAC – contrabalançou os entraves da política financeira (juros e câmbio).
Além disso, Lula conseguiu, em parte, impedir o aumento dos juros nominais pelo Banco Central – e, com isso, baixar a taxa real. Os juros básicos, em termos nominais, ficaram paralisados de 23/07/2009 a 29/04/2010, e, novamente, de 22/07 até o fim do ano de 2010. Em consequência, houve uma queda nos juros reais: a taxa Selic caiu de +7,28% (julho de 2009) para +3,36% (abril de 2010), e, depois de um breve solavanco, causado por uma espécie de inconformismo do BC – que subiu outra vez as taxas nominais nas reuniões do Copom encerradas em 29/04/2010, 10/06/2010 e 22/07/2010 – o juro básico, em termos reais, caiu outra vez até dezembro.
Essa trajetória dos juros é, em geral, menos conhecida que a insistência do sr. Meirelles em manter a taxa básica no espaço durante quatro meses após a explosão financeira do Lehman Brothers. O que é compreensível, pelos danos que essa loucura – muito interessada – causou ao país. No entanto, não se pode ignorar o movimento inverso, devido à atitude do presidente Lula.
Mas, voltemos ao governo Dilma: o fato é que, além de cinco aumentos de juros seguidos logo no início, todos os fatores que contrabalançavam a tendência recessiva dos juros altos foram removidos.
O ex-financista norte-americano Charles R. Morris enfatizou, em seu livro “O Crash de 2008“, que os juros básicos negativos, estabelecidos pelo Fed, têm o significado de que os grandes bancos dos EUA captam dinheiro de graça. Segundo os neoliberais, “não existe almoço grátis”. Quanto a dinheiro para os bancos…
Com esse dinheiro grátis, eles entraram – e entram – no Brasil para aproveitar-se das taxas de juros infinitamente maiores, apreciando de tal forma a taxa de câmbio (quanto mais dólares dentro do país, mais baratos são, e, por consequência, mais caro é o preço do real em dólares – daí o termo “apreciação”), que tornou inviável a indústria nacional numa série de setores, devido à catadupa de importações.
A indústria foi, portanto, agredida pelos juros altos, pelas importações açuladas pela taxa de câmbio, pelos dólares transformados em reais para a especulação e para a compra de empresas nacionais – e pelo relativo achatamento do mercado interno, efeito de uma contenção salarial que, até hoje, não ousa dizer o seu nome, e da restrição de crédito.
Em julho de 2011 a cotação do dólar estava em apenas 1,5743, em termos nominais, -6,5% de um ano antes. Mas esse número está longe de expressar toda a manipulação do câmbio contra a economia nacional; é importante registrar que, embora isto possa variar com a situação, os economistas calculam a “taxa de equilíbrio” do câmbio – aquela que seria “neutra” em relação aos preços das mercadorias, tanto internas quanto importadas – em R$ 2,8 a R$ 3 por dólar.
Observe o leitor, que mesmo depois da taxa de câmbio ter sido bastante corrigida, em junho último o economista José Luís Oreiro calculava que “a taxa real efetiva de câmbio ainda apresenta uma sobrevalorização de 48,12%!” (a exclamação é do autor – v. J. L. Oreiro, “A taxa de câmbio real e a semiestagnação da economia brasileira”, Jornal dos Economistas, outubro/2013).
[UMA NOTA: Como é sabido por vários de seus escritos recentes, Oreiro também tem a opinião de que a indústria brasileira sofreu “perda de competitividade” devido não somente à taxa de câmbio, “mas também ao crescimento dos salários num ritmo acima da produtividade do trabalho“, o que nos parece não somente um contrabando ideológico neoliberal, mas também um verdadeiro milagre – ou um contra-milagre -, que ele tenha detectado tal efeito dos baixos salários praticados no Brasil, diante de seu próprio cálculo sobre a hipervalorização do real. A ladainha do “crescimento dos salários acima da produtividade” foi, após o golpe de 1964, a acusação favorita de Roberto Campos à política de Getúlio, Juscelino e Jango – com as consequências que se conhecem: um brutal arrocho salarial que quebrou o país, especialmente a indústria nacional. V. “Salário, desenvolvimento e os saudosistas do atraso”, HP 30/03/2012.]
Diante das superemissões dos países centrais, uma escandalosa manipulação da moeda para saquear os países periféricos, em especial os BRICS, a presidente Dilma chegou a falar em “tsunami monetário”, embora tenha declarado, depois, que não se tratava de algo intencional – e não tenha tomado providências à altura de um “tsunami”. Embora, para ser inteiramente justo, a presidente se aproximou bastante da essência da questão em março de 2012, ao declarar que “as condições de competitividade são adversas, não porque a indústria brasileira não seja produtiva ou que o trabalhador brasileiro não seja produtivo, mas porque há uma guerra cambial baseada numa política monetária expansionista, que cria condições desiguais“. Uma pena que não tenha achado que era uma responsabilidade do governo defender o país dessas “condições desiguais”. Logo em seguida, considerou que o “tsunami monetário” era apenas um subproduto indesejável da política de “recuperação” dos países ricos.
Notemos que as “condições” não eram pouco desiguais – e nada tinham (como não têm) a ver com o “mercado” ou alguma lenda semelhante. Somente até julho de 2010, o banco central norte-americano (FED) já havia emitido US$ 16,115 trilhões destinados aos 20 maiores bancos que operam naquele país – cf. a auditoria no FED realizada pelo United States Government Accountability Office (GAO) para o Congresso daquele país (GAO, “Federal Reserve System, Opportunities Exist to Strengthen Policies and Processes for Managing Emergency Assistance“, July 2011, p. 131).
Essa auditoria diz respeito apenas ao Quantitative Easing 1 (QE1), a primeira série de superemissões de dólares. Não inclui o QE2 (novembro de 2010 a junho de 2011) nem o QE3, iniciado em outubro de 2012 e ainda não encerrado. Não foram divulgadas auditorias posteriores.
Uma observação: no comunicado do FOMC – o Copom dos EUA – que anunciou o QE3, também é dito que as taxas de juros dos “federal funds”, em suma, os juros básicos norte-americanos, serão mantidos entre zero e 0,25% (taxas nominais; a taxa real, atualmente, é -1,1%) até, pelo menos, meados de 2015 (cf. FED, “Federal Reserve issues FOMC statement”, October 24, 2012).
O que quer dizer que os grandes bancos dos EUA terão “pelo menos” mais dois anos de dólares gratuitos, mesmo que o FED modifique a política de superemissões.
6) A “crença” de que a privatização e a desnacionalização são as soluções para os problemas do país, em especial os de infraestrutura – mesmo com o BNDES financiando 70%, 80% ou 90% dos supostos investimentos de grupos estrangeiros para que tomem nossas rodovias, ferrovias, aeroportos, etc.
Não é a mesma “crença” no IDE, já referida, pois aqui se trata, especificamente, da crença de que é possível o desenvolvimento do país com sua infraestrutura pertencendo, ou sendo explorada, por outros países – ou, o que é a mesma coisa, por empresas de outros países com a devida proteção de seus governos, sobretudo o norte-americano, contra o nosso país: veja-se, no último dia 12, o seminário promovido pelo Ministério da Fazenda e o Tesouro dos EUA, intitulado “Oportunidades e Desafios de Investimentos de Infraestrutura no Brasil“.
Além disso, também diferente da suposta “crença” no IDE, não se trata mais, como no entreguismo tradicional, da propaganda enganosa de que as empresas externas trarão investimentos para cá, pois nossa poupança seria muito baixa para fazê-los…
Agora, nós estamos oferecendo a eles a nossa poupança, via BNDES, para que façam esses investimentos – e mais o patrimônio que já construímos. Açambarcar esse último não será problema – exceto para nós, que ficaremos, ou ficaríamos, sem um bem que nós construímos.
Quanto à resolução dos problemas infraestruturais, em artigo publicado em maio último, o economista José Carlos de Assis faz algumas importantes considerações:
“… o Governo, estimulado por alguns ideólogos liberais do empresariado, como Jorge Gerdau, decidiu apostar em PPP para vencer o atraso. PPP, ou Parcerias Público-Privadas, é uma boa solução para concessão de obras prontas. Ela é uma variante da privatização, que foi a ‘solução’ para que o Estado transferisse ao setor privado a siderurgia, as telecomunicações, as distribuidoras elétricas, os bancos estaduais, a Vale do Rio Doce e a RFF em condições, como foi fartamente comprovado, de extrema generosidade. Não seria assim tão fácil se o que o Governo vendesse fosse uma autorização para a construção dessas empresas. É isso, porém, que se quer com as PPPs da logística a construir. (…) Falo de rodovias e ferrovias que precisam ser construídas ou duplicadas por exigência do desenvolvimento, e nas quais não se prevê, inicialmente, um fluxo de veículos compatível com preço de pedágio que não represente uma carga pesada demais para a eficiência dos transportes. Trata-se de algo óbvio, mas o Governo não se deu conta de que os 7,5 mil quilômetros de rodovias e ferrovias que pretende ver construídos no esquema PPP, anunciados com uma projeção de bilhões de investimentos, não sairão do papel“.
Depois da publicação do artigo de Assis, o governo resolveu o problema: colocou o Estado para fazer as obras, mesmo depois de privatizar (aliás, “conceder”) o patrimônio, embora mantendo a linha de crédito do BNDES para os açambarcadores, e cedeu, de várias formas, para tornar o negócio mais “atrativo” aos negocistas. Esse estímulo extra ao parasitismo deu inteira razão ao economista.
Acrescentamos somente mais um problema, referido por autores como o coreano Ha-Joon Chang e o indiano Ajit Singh, ambos professores de economia em Cambridge: essas concessões são um ótimo pretexto para que multinacionais obtenham empréstimos em bancos públicos (p.ex., o BNDES) e os enviem para suas matrizes – ou apliquem o dinheiro na especulação, para ganhar com os juros.
Peculiarmente, a resposta da ministra Gleisi Hoffmann, quando indagada sobre o fracasso dessas privatizações através de concessões, foi arguir o leilão de Libra como um sucesso do governo – exatamente o ponto mais escandaloso e indefensável dessa política, em que 40% da exploração do maior campo petrolífero do mundo foi entregue às multinacionais petroleiras sem nenhuma necessidade, pois nem extrair petróleo elas irão fazer, uma vez que a operadora única do pré-sal, e a única empresa a deter tecnologia e experiência na área do pré-sal, é a Petrobrás.
7) A sétima “crença” que levou o governo Dilma à situação atual já foi abordada, há mais de 60 anos, por pensadores brasileiros, em especial por Álvaro Vieira Pinto e Nélson Werneck Sodré: a deprimente alienação de certas “elites” em relação ao próprio país, que hoje se expressa como ideologia da “competitividade”. Essas elites são de tal forma alienadas que atribuem o seu “complexo de vira-lata” ao povo brasileiro. Assim, acreditam (ou fingem acreditar, o que, no caso delas, é quase a mesma coisa) que os nossos problemas econômicos existem porque somos mentalmente atrasados – e não devido ao bloqueio financeiro, comercial, tecnológico dos monopólios e cartéis multinacionais ou à política econômica submissa que os próprios complexados instituíram no governo.
Pretendemos, brevemente, dedicar um texto à “ideologia da competitividade” e seus corolários. Por isso, leitores, no momento, ficamos por aqui.
(Publicado em HP nos 3.207, 3.208 e 3.209, 27/11 a 04/12/2013 )
(
(