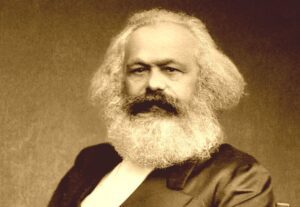CARLOS LOPES
(HP 4, 16, 18, 23, 25 e 30/março de 2011)
Ao contrário do que dizem os seus corifeus, o chamado “neoliberalismo” não é uma teoria ou escola econômica. Aliás, não há nele teoria, nem cacoete de ciência, pois não há nenhuma tentativa de demonstrar que suas supostas teses estão certas. É, na verdade, uma série de dogmas, próximos às prescrições de auto-ajuda – e nada mais. Não por acaso, sua origem está numa espécie de loja maçônica anticomunista e antiprogressista, a Sociedade de Mont Pèlerin, uma P2 do fascismo acadêmico surgida após a II Guerra, e sua essência é, simplesmente, que o melhor para os “mais capazes” é que as economias dos países sejam completamente submetidas aos interesses do setor financeiro mais sequioso e desarvorado.
George Gilder, um dos ideólogos neoliberais do governo Reagan, expressou assim esse conteúdo: “o progresso material é inelutavelmente elitista: faz os ricos ficarem mais ricos e aumenta o seu número, exaltando os poucos homens extraordinários que podem produzir riqueza acima das massas democráticas que a consomem. (…) Para serem bem sucedidos, os pobres necessitam, antes de tudo, da espora da sua pobreza” (cit. in John Kenneth Galbraith, “A Journey Through Economic Time”, Houghton Mifflin, 1994, págs. 214 e 215).
Ou, como disse a senhora Thatcher: “nossa função é glorificar-nos na desigualdade e vigiar para que seja dada abertura e expressão aos talentos e às capacidades, para benefício de todos nós” (cit. in Susan George, “A Short History of Neoliberalism”, Conference on Economic Sovereignty in a Globalising World, março/1999).
Naturalmente, não precisamos dizer quem ou o que os neoliberais consideram que são os “poucos homens extraordinários que podem produzir (?) riqueza”, ou os “talentos”(??), ou as “capacidades” (???) – ou “todos nós” (????).
No Brasil, depois de oito anos de governo tucano, com sua indústria (a única que eles edificaram) de subornos para entregar a propriedade pública, com seus almofadinhas que ficavam milionários do dia para a noite, não há quem desconheça o significado dessa glorificação da mediocridade, do parasitismo, da corrupção – em suma, da falta de escrúpulos e de caráter.
Já se observou que os resultados econômicos reais do neoliberalismo, com a única exceção dos ganhos dos monopólios financeiros, não têm a mínima importância para os neoliberais. Ele foi um fracasso não somente nas economias dos países dependentes e periféricos, mas também nas economias dos países centrais. Não poderia, a propósito, haver exemplo mais eloquente desse fracasso do que a Inglaterra, aliás, “Reino Unido”.
Quando Margaret Thatcher assumiu o governo, em 1979, a taxa de investimento (as inversões em máquinas, equipamentos e edificações produtivas) da economia inglesa estava em 20,4% do PIB (cf. Banco Mundial, “Gross capital formation 1965-2009”).
As “reformas” de Thatcher, modelo mundial do neoliberalismo, fizeram essa taxa de investimento cair violentamente – em 1981, era apenas 16% do PIB. Somente em 1988, a taxa de investimento da economia inglesa voltaria ao patamar de nove anos antes. Mas logo continuaria a cair, depois de 1990, até o abismo de 15,9% (1993), e nunca mais voltou ao nível de 1979. O máximo a que chegou foi 18,3% em 2007, para, com a crise que o próprio neoliberalismo causou no mundo, reduzir-se a ínfimos 13,6% em 2009 (o dado de 2010 ainda não foi disponibilizado pelo Banco Mundial).
Como observou Perry Anderson, aliás, um ex-consultor do Banco Mundial, “… a taxa de acumulação, ou seja, da efetiva inversão em um parque de equipamentos produtivos, não apenas não cresceu durante os anos 80, como caiu em relação a seus níveis – já médios – dos anos 70. No conjunto dos países de capitalismo avançado, as cifras são de um incremento anual de 5,5% nos anos 60, de 3,6% nos anos 70, e nada mais do que 2,9% nos anos 80. Uma curva absolutamente descendente. Cabe perguntar por que a recuperação dos lucros não levou a uma recuperação dos investimentos. Essencialmente, pode-se dizer, porque a desregulamentação financeira, que foi um elemento tão importante do programa neoliberal, criou condições muito mais propícias para a inversão especulativa do que produtiva” (Perry Anderson, “Balanço do neoliberalismo”, grifo nosso).
Tomemos outro modelo do neoliberalismo, este um país periférico, o Chile. Nesse país, segundo Milton Friedman, o neoliberalismo teria operado algo que ele chamou de “miracle of Chile” (milagre do Chile). Vejamos esse milagre.
Quando Pinochet, com sangue batendo na canela, começou a fazer suas “reformas”, devidamente aconselhado por Friedman, Hayek e outros expoentes do neoliberalismo, a taxa de investimento da economia chilena, segundo o Banco Mundial, estava em 24,8% do PIB (1974).
Dois anos depois, essa taxa era de apenas 15,7% (1976). Subiu lenta e dolorosamente até 1981 (22,7%) – não devido ao aumento dos investimentos, mas porque o PIB caiu ainda mais rapidamente do que os investimentos – para pular, em seguida, num precipício: em 1983, a taxa de investimento da economia chilena era de apenas 9,9% do PIB, apesar deste último ter continuado, também, a cair. E somente saiu desse buraco porque Pinochet abandonou seus mentores neoliberais e implementou uma política econômica diferente a partir de 1984 – naturalmente, Pinochet gostava mais do poder do que do neoliberalismo.
No entanto, apesar desse fracasso retumbante, continua-se a ouvir a ladainha neoliberal, em especial, os seus mantras: “livre mercado”, “metas de inflação”, “câmbio flutuante”, “taxa natural de desemprego”, “PIB potencial”, “relação dívida/PIB”, “autonomia do banco central”, “intocabilidade dos contratos”, “Estado indutor”, “ambiente de negócios”, e até “medidas macroprudenciais” (?!), etc., etc. & etc.
O fato de tais slogans não passarem, do ponto de vista econômico (ou de qualquer outro), de um besteirol, não inibe os neoliberais, o que não seria um problema, se cada louco ficasse com a sua mania. No entanto, quando pessoas de boa fé, iludidas por essa vigarice, repetem as mesmas inanidades como se fosse conhecimento econômico, temos um problema. Certamente, o alvo preferido dos vigaristas são as pessoas de boa fé.
Esse problema, evidentemente, não está no povo. Este, como mostraram as últimas eleições, querem ver os neoliberais pelas costas – de preferência, é forçoso reconhecer, num poste público. Que o diga o sr. José Serra, que não chegou a tanto, mas sentiu que algo desagradável à sua pessoa estava no ar – além das bolinhas de papel.
A vontade do povo, no entanto, não impediu que o então, e atual, ministro da Fazenda declarasse, ainda antes das eleições, que, fosse qual fosse o candidato eleito, a política econômica seria a mesma (cf. entrevista à “Veja”, ed. 20/06/2009).
Eis o típico neoliberal de país dependente – não interessa a realidade, nem o que o povo escolhe, só o seu pobre e subserviente escaninho mental que não consegue ver nada além do interesse do setor financeiro externo, que para ele é a mesma coisa que a única política econômica possível. O fato de Mantega dizer que não é um neoliberal, que é um “desenvolvimentista”, não tem importância alguma. Há muito, todo neoliberal que se preza – ou seja, que não quer se arriscar – diz que não é neoliberal. Mantega poderia se dizer marxista (como, aliás, já se disse), que isso nada mudaria:
“Como observou o professor Nilson Araújo, o infeliz ‘pai’ do Consenso de Washington diz que nunca foi ‘neoliberal’ (claro que não: ele só quer acabar com o nosso Estado, mas neoliberal ele nunca foi). E, depois de terem cantado em prosa e verso o maravilhoso e tão desejado ‘fim do marxismo’, foi exatamente em Marx que eles foram buscar credibilidade para pespegar em suas bolorentas (Kautsky e Bernstein que o digam) chorumelas. Bob Fields descobriu que Marx era um entusiasta do afastamento cada vez maior entre os produtores e a propriedade dos meios de produção, e que, como ele, adoraria viver sob a servidão imperial. Gustavo Franco, mentor intelectual do presidente da República, é, segundo seu pupilo, ‘puro Marx’. Todos marxistas. Mas a fantasia mais espalhafatosa foi mesmo a de FH. No seu ‘debut’, há muito tempo atrás, ele gostava de deixar no ar que talvez, quem sabe, tivesse alguma coisa a ver com Marx, o ‘método’, o ‘seminário’, mas nada explícito, nada comprometedor, só o indispensável para se esgueirar em águas turvas. Agora, na hora do desespero, ele cita em vão o santo nome onze vezes! Caramba! A fantasia, a camuflagem e o embuste crescem na proporção exata do reacionarismo e da subserviência!” (Cláudio Campos, “A incrível prostração e o refinado fascismo de Fernando Henrique”, HP, 16/10/1996).
Graças aos céus, o povo brasileiro não tinha – e não tem – a mesma opinião do ministro sobre as eleições passadas. Se tivesse, Serra estaria eleito, pois para fazer a política tucana e neoliberal, nada melhor do que um tucano e neoliberal. O povo brasileiro elegeu Dilma. Mas que Mantega vem se esforçando para cumprir o seu próprio vaticínio, lá isso vem. Como sempre, sem que haja qualquer argumento: os neoliberais impõem suas receitas simplesmente aos gritos de que elas são as únicas possíveis, de que não existe alternativa, etc. Alguns, na mídia, afetando pose crítica – pois, hoje, dizer-se neoliberal é pior do que declarar-se portador de alguma doença altamente contagiosa – tentaram embelezar essa indigência chamando-a de “pensamento único”. Não é verdade. Se há algo que não existe no neoliberalismo é pensamento. Nem linguagem, no sentido verdadeiro do termo – isto é, comunicação entre seres humanos.
Nada do que os neoliberais professam tem o significado das palavras que usam, a começar pelo nome da sua doutrina: que liberalismo existe numa economia na qual o “livre mercado” foi substituído por um despotismo monopolista? Assim, a palavra “neoliberalismo” só pode ser interpretada no mesmo sentido em que o câncer é uma “neoplasia” – com resultados semelhantes em economia ao do seu equivalente biológico.
No entanto, é exatamente para referir-se ao monopólio mais selvagem que os neoliberais falam em “competição” e “concorrência”. Susan George, no texto que citamos acima, observa algo com que nossos leitores já estão familiarizados: “o princípio de competição se aplica escassamente aos maiores atores do mundo neoliberal, as corporações transnacionais; preferem praticar o que poderíamos chamar de capitalismo de aliança. Não é acidental que – dependendo do ano – entre dois terços a três quartos de todo o dinheiro rotulado como ‘investimento direto estrangeiro’ não se dedique a investimentos criadores de novos empregos, mas a fusões e aquisições que quase invariavelmente resultam em perda de empregos” (grifo nosso).
Há muito se sabe disso. O próprio texto de Susan George já tem 12 anos. Mas isso não impede o ministro da Fazenda de propugnar – como o faz desde sua posse no cargo, em 2006 – que a solução para criar empregos no país é abri-lo para avalanches de “investimento direto estrangeiro”, isto é, para a compra de empresas nacionais por monopólios transnacionais, e ainda chamar essa entrega de “social-desenvolvimentismo”, como se houvesse alguma coisa de “social” (ou de “desenvolvimentista”) naquilo que é, precisamente, antissocial e inteiramente antagônico ao desenvolvimento.
Se dependêssemos do “investimento direto estrangeiro”, estávamos fritos. Ainda bem que o presidente Lula, contra Mantega, que achava o objetivo de crescer no mínimo 5% ao ano um “exagero” – e continua achando, pois acabou de declarar que 5% é o máximo que o Brasil pode crescer – empreendeu o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), baseado não no “investimento direto estrangeiro” (IDE), mas nos investimentos públicos.
O neoliberalismo, portanto, não é uma teoria, mas uma crença dogmática, um fanatismo alucinado, algo inteiramente impermeável a argumentos lógicos.
Note-se que o centro de todo o talmude neoliberal durante 40 anos, a fábula da privatização, foi a primeira a ser desmoralizada. E não por acaso, pois a privatização de serviços públicos – telecomunicações, eletricidade, etc. – fizeram com que o povo vivenciasse qual era o conteúdo dessa miséria:
“Na realidade, quase todos os serviços públicos constituem o que os economistas chamam de ‘monopólios naturais’. Um monopólio natural existe quando o tamanho mínimo [da empresa] para garantir o máximo de eficiência econômica é igual ao tamanho real do mercado. (…) Os serviços públicos também requerem, no início, investimentos muito grandes em infraestrutura – como ocorre com as estradas de ferro ou as redes elétricas – o que não encoraja a competição. Por isso é que os monopólios públicos são a óbvia solução ótima. Mas os neoliberais definem qualquer coisa pública, ipso facto, como ‘ineficiente’. Então, o que acontece quando se privatiza um monopólio natural? Bastante normal e naturalmente, os novos proprietários capitalistas tendem a impor preços de monopólio ao público, enquanto remuneram ricamente a si próprios. (…) os preços são mais altos do que deveriam ser e o serviço ao consumidor não é necessariamente bom” [aliás, acrescentaríamos, pela própria lógica do monopólio, é inevitavelmente ruim. – CL] (Susan George, “A Short History of Neoliberalism”).
Foi exatamente o que aconteceu no Brasil, com consequências econômicas desastrosas – mas com uma consequência política alvissareira: defender a privatização passou a ser a antessala da morte eleitoral.
Porém, o repúdio à “privatização” não faz, obviamente, com que os neoliberais desistam de impor a sua malfadada receita, na qual o mais notável é a escassez de pensamento. Rigorosamente, não existe pensamento no neoliberalismo. Existe uma litania, a repetição dos mesmos reclames, seja lá qual for a realidade, tal como em certos ritos religiosos obsessivos.
Já daremos um exemplo recente dessa repetição, desse rosário isento de pensamentos.
Antes do exemplo, uma questão mais de fundo: qual é a base real de um fanatismo que não pode dizer nada de verdadeiro sobre si próprio, que não ousa, muitas vezes, nem dizer o seu próprio nome, que nem tem pensamento algum que assim possa ser chamado, que usa as palavras como se fossem antônimos – e que, quando o povo descobre a verdade, tem que fugir para a marginalidade do mundo político? Como pode isso existir? Como pôde se expandir, a ponto de ministros repetirem seus slogans sem mais questionamentos, baseados na pura fé de sua suposta verdade?
A base real é o mundo irreal das finanças, tal como se tornou após o rompimento do dólar com o padrão-ouro, na década de 70.
Até então, o neoliberalismo era uma seitazinha de alguns chatos e doidos que se reuniam na sua loja maçônica. Na década de 70, o próprio presidente norte-americano que rompeu com o lastro-ouro do dólar, Richard Nixon, disse uma frase famosa: “agora, todos nós somos keynesianos”. O neoliberalismo era tão insignificante que Nixon se definia pelo seu contrário na economia política não-marxista.
Mas talvez seja melhor passar essa questão histórica a um especialista na matéria – não propriamente um historiador, mas um banqueiro norte-americano especializado em “fusões e aquisições”. A citação é longa, mas o leitor, certamente, não morrerá de tédio:
“… em 1970, o segundo ano de Nixon no governo, o crescimento desabou para quase zero, enquanto a inflação beirava 6%. O déficit federal em 1970 foi tão grande quanto qualquer um do período de Johnson. Uma tentativa de estímulo fiscal provavelmente resultaria em mais inflação. E ainda havia o problema do dólar. O compromisso americano de resgatar dólares à taxa de US$ 35 por onça (31 gramas) de ouro era o sustentáculo da estabilidade monetária mundial. Mas as reservas de ouro americanas estavam em queda (…). A solução proposta nos manuais de economia era elevar as taxas de juro para que os estrangeiros preferissem manter seus dólares. Mas, com a economia tão frágil, uma elevação das taxas poderia provocar uma forte recessão.
“Poucos políticos tinham o dom de Nixon para lances ousados. Em agosto de 1971, ele levou toda a sua equipe econômica de helicóptero para Camp David, para um fim de semana que Herbert Stein, membro do Conselho de Assessores Econômicos do presidente, previu que ‘poderia ser a reunião mais importante na história da economia’ desde o New Deal. Na semana seguinte, Nixon anunciou que reduziria os impostos, imporia o controle de salários e preços em toda a economia, aplicaria uma sobretaxa de imposto sobre as importações e rescindiria o compromisso de resgatar dólares em troca de ouro. (…) O dólar chegou ao fim de 1971 a cerca de US$ 44 por onça de ouro. Ou seja, medida em ouro, os parceiros comerciais dos Estados Unidos tiveram uma perda de 25% em seus ativos. O Japão recebeu o golpe mais forte, porque tinha grandes reservas em dólar. (…) Os aumentos de preço do petróleo da OPEP, que ajudaram a desencadear a grande inflação da década de 1970, foram consequência direta da flutuação do valor do dólar. Em 1973, quando os países da OPEP triplicaram o preço do petróleo, o dólar caíra para cerca de US$ 100 por onça de ouro, ou aproximadamente um terço do valor anterior. Em 1979, quando a OPEP voltou a triplicar os preços, o dólar variou entre US$ 233 e US$ 578 por onça de ouro. Em termos de ouro, portanto, a OPEP ainda estava perdendo terreno. Em 1980, quando o dólar desabou para U$ 850 por onça de ouro, o preço do petróleo em ouro era o mais baixo até então. O verdadeiro problema era que os Estados Unidos tinham degradado sua moeda” (Charles R. Morris, “O Crash de 2008”, trad. Otacilio Nunes, ed. Aracati, 2009).
2
Aos leitores que desejarem uma exposição direta – e irretorquível – da combinação de vigarice e imbecilidade que constitui o neoliberalismo, recomendamos o documentário “Inside Job” – que acaba, aliás, de ganhar um Oscar – de Charles Ferguson, com a excelente narração de Matt Damon.
O filme tem a deficiência de não mostrar que os grandes bancos (em especial, o criador dos “derivativos”, o JP Morgan – hoje, JP Morgan-Chase, após a fusão financeira dos grupos Morgan e Rockefeller) foram os patrocinadores e principais beneficiários da roubalheira em que se transformou a economia norte-americana.
Porém, apesar de se concentrar numa quadrilha menor, aquilo que era chamado, desde o início do século XX, “a banca judaica de Wall Street” (Bear Stearns, Lehman Brothers, Goldman Sachs, etc.), de resto peixes que, apesar de vorazes, iam no rastro dos tubarões (JP Morgan, Chase Manhattan, Citibank, Bank of America), o documentário tem o mérito de expor os próprios neoliberais demonstrando a viciosa combinação a que nos referimos.
Por exemplo, os diretores daquelas “agências” que distribuem notas para o “risco Brasil”, e “investment grade” para certos países, declaram, no Congresso dos EUA, que suas classificações não valem nada, são uma “opinião” qualquer… Naturalmente, dizem isso para fugir à constatação, dos parlamentares que os interrogam, de que essas classificações são confeccionadas para burlar os incautos.
Esse terreno, o do mero trambique – ainda que em escala planetária – nos obriga a uma breve (nem tanto) interpolação. A novidade, evidentemente, não é a existência de vigaristas – ou a sistemática vigarice monopolista e financeira, incluindo a da mídia desses monopólios. Há 70 anos, o presidente Franklin Delano Roosevelt, ao intervir nas empresas de eletricidade dos EUA, afirmou que a ação do governo “se torna mais necessária porque não tem havido somente falta de informação e informação difícil de se entender, mas, sobretudo, como demonstrou a Federal Trade Commission, desenvolveu-se nos últimos anos uma campanha sutil, sistemática, deliberada e pouco escrupulosa, de falsa informação, de contra-propaganda e, se permite a palavra, de mentiras e falsidades” (cit. in Aristóteles Moura, “Capitais Estrangeiros no Brasil”, 2ª ed., Brasiliense, 1960, pág. 134).
A novidade, portanto, não é essa, mas o surgimento de tantos papagaios dessas mentiras e falsidades – sobretudo das já desmascaradas –, alguns até se dizendo (e, o que é pior, acreditando-se) “de esquerda”.
Portanto, antes de continuarmos a partir do rompimento, em 1973, pelos EUA, da relação entre o dólar e o ouro, estabelecida desde julho de 1944 pelos acordos de Bretton Woods, assinados com todos os países capitalistas para que aceitassem a moeda norte-americana como “moeda internacional”, comercial e de reserva, algumas observações ainda sobre o conteúdo da primeira parte deste artigo.
O presidente da CUT, Artur Henrique, antes da posse do atual governo, fez, na revista Teoria e Debate, uma consideração importante:
“Algo que devemos ter sempre em mente é que Dilma não foi eleita para fazer o mesmo que Lula, e sim para fazer mais, para aprofundar as mudanças e as transformações iniciadas no governo anterior. Com esse horizonte nos comprometemos todos que fizemos campanha para sua eleição. Portanto, será preciso tomar certas decisões difíceis. (…) Por parte do futuro governo, e especialmente da presidenta Dilma Rousseff, a tarefa vai requerer grandes doses de sensibilidade social e confiança na capacidade de mobilização e compromisso de nossas bases. (…) A luta por um salário mínimo que não refletisse a crise econômica internacional de 2008/2009 – R$ 540 – mas sim que reconhecesse a capacidade dos trabalhadores brasileiros de terem vencido essa mesma crise, graças em grande parte ao próprio salário mínimo – R$ 580 – é simbólica do desafio das escolhas à frente” (Teoria e Debate nº 90 – nov./dez. 2010).
O presidente da CUT menciona que as “escolhas devem passar por continuar praticando taxas básicas de juros estratosféricas, ou incrementar as políticas sociais e redistributivas” e que “mesmo sob o argumento da necessidade de cortar gastos para ampliar investimentos, ideal sempre embalado pela ideia de responsabilidade fiscal tão ao gosto do mercado, a taxa básica de juros parece um risco no disco”.
Com efeito, essa “ideia de responsabilidade fiscal tão ao gosto do mercado” é a mera irresponsabilidade para com a sociedade, a nação, e para com o mercado – que não é composto apenas por bancos e outros especuladores financeiros. Quanto à “necessidade de cortar gastos para ampliar investimentos” (necessidade tão falsa que sua própria formulação é ridícula), as “despesas correntes”, os gastos com o “custeio”, são, precisamente, o que o governo gasta com o atendimento ao povo como consequência dos investimentos. É verdade que existem gastos que estrangulam os investimentos públicos – mas não são os gastos com o custeio, e sim com os juros da dívida pública.
Concordando com o presidente da CUT, gostaríamos apenas de ressaltar a motivação deste nosso artigo: contribuir para que o governo Dilma cumpra a expectativa de “aprofundar as mudanças e as transformações iniciadas no governo anterior”. Como já disse mais de uma vez a nossa presidente, embora o papel central caiba a ela, essa missão só é possível com a participação de todos – ou não alcançaremos a erradicação da miséria que ainda infelicita tantos brasileiros.
Depois de oito anos que foram, em essência, um avanço, não podemos, realmente, retroceder àqueles tempos em que o ministro da Fazenda, um certo Fernando Henrique Cardoso, “procurava disfarçar sua proposta de aumentar os juros com a afirmação de que eles só deveriam cair ‘com a (…) progressiva melhora das contas públicas’ (…)”, quando, na verdade, “o que as desequilibraria seria exatamente a manutenção dos juros em patamares elevados. Quanto às contas públicas, a ideia inicial era ceifar US$ 20 bilhões no gasto público, que correspondiam a 34,6% da receita líquida da União (descontando as operações financeiras e as transferências para Estados e municípios). Depois de muita pressão, reduziu o corte para US$ 6 bilhões; além disso, foi encaminhado um projeto de lei para o Congresso limitando as despesas com servidores em 60% da receita corrente da União, Estados e municípios. Propunha-se, também, um forte arrocho nos Estados e municípios” (Nilson Araújo de Souza, “A Longa Agonia da Dependência”, Alfa-Omega, 2004, pág. 482).
Isso aconteceu em 1993.
É natural que os líderes sindicais sejam dos primeiros a se preocuparem com os caminhos para o avanço do país. O movimento sindical é, em todo lugar, a antítese social do neoliberalismo. Exatamente por isso, Reagan, Thatcher, Pinochet, e, inclusive, Fernando Henrique, dedicaram-se a quebrar, esmagar, humilhar, se possível eliminar, ou, o que é praticamente a mesma coisa, dividir o movimento sindical. Sem isso, é impossível impor essa desgraça sobre a população.
Nesse sentido, é importante ressaltar que o neoliberalismo não fracassou apenas (!?) na Inglaterra, no Chile, no México, na Ásia, na Rússia, na Argentina, etc. e etc. Fracassou também no Brasil, apesar (ou, mais exatamente, por causa) do arrocho salarial, do ataque aos direitos trabalhistas, sindicais e previdenciários, do importacionismo desvairado, da entrega de empresas públicas e privadas a monopólios externos, da especulação alucinada com os juros da dívida pública, da miséria, do desemprego e da fome. Quando Lula assumiu o governo, o país estava à beira do colapso.
Mas, vejamos uma das “mentiras e falsidades” – para usar as palavras de Roosevelt, há sete décadas – impingidas pelo neoliberalismo.
Susan George, no texto que citamos na primeira parte deste artigo, aponta que o “investimento direto estrangeiro” (IDE) – a tomada de empresas públicas e privadas pelos monopólios privados dos países centrais – tem como efeito a redução do emprego, em bom português, o aumento do desemprego. As ex-estatais privatizadas pelo governo Fernando Henrique Cardoso são um exemplo gritante, como também as empresas privadas brasileiras que se tornaram filiais de monopólios transnacionais.
Esta diminuição de emprego, bem entendido, não se deve, hoje em dia, a uma maior mecanização, automatização ou informatização no processo produtivo das empresas desnacionalizadas. O desemprego que se segue às atuais invasões de IDE nos países dependentes é uma consequência, sobretudo, da intensificação do trabalho físico e – o que é uma forma dessa intensificação – da precarização do trabalho, sob várias formas, inclusive (e, talvez, sobretudo) as terceirizações.
Em suma, passa-se a fazer com menos empregados o que antes se fazia com mais empregados. Daí, os programas de demissão – compulsória ou cinicamente apelidada de “voluntária” (isto é, demissão sob chantagem).
Porém, resta dizer que não somente o emprego é reduzido quando se deixa o IDE tomar a economia, mas também o salário. E não somente (o que já seria gravíssimo) porque, pelo mesmo salário, aqueles que mantêm o emprego passam também a fazer o trabalho daqueles que o perderam, ou porque, evidentemente, o aumento do desemprego pressiona o salário real para baixo.
Em “A Longa Agonia da Dependência”, Nilson Araújo de Souza mostra como as invasões do capital estrangeiro na economia brasileira provocaram, sempre, a queda do salário real. O motivo mais geral é bem óbvio: ao tomar empresas nacionais, uma transnacional não se contenta com o atrativo inicial, isto é, com os salários mais baixos em relação ao seu país de origem. Ela procura rebaixar ainda mais os salários, pois, quanto menores eles forem, mais lucros uma filial poderá remeter para sua matriz – e essa é, exatamente, a medida da eficiência de uma filial.
Embora pareça evidente, nos tempos de hoje somos obrigados a relembrar que “o capital exportado procura obter no país que o recebe uma taxa de lucros superior à do país que o exporta. Esse é um fato notório e de graves consequências políticas” (Aristóteles Moura, op. cit., pág. 123).
A questão, repetimos, é que a principal função de uma filial é remeter lucros para a matriz, como sabe qualquer lojista que queira expandir o seu negócio além da área original de sua empresa. Mas, diferente de uma pequena rede de lojas, as filiais de multinacionais remetem lucros para fora do país, ou seja, para onde o nível salarial, assim como a taxa de lucro, não são os mesmos do lugar onde está a filial.
Obviamente, interessa à multinacional que essas diferenças entre níveis salariais e taxas de lucro sejam as maiores possíveis – e, certamente, a multinacional não pretende aumentar a diferença pela elevação dos salários na matriz e/ou pela diminuição da taxa de lucro no seu país de origem, até porque isso de nada serviria ao seu objetivo econômico. Multinacionais são monopólios, isto é, seu objetivo, ao contrário das empresas não-monopolistas, não é apenas o lucro, mas, sempre, o lucro máximo.
Por isso, as filiais de multinacionais sempre farão o possível para reduzir o salário real. Há quem diga que esse é o interesse de qualquer empresa. Não é verdade. As empresas nacionais não-monopolistas dependem objetivamente (isto é, seja qual for a consciência que seus donos tenham disso) do nível geral dos salários para vender seus produtos. Sem que o conjunto da população – ou o Estado, cujo dinheiro depende do conjunto da população – tenha poder aquisitivo para adquiri-los, essas empresas são inviáveis.
O mesmo não acontece com as multinacionais, exatamente porque são monopólios, portanto, exploram uma faixa estreita do mercado – aquela com renda para pagar sobrepreços (ou seja, preços acima do valor das mercadorias). Para essas empresas, o melhor é que o nível geral dos salários seja baixo, com uma alta concentração de renda numa parcela relativamente pequena da população.
Isso, evidentemente, acaba levando à crise – como, aliás, lembrou um economista chamado Guido Mantega em um livro intitulado “Acumulação Monopolista e Crises no Brasil”. Mas isso foi em 1979.
Nos países dependentes, como o Brasil, há outro problema além da remessa de lucros. Como demonstrou, entre outros, Aristóteles Moura, a acumulação da própria filial da multinacional é feita não com investimentos vindos da matriz, mas com os lucros que obtém no país em que está instalada. Em outras palavras, além de remeter lucros para sua matriz, a filial tem que extrair lucros que permitam algum reinvestimento – seja simplesmente para repor o desgaste do maquinário, seja para expandir-se no país onde está instalada. Toda ou quase toda a expansão de uma filial de multinacional é baseada não em investimentos externos da matriz, mas em lucros obtidos no país onde está essa filial (cf. Aristóteles Moura, op. cit., págs. 35 e segs.). Somada à remessa de lucros, esse é mais um fator que faz com que as filiais de multinacionais joguem, todo o tempo, para reduzir o salário real.
Ainda que, em parte, esteja implícito no que acabamos de expor, não entraremos aqui, por desnecessário aos objetivos deste artigo, na tendência a deprimir a taxa de lucro, que é acelerada pela monopolização da economia. Basta dizer que o arrocho salarial é a resposta evidente dos monopólios a essa tendência – e remeter o leitor ao livro de Nilson Araújo de Souza, “A Longa Agonia da Dependência”, onde poderá encontrar uma boa exposição do problema.
O “investimento direto estrangeiro” (IDE) como solução para o desenvolvimento dos países dependentes é uma das mais deslavadas imposturas do neoliberalismo. Como pode algo com as características que acabamos de apontar ser considerado – inclusive por nosso atual ministro da Fazenda – benéfico e decisivo para o país, isto é, para o seu crescimento?
Durante os oito anos do governo Fernando Henrique, entrou 2,6 vezes mais IDE (US$ 163,45 bilhões) do que o estoque acumulado em toda a história do país até 1994 (US$ 61,82 bilhões – cf. UNCTAD, “Inward FDI stock, by host region and economy, 1980–2009”).
Depois do início da campanha de Mantega pelo “investment grade”, entraram mais US$ 154 bilhões – e o estoque de IDE, em 2009, havia mais do que sextuplicado em relação a 1994, passando de US$ 61,82 bilhões para US$ 400,81 bilhões (cf. UNCTAD, loc. cit.).
Do ponto de vista do estoque total de capital, isto é, da propriedade estrangeira em relação ao capital fixo total das empresas que existem no país, isso representou um aumento de cinco vezes – a propriedade estrangeira passou de 4,8% do estoque total de capital fixo (máquinas, equipamentos e edificações) para, aproximadamente, 22,5% (v. “Desnacionalização atinge 22,5% do estoque de capital fixo do país”, HP, 05/11/2010), sem contar as participações acionárias de menos de 10% de capital estrangeiro – que, pelos critérios atuais do FMI e do BC, não são classificadas como “investimento direto”.
No entanto, apesar dessa avalanche, foi necessário que o presidente Lula implementasse uma vigorosa política de investimentos públicos para que o país conseguisse crescer – e empregar milhões de brasileiros. O “investimento direto estrangeiro” foi um fracasso naquilo que interessa ao país.
Então, em que esse tsunami de IDE foi bem sucedido?
Primeiro, em aumentar as remessas de recursos para fora do Brasil: o envio de lucros fez as remessas totais subirem, de uma média anual de US$ 13,424 bilhões no período 1979-1994, para uma média de US$ 33,603 bilhões no período 1995-2010 (cf. BC, “Balanço de Pagamentos 1947-2010”).
As remessas, como é óbvio, aumentaram em relação ao IDE cumulativamente – ou seja, as empresas desnacionalizadas no governo Fernando Henrique continuaram a remeter lucros para fora do país no governo seguinte, somadas às que foram desnacionalizadas depois.
Por isso, de US$ 98,931 bilhões nos oito anos anteriores ao governo Fernando Henrique, o total de remessas aumentou para US$ 194,325 bilhões (1995-2002), e, nos oito anos posteriores, para US$ 343,423 bilhões (2003-2010). E, quando existe uma crise nos países em que essas multinacionais têm as suas matrizes – e um câmbio que permite a troca de reais por cada vez mais dólares no país onde têm a sua filial – essas remessas vão para o pico do Everest: num único ano, em 2010, foram a US$ 70,630 bilhões.
Segundo sucesso da enxurrada de IDE: o aumento das importações.
De uma média anual de US$ 21 bilhões (1987-1994), as importações subiram para uma média de US$ 53,573 bilhões (1995-2002), e, depois, para uma média anual de US$ 109,895 bilhões (2003-2010).
Hoje em dia, a segunda atração, logo depois dos baixos salários, para uma multinacional ter uma filial em outro país é, exatamente, a de estabelecer um entreposto importador nesse outro país. As filiais de multinacionais são montadoras – e montam produtos, sejam carros ou dentifrícios, a partir de componentes e insumos importados. Não há nenhuma novidade nisso (ver, p. ex., um estudo de 14 anos atrás: Luciano Coutinho, “A especialização regressiva: um balanço do desempenho industrial pós-estabilização”, in “Brasil: desafios de um país em transformação”, José Olympio, 1997).
Daí, a explosão de importações que acompanhou a enxurrada de “investimentos diretos estrangeiros” – sobretudo importações de “bens intermediários”, isto é, componentes para a indústria, que hoje constituem quase metade (47%) das importações no Brasil.
O resultado é que essas importações ameaçam as contas externas do país. Já fornecemos as médias anuais. Agora, os totais: de US$ 168 bilhões e 510 milhões (1987-1994), as importações subiram para US$ 428 bilhões e 586 milhões (1995-2002) e, depois, para US$ 879 bilhões e 159 milhões (2003-2010).
Em menos de quatro anos, Fernando Henrique já havia explodido as contas externas com o aumento das remessas e das importações. As dificuldades atuais, resultado das ilusões no IDE vendidas pelo neoliberalismo, são uma demonstração extra, e candente, do problema. A solução de Mantega para as consequências da entrada descontrolada de IDE é frear o crescimento da economia para não estourar as contas externas – e continuar o privilegiamento da desnacionalização. O que só levará a outras freadas.
3
O historiador inglês Perry Anderson relata algo muito interessante:
“Recordo-me de uma conversa que tive no Rio de Janeiro, em 1987, quando era consultor de uma equipe do Banco Mundial e fazia uma análise comparativa de cerca de 24 países do Sul, no que tocava a políticas econômicas. Um amigo neoliberal da equipe, sumamente inteligente, economista destacado, grande admirador da experiência chilena sob o regime de Pinochet, confiou-me que o problema crítico no Brasil durante a presidência de Sarney não era uma taxa de inflação demasiado alta – como a maioria dos funcionários do Banco Mundial tolamente acreditava –, mas uma taxa de inflação demasiado baixa. ‘Esperemos que os diques se rompam’, ele disse, ‘precisamos de uma hiperinflação aqui, para condicionar o povo a aceitar a medicina deflacionária drástica que falta neste país’.” (Perry Anderson, “Balanço do neoliberalismo”, grifos nossos).
Mais interessante ainda foi o que aconteceu, logo depois, no Brasil.
Após a posse no Ministério da Fazenda, em dezembro de 1987, do sr. Maílson da Nóbrega – que chegara em maio ao Brasil, depois de dois anos na Inglaterra, de onde saiu um neoliberal tão consumado quanto néscio – a inflação mensal, medida pelo INPC, pulou de 13,97% (dez/1987) para 82,18% no último mês de sua gestão (março/1990). Durante esse período, Maílson congelou salários, confiscou sorrateiramente recursos de cadernetas de poupança e aposentadorias, bloqueou gastos públicos, extinguiu órgãos do governo e até tentou privatizar as estatais. Nas suas palavras, “foram dados os passos fundamentais para a abertura da economia, as privatizações e a modernização das finanças nacionais”.
A inflação anual triplicou em 1988, chegando a 993,28%; e dobrou em 1989, para 1.863,56%. Em dois anos, a política supostamente “anti-inflacionária” do sr. Maílson quintuplicou a inflação (mais exatamente, foi multiplicada por 4,7).
Pode ser que tudo isso se deva apenas ao fato de Maílson, que hoje destila a sua sapiência econômica na “Veja”, ser um rematado incompetente. Mas, como dizia aquele personagem de Cervantes, “pero que las hay, las hay”. Segundo Maílson, tudo o que ele fez estava certo: a inflação só não baixou por culpa do Congresso, dos seus colegas ministros, dos governadores, dos empresários nacionais, dos sindicatos de trabalhadores e até da Rede Globo – se não fossem eles, seu plano seria um sucesso…
Mas foi esse ambiente, envenenado por uma inflação de quase 2000%, que forneceu o caldo de cultura para a instalação do neoliberalismo, com todo o seu cortejo de gangsters, no poder, abanado por uma mídia completamente sem escrúpulos, completamente antidemocrática, completamente antinacional e completamente antipopular – numa palavra, por uma mídia neoliberal.
Resta explicitar que também foi esse ambiente que fez com que aberrações como o Plano Collor e o Plano Real fossem impostas sem gerarem imediatamente um repúdio geral, apesar de implicarem na destruição do que o país construíra por seis décadas, inclusive parte de seu povo. A inflação tornou-se um espantalho para a chantagem neoliberal. Mais adiante, analisaremos o atual sistema de metas de inflação. Por agora, frisamos que seu evidente absurdo só não é percebido por causa do esmagamento diante do terrorismo – só possível depois dos acontecimentos do final da década de 80 – em torno de uma fantasiosa ameaça de surto inflacionário.
O neoliberalismo é uma lista de panaceias. Aliás, é a única doutrina, até hoje, que tem mais de uma panaceia. Nisso ele superou em muito os vendedores de elixir do Velho Oeste. Há pelo menos 10 panaceias, segundo o rol incensado pelo inventor do Consenso de Washington (cf. John Williamson, “A short history of the Washington Consensus”, in conf. “From the Washington consensus towards a new global governance”, Barcelona, set./2004).
Em suma, em vez de teoria – esse produto do pensamento – o neoliberalismo não tem nem aquela vulgaridade apelidada de economia política “neoclássica”. Ele tem prescrições, e nenhuma preocupação em fundamentá-las. Pelo contrário, a preocupação é fugir de qualquer fundamentação e passar essas prescrições como óbvias, como as únicas possíveis. Não por acaso, quando os neoliberais, ao modo do sr. Meirelles, falam em “fundamentos”, sempre estão se referindo às suas próprias panaceias, cujo fundamento são elas mesmas.
Torna-se, assim, mais compreensível porque sempre o significado das palavras é pervertido pelos neoliberais, assim como o seu ódio à qualquer vestígio de ciência, que faz lembrar o grito de guerra do fascista Millán-Astray: “¡Muera la inteligencia!”.
Tomemos como exemplo, outra vez, o “investimento direto estrangeiro” (IDE), a que nos referimos na parte anterior deste artigo.
O IDE – isto é, a penetração de empresas estrangeiras – sempre foi considerado, desde o século XIX, um problema para as economias dependentes ou coloniais, agravado pelo surgimento das multinacionais, ou seja, do capitalismo monopolista nos países centrais.
Se o leitor consultar qualquer trabalho sobre o assunto, por exemplo, a partir da década de 40 do século passado, verá que toda a literatura econômica é unânime em constatar que as multinacionais são um freio para o desenvolvimento dos países que não fazem parte do centro do sistema.
Não são apenas os autores “de esquerda” – por exemplo, o brasileiro Aristóteles Moura, nos seus extraordinários livros “O Dólar no Brasil” (1956) e “Capitais Estrangeiros no Brasil” (1959) – que chegaram a essa conclusão, ou os trabalhos dos pesquisadores norte-americanos da Labor Research Association – “Monopoly Today” (1950) e “Billionaire Corporations” (1954).
A própria ONU, ainda em 1949, no estudo “Les Mouvements Internationaux de Capitaux entre les deux Guerres”, apontava o problema já no período 1918-1939, ao que se seguiria uma série de outros trabalhos – sem contar os da Cepal, que também é um órgão da ONU.
Tomemos, para encerrar essa brevíssima recensão dos estudos sobre o tema, um famoso livro de alguém que não pode ser acusado nem mesmo de suspeita de ter relação com a “esquerda”, o economista norte-americano Raymond Vernon, professor de Harvard, ex-membro da equipe do Plano Marshall, um dos idealizadores do FMI e do GATT, funcionário durante décadas do Departamento de Estado e da SEC (a agência que, presumivelmente, cuida das Bolsas de Valores dos EUA).
Trata-se de um estudo empírico, publicado por Vernon em 1971, “Sovereignty at Bay: The Multinational Spread of U.S. Enterprises”, traduzido no mundo todo (inclusive no Brasil, já em 1978: “Soberania Ameaçada: A Expansão Multinacional das Empresas Americanas”; não conhecemos a tradução, mas ela foi bastante citada em trabalhos acadêmicos).
Pois bem, apesar do professor Vernon mostrar horror a tudo o que ele acha que é ideológico (como se ele mesmo não tivesse alguma ideologia), suas conclusões são semelhantes aos demais trabalhos sobre o assunto – o que está expresso no título que deu ao livro, apesar de, 10 anos depois, ter-se declarado arrependido por esse título. Mas não o mudou, embora tempo não lhe faltasse para fazê-lo, até seu falecimento, em 1999.
As únicas exceções a essa constatação sobre o IDE, naturalmente, eram os agentes diretos do capital estrangeiro como Gudin, Roberto Campos, Martínez de Hoz e seus equivalentes em outros países, todos alucinados por uma ditadura, que levaram as economias dessas nações, sob regimes tão entreguistas quanto repressivos, à bancarrota.
Não é difícil explicar porque, apesar disso, da década de 80 em diante apareceram tantos elementos propugnando que o melhor para as economias da América Latina, da África, da Ásia, do Leste europeu, é entregá-las ao arbítrio do capital norte-americano, ou germano-anglo-francês, ou japonês. A correlação de forças mundial é suficiente para explicá-lo – como na conhecida descrição de Lenin sobre o período de contrarrevolução que sucedeu 1905, “desânimo, desmoralização, cisões, dispersão, deserções, pornografia em vez de política. Fortalecimento da tendência para o idealismo filosófico, misticismo como disfarce de um estado de espírito contrarrevolucionário”. Como escreveu em outra ocasião – a da I Guerra Mundial – o mesmo autor, “toda crise na vida dos homens levanta alguns e abate outros”.
Mas é necessário voltar à própria história do que veio após o rompimento, pelos EUA, da relação entre o dólar e o ouro, para entendermos como uma mera série de slogans se impôs como ideologia desse período. No entanto, o que houve foi uma espécie de fusão entre uma ideologia preexistente, cinzenta, apagada e sem importância, com o que havia de mais reacionário, parasita e anti-humano nos países centrais: a cúpula dos bancos e demais antros especulativos, as aves de rapina do cartel bélico, os saqueadores do cartel do petróleo, e assemelhados. Vejamos, então, o surgimento dessa ideologia.
O neoliberalismo está associado, com razão, ao nome de Friedrich von Hayek. Esse austríaco era, na década de 30 do século passado, um saco de pancadas nos debates econômicos. O que ele fez depois só pode ser compreendido como uma manobra desonesta para eludir essas derrotas – e uma tentativa auto-ilusória de tornar-se imune à crítica.
Essa manobra consistiu em desistir de fundamentar suas concepções, já consideradas ultrarreacionárias naquela época, transformando-as numa crença sem nem ao menos uma teologia que procurasse sustentá-la. Com isso, Hayek abandonava as pretensões teóricas para adentrar no terreno da propaganda enganosa.
Como se pode criticar um credo sem demonstrar a falsidade do seu fundamento? Ao eliminar o último, Hayek pretendia escapar da crítica.
Evidentemente, a crítica mais demolidora a uma crença sem fundamento é a demonstração da sua falta de fundamento. Mas Hayek estava contando com uma vantagem não acessível aos seus oponentes: a mídia, que dispensa qualquer fundamento para afirmar as maiores barbaridades.
Mas voltemos ao início da carreira de Hayek.
Sua derrota mais estrondosa foi numa polêmica com o economista polonês Oskar Lange sobre a possibilidade de uma economia planificada – o “debate sobre o cálculo socialista”, em 1936.
Lange jamais foi um grande marxista. Pelo contrário, demonstrou em suas obras um entendimento no mínimo duvidoso sobre a teoria do valor – e sua concepção da sociedade socialista é basicamente aquilo que depois seria chamado, com infausto destino, “socialismo de mercado”.
Apesar dessas debilidades (que, aliás, só apareceriam plenamente em obras posteriores), Lange, no debate, demonstrou que a suposta impossibilidade do planejamento econômico, levantada por Hayek, era uma falácia. E, o que foi o golpe de misericórdia, Lange expôs o ridículo da posição de seu oponente, ao observar que, se o fundamento da teoria então defendida por Hayek, era que a oferta e a procura entram sempre em equilíbrio no “livre mercado” porque as decisões do homo economicus são sempre racionais (portanto, previsíveis), essa racionalidade tornaria o planejamento consciente da economia não só possível, como desejável. Levando às últimas consequências esse raciocínio, Lange mostrou que tal racionalidade dispensaria o “livre mercado”, pois ele seria completamente desnecessário se as decisões do indivíduo fossem sempre previsíveis. Nesse caso, inclusive, seria mais eficiente uma economia planificada sem qualquer mercado.
Com isso, Hayek ficou embaraçado pelo próprio fundamento da doutrina “neoclássica” de que, na época, era adepto – e o debate se encerrou com a acachapante vitória de Lange e dos marxistas.
O segundo debate mais importante, em que Hayek se envolveu, foi com John Maynard Keynes. Nessa época, Hayek recém chegara à Inglaterra – e foi logo brigar com Lord Keynes, então em ascendente prestígio, que o levaria a ser o mais renomado economista não-marxista nas décadas posteriores.
A questão em debate pode ser formulada em termos simples: “foi uma significativa contribuição de John Maynard Keynes ao pensamento econômico sugerir que a economia moderna bem pode entrar num equilíbrio de desemprego e baixo desempenho. Este foi o fato vívido da Grande Depressão” (Galbraith, “A Journey Through Economic Time”, 1ª ed., 1994, pág. 229).
Em outras palavras: a economia capitalista, na época dos monopólios, não sairia da crise por si própria, mas somente com a intervenção do Estado.
Foi essa “sugestão” de Keynes que Hayek resolveu contestar, seguindo também os “neoclássicos” e outros idólatras do mercado, segundo os quais, na crise iniciada em 1929 – como disse Schumpeter – se nada se fizesse, tudo se resolveria.
O fato de que, mesmo se fosse verdade, isso implicaria na morte por fome de milhões de pessoas, além das que já estavam morrendo, não era algo que preocupasse esses economistas. Muito menos, como ressaltava Keynes, a possibilidade, escandalosamente evidente, de que nem assim uma economia dominada por cartéis e monopólios sairia da crise.
Keynes não precisou se esforçar para vencer o debate – a economia capitalista, então na pior fase da crise, ganhou o debate para ele. Mas a realidade, é forçoso reconhecer, nunca foi um impedimento para Hayek.
Assim, massacrado por marxistas e keynesianos, Hayek renegou os fundamentos dos “neoclássicos” – ou qualquer outro – e, pouco antes do fim da II Guerra, em 1944, publicou um livro que é o marco inicial do neoliberalismo: “The Road to Serfdom” (O Caminho da Servidão).
Como qualquer um que o leia pode comprovar, esse livro é um panfleto – foi escrito para a campanha do Partido Conservador contra o Partido Trabalhista, nas eleições de 1945. A tese central é que qualquer forma de coletivismo, qualquer ideia de justiça social (“justiça distributiva”), qualquer aspiração “a uma distribuição mais justa”, vale dizer, qualquer preocupação social, é uma tirania e leva a uma ditadura. Liberdade é a mesma coisa que um suposto “livre mercado”, sem intervenções, controle nem regulações do Estado ou da sociedade. Em suma, Hayek pintava a ditadura dos monopólios – pois o único “mercado” que existe no capitalismo dos países centrais é aquele manietado por esses monopólios – como o reino da liberdade.
Como panfleto eleitoral, foi um fracasso: o Partido Trabalhista ganhou as eleições, apesar do líder conservador ser Winston Churchill, com toda a exposição midiática que seu governo, durante a guerra, lhe granjeara.
Mas, por que Hayek diz que a preocupação com a justiça social é uma tirania?
Obviamente, porque, na sociedade, quem deve prevalecer são os “mais capazes”. A igualdade é um ideal “tirânico” exatamente porque tiraniza os “mais capazes”. A liberdade seria, portanto, sinônimo de desigualdade e de egoísmo – não se trata de uma conclusão nossa, bem entendido. A única diferença em relação ao texto de Hayek está no seu uso da palavra “individualismo” ao invés de “egoísmo”. Também…
Mas o sentido é claro. É essa a defesa da democracia feita por Hayek, bastante coerente com sua declaração, 37 anos depois, ao passar em revista – in loco, pessoalmente – o seu maravilhoso paraíso neoliberal (o Chile, sob Pinochet): “Pessoalmente, eu prefiro um ditador liberal do que um governo democrático carente de liberalismo” (El Mercurio, 12/04/1981, entrevista, págs. D8/D9).
Vários autores, inclusive Paul Sweezy e John Kenneth Galbraith, já puseram em ridículo esse livro – portanto, aqui apenas observaremos que os “mais capazes” de Hayek são sempre os mais capazes de especular, os mais capazes de bajular, os mais capazes de enganar, os mais capazes de roubar, os mais capazes de pisar no pescoço dos outros, os mais capazes de subornar e/ou de ser subornados, etc., etc.
Por isso, os neoliberais pregam a “desregulamentação” de tudo e vivem berrando por um “Estado indutor” que garanta um “ambiente de negócios” que estimule esses “mais capazes”, isto é, que deixe à solta, sem nenhuma trava ou limite, a sua atividade antissocial. Senão, é uma terrível tirania.
Observemos que Hayek, nesse livro, desiste de qualquer fundamentação econômica – ele mesmo diz que seu suposto argumento é apenas “político”, isto é, consiste apenas em propaganda anticomunista e reacionária.
Na época, a reação até que fez um esforço para promover esse livro – a Universidade de Chicago, uma das obras filantrópicas de John D. Rockefeller, publicou uma edição nos EUA e um ex-comunista, que se tornara um fanático anticomunista (logo depois um assanhado macartista), publicou uma condensação no Reader’s Digest.
Mas esse tipo de publicidade somente fez com que o livro fosse encarado como o que realmente era: um panfleto delirante, em seu direitismo troglodita, de um autor capaz de criticar Hitler por ser demasiado “de esquerda” (literalmente: “o que levou ao totalitarismo não foi o elemento especificamente alemão, mas o elemento socialista”).
Hayek e sua seita continuariam a amargar sua apagada mediocridade pelos próximos 35 anos, mesmo quando “três anos depois, em 1947, enquanto as bases do Estado de bem-estar na Europa do pós-guerra efetivamente se construíam, não somente na Inglaterra, mas também em outros países, Hayek convocou aqueles que compartilhavam sua orientação ideológica para uma reunião na pequena estação de Mont Pèlerin, na Suíça. Entre os célebres participantes estavam não somente adversários firmes do Estado de bem-estar europeu, mas também inimigos férreos do New Deal norte-americano. (…) Aí se fundou a Sociedade de Mont Pèlerin, uma espécie de franco-maçonaria neoliberal, altamente dedicada e organizada, com reuniões internacionais a cada dois anos. Seu propósito era combater o keynesianismo e o solidarismo reinantes e preparar as bases de um outro tipo de capitalismo, duro e livre de regras para o futuro. (…) Hayek e seus companheiros argumentavam que o novo igualitarismo (muito relativo, bem entendido) deste período, promovido pelo Estado de bem-estar, destruía a liberdade dos cidadãos e a vitalidade da concorrência, da qual dependia a prosperidade de todos. (…) eles argumentavam que a desigualdade era um valor positivo – na realidade imprescindível em si” (Perry Anderson, “Balanço do neoliberalismo”).
Alguns autores, inclusive Galbraith, chamaram isso de “darwinismo social”. Em respeito a Darwin, que não tem nada a ver com isso, achamos o nome inadequado. Na verdade, o mais preciso seria chamá-lo de neo-nazismo. Embora seja também verdade que o nazismo, pelo menos no discurso, deblaterava contra a agiotagem e considerava como “inferiores” as “raças não-nórdicas” – e não a humanidade inteira.
4
O capital especulativo não cria valor. Pelo contrário, ele extrai valor, ele sequestra, saqueia valor que é criado pelo capital produtivo. Pela sua própria natureza, a ação econômica do capital especulativo é uma pilhagem do valor criado na sociedade – tal como é, também, uma pilhagem da renda nacional.
Portanto, não é espantoso que a especulação tenha encontrado, depois de tantas vicissitudes, no neoliberalismo a sua ideologia. Trata-se, rigorosamente, de uma ideologia de ladrões – e não vai nesta última palavra, pelo menos por enquanto, nenhuma conotação moral. É apenas um fato.
Vários autores afirmaram que a regulação estabelecida, sobretudo pelo governo Roosevelt, após a eclosão em 1929 da chamada Grande Depressão, conteve por 40 anos a voracidade do sistema financeiro nos EUA. Essa legislação, cujos últimos vestígios foram irresponsavelmente eliminados no governo Clinton, permaneceu intocada por sucessivos governos, inclusive republicanos, tal era o trauma causado na sociedade norte-americana pela depressão. Até a Corte Suprema – o grande bastião dos monopólios financeiros na década de 30 – não se atreveu a derrubá-la.
Ela era constituída basicamente por quatro pontos: 1) proibição dos bancos “nacionais” (isto é, não municipais) estabelecerem filiais, ou adquirirem outros bancos, além do limite de um Estado – ponto que era anterior a Roosevelt, criado pelo McFadden Act, de 1927; 2) separação entre bancos comerciais e “bancos de investimento” (isto é, especulativos); 3) estabelecimento de tetos para as taxas de juros; 4) separação entre bancos e companhias de seguro (cf. Thomas Philippon e Ariell Reshef, “Wages and Human Capital in the U.S. Financial Industry: 1909-2006”, National Bureau of Economic Research, 2009, pág. 33).
Em relação ao período anterior (1918-1929), período febril, de euforia maníaca e completa alucinação em Wall Street, não há dúvida que essa legislação fez recuar o setor meramente bancário.
No entanto, não é justificada a visão, exposta por alguns norte-americanos, de que o período em que vigorou essa regulação foi uma época idílica do capitalismo americano. Especialmente Paul Krugman deu forma a essa ilusão, após a eclosão da atual crise, referindo-se à uma supostamente maravilhosa “era dos bancos tediosos” (Krugman, “Making Banking Boring”, TNYT, 09/04/2009).
O capitalismo financeiro – o capitalismo monopolista mais acabado – não é um regime onde convivem separadamente os bancos e as empresas ditas não-financeiras. Pelo contrário, ele é a fusão de facto – e, às vezes, de jure, isto é, como propriedade legal – dos bancos com os demais monopólios, sob hegemonia dos primeiros. A especulação financeira não deixou de existir nos EUA entre a década de 30 e a de 70 do século passado. O que aconteceu foi a transferência de uma parte ponderável dela para as multinacionais supostamente não-financeiras (ver, p. ex., John Bellamy Foster e Hannah Holleman, “The Financial Power Elite”, Monthly Review, maio/2010).
Porém, mais importante do que isso, a legislação norte-americana tinha validade, naturalmente, sobre o território norte-americano. Não impedia os grandes bancos dos EUA de pendurarem outros países – como o Brasil – em empréstimos. Grande parte da liquidez desses bancos, consequência da maré de superlucros dos monopólios norte-americanos, foi dirigida para esses empréstimos externos. Obviamente, esse não é um problema da legislação norte-americana, mas uma consequência da situação política – o estabelecimento de ditaduras pró-americanas no chamado 3º Mundo – que permitiu o endividamento desses países. Mas essa parte do problema os nossos leitores conhecem bem.
Assim, iniciada a recessão de 1979-1982 nos EUA, a elevação, pelo Fed, sob administração de Paul Volcker, dos juros norte-americanos – de 10,9% (1978), eles foram sucessivamente a 13,3% (1979), 15,5% (1980), 19,6% (1981) e 19,5% (1982) – teve o efeito, além de quebrar os endividados países da periferia, de, ao drenar recursos do mundo todo para os bancos norte-americanos, colocá-los, mesmo em vigência da regulação, na melhor posição dentro da economia do país desde a década de 20. A tibieza dos democratas completou o serviço: a eleição de Reagan.
Evidentemente, com as corporações que lhes estavam ligadas, esses grandes bancos nunca desistiram de derrubar a regulação. Mas isso era tão impopular – inclusive nos meios políticos – que essa campanha permaneceu nas sombras até o final da década de 70. Foi então que os bancos precisaram de uma ideologia que “justificasse” um atentado contra o bom senso das pessoas. Esse é o papel instrumental, ou funcional, do neoliberalismo.
Essa passagem de culto ressentido de alguns ressentidos à ideologia oficial dos bancos, negocistas, mediocridades políticas e aventureiros acadêmicos, portanto, está ligada diretamente às dificuldades em que se meteram, ao engessar a economia, os monopólios e cartéis dos EUA.
No início da década de 90, Cláudio Campos fez uma observação aguda: a economia norte-americana passara a ser, principalmente, importadora de capital. O comentário foi feito quando o autor do presente artigo, sem dar-se conta das modificações ocorridas em quase 80 anos, publicou no HP o conhecido texto de Lenin, escrito em 1916, sobre a exportação de capital, que começa com as frases: “O que caracterizava o velho capitalismo, no qual dominava plenamente a livre concorrência, era a exportação de mercadorias. O que caracteriza o capitalismo moderno, no qual impera o monopólio, é a exportação de capital” (cf. Lenin, “Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo”, Ob. Esc. em seis t., T. 2, Ed. Progresso, Moscou, 1984, pág. 342).
Não era fácil perceber tal modificação – a julgar por alguns, continua não sendo fácil. Evidentemente, os monopólios dos EUA não deixaram de exportar capital – embora, nos últimos tempos têm exportado, em lugar de capital, quase que tão somente dólares sem lastro, o que é, a rigor, uma ficção monetária.
O fato é que a economia do principal país do centro do sistema não tem hoje nem a característica do “velho capitalismo” nem a do “novo”: é, sobretudo, uma economia importadora – tanto de mercadorias quanto de capital. Melhor epitáfio econômico para esse sistema não poderia existir.
Resumimos, na tabela abaixo, alguns dados do balanço de pagamentos dos EUA, atualizados no último dia 16 pelo Bureau of Economic Analysis (BEA) do Departamento de Comércio norte-americano (todos os dados já com ajuste sazonal).

As entradas de rendas de todo o mundo para os EUA – fundamentalmente, lucros extraídos em outros países -, em termos líquidos, aumentaram de US$ 51,624 bilhões, na década de 60, para US$ 828,011 bilhões de 2001 a 2010. Quanto aos serviços (por onde são remetidos para os EUA uma parte adicional de lucros), de um déficit de US$ -7,930 bilhões (1961-1970) passaram, de 2001 a 2010, a um superávit de US$ 906,224 bilhões.
Mas isso é em termos líquidos – descontando o que saiu dos EUA em “rendas” e “serviços”. Como, no caso dos EUA, essas contas são distorcidas por operações intrafirma das multinacionais, vejamos as entradas brutas. O total do que entrou nos EUA em rendas de todo o mundo aumentou de US$ 72,460 bilhões (1961-1970) para US$ 5 trilhões, 338 bilhões e 173 milhões (2001-2010). Nos serviços, o aumento foi de US$ 96,425 bilhões (1961-1970) para US$ 4 trilhões, 45 bilhões e 468 milhões (2001-2010).
Acrescentamos na tabela uma coluna com o fluxo de “investimento direto” norte-americano para comprar empresas (ou, às vezes, instalar fábricas) em outros países. Os neoliberais detestam essas comparações. Dizem eles, como se isso tivesse alguma coisa a ver com o assunto, que o “investimento direto” e as “rendas” (e “serviços”) não pertencem à mesma conta do balanço de pagamentos. Seria bom eles explicarem isso a certas autoridades econômicas que cobrem rombos causados pela remessa de “rendas” e “serviços”, precisamente, com o “investimento direto estrangeiro” (IDE).
Mas eles têm razão em detestar tal comparação. Se houvesse neles alguma seriedade, os idólatras do IDE teriam de explicar seus benefícios diante do fato de que o fluxo de “investimento direto” dos EUA para outros países aumentou de US$ 46,826 bilhões (1961-1970) para US$ 2 trilhões, 423 bilhões e 188 milhões (2001-2010), enquanto, no mesmo período, o fluxo de renda de outros países para os EUA aumentava de US$ 72,460 bilhões para US$ 4 trilhões, 45 bilhões e 468 milhões – e nem somamos ainda os serviços: se o fizermos, veremos que o aumento das remessas em rendas e serviços de outros países para os EUA passou de US$ 168,885 bilhões para US$ 9 trilhões, 383 bilhões e 641 milhões.
Apesar dos números gigantescos, essa entrada nos EUA de recursos vindos de outros países está subestimada. Não estão computadas as rendas que vieram dos “derivativos”, porque o órgão do governo americano que cuida dessas estatísticas não tem a menor ideia sobre isso – não há registros oficiais.
Desde meados da década de 50, os EUA vinham manipulando o dólar para beneficiar os seus monopólios. Apesar disso, dos países centrais (com exceção da Inglaterra), os EUA, de 1955 até a década de 70, foi o que apresentou menor crescimento. Sua participação no produto mundial caiu de 36% (1955) para 30% (1971). Entre os seis países mais industrializados, suas exportações desceram, entre 1955 e 1970, de 25% para 18,5% (cf. Ricardo Parboni, “The dollar weapon: from Nixon to Reagan”, NLR, 158, jul-ag/1986).
Porém, mais importante para o nosso tema, é a queda da taxa de lucro.
Parece haver um razoável consenso de que a taxa de lucro média das empresas não-financeiras dos EUA caiu cerca de 25% entre 1968 e 1982 (cf. Chris Harman, “Crise et taux de profit”, Inprecor, nº 556-557, jan./2010).
Porém, esse período é demasiado extenso – e o número carece de precisão. Em um trabalho bastante interessante, dois economistas franceses chegaram ao seguinte resultado para a taxa de lucro média das empresas não-financeiras dos EUA (incluídas 81,6% das empresas não-financeiras; foram excluídas as “altamente capital intensive”, aquelas em que os investimentos em capital fixo são muito maiores do que qualquer outro item): a) 1950-1959: 41%; b) 1960-1969: 38%; c) 1970-1979: 27% (cf. Gérard Duménil e Dominique Lévy, “The Profit Rate: Where and how much did it fall? Did it Recover? (USA 1948-2000)”, 2002, RRPE, Vol. 34, pp. 437-461; usando outro método, e dependendo da hipótese de tempo de uso das máquinas, chegou-se a outros números, mas o importante é que a tendência é a mesma – cf. Arnaud Sylvain, “Rentabilité et profitabilité du capital: le cas de six pays industrialisés”, Économie et Statistique n° 341-342, 2001).
Qual a importância dessa queda na taxa de lucro para o nosso assunto? A importância é que os monopólios, para contrarrestar essa queda, fazem, se puderem, sempre duas coisas: desviam dinheiro da produção para obter ganhos na especulação financeira e reduzem os salários. Ambas já eram mantras do neoliberalismo desde seu surgimento.
Com uma economia estagnada por mastodônticos cartéis, Nixon, ao romper a relação entre o dólar e o ouro, engendrou a condição para que a até então insignificante maçonaria neoliberal se cevasse. No entanto, os monopólios financeiros não adotaram o neoliberalismo porque chegaram à conclusão de que se tratava de uma doutrina muito lúcida. Pelo contrário, durante mais de três décadas os neoliberais se ofereceram aos bancos e especuladores dos países centrais – e foram seguidamente esnobados, até que a situação econômica tornou-os úteis como criados ideológicos.
Quando Nixon passou por cima dos acordos de Bretton Woods, o establishment dos EUA – inclusive a cúpula dos bancos – nada tinha de neoliberal. Como observa Morris, que foi executivo do Chase Manhattan Bank (e um dos que esboçaram os primeiros fundos de hedge), “na economia, Nixon foi keynesiano em todos os sentidos (…). Membros de seu gabinete tidos por conservadores tinham basicamente as mesmas visões, entre eles John Connelly, secretário do Tesouro e ex-advogado de empresas, e George Romney, secretário da Habitação e ex-presidente da American Motors. Romney declarou a certa altura que a economia dos Estados Unidos ‘deixara de se basear no princípio da livre concorrência empresarial’. Até Burns, um símbolo do conservadorismo, justificou o recurso ao controle de salários e preços declarando ao Congresso que ‘as regras da economia não estão funcionando exatamente da maneira como funcionavam antes’” (Charles R. Morris, “O Crash De 2008”, trad. Otacilio Nunes, Aracati, 2009, pág. 58).
O último citado, Arthur Burns, era o presidente do banco central dos EUA (Fed) – que é, desde sua fundação, em 1913, uma instituição privada, formada pelos grandes bancos norte-americanos.
No entanto, depois do rompimento da relação fixa entre o dólar e o ouro forjou-se uma economia de papel que permanentemente saqueia o setor produtivo. Tudo – inclusive, como se viu recentemente, os alimentos – tem importância apenas como “ativos financeiros”, isto é, transformados em papéis para apostas no “mercado-futuro”. A mercadoria, essa base do capitalismo, tem muito menos importância do que a sua fantasmagoria financeira. Os neoliberais, em verdade, detestam o mercado – por isso o substituíram por meia dúzia de banqueiros.
Tal monstruosidade fez com que alguns autores postulassem que estaríamos vivendo uma nova fase do capitalismo, que o economista norte-americano Paul Krugman denominou “financeirização”.
Já mencionamos que há características específicas da época atual. Mas não há diferença de qualidade em relação ao que já fora constatado no início do século XX. Apenas, a degeneração financeira chegou a limites extremos. Em 1916, o mais importante dos autores que estudou o problema ressaltava: “O rendimento dos rentiers é cinco vezes maior que o rendimento do comércio externo do país mais ‘comercial’ do mundo! Eis a essência do imperialismo e do parasitismo imperialista” (Lenin, op. cit., pág. 379, grifo do autor).
Hoje, quando, segundo dados do BIS e da OMC, os “derivativos” equivalem a 23 vezes a corrente de comércio mundial (isto é, em dólares, 23 vezes a soma das exportações com as importações mundiais), o exemplo aludido por Lenin parece muito modesto. Ainda mais quando o número do último boletim do BIS sobre os “derivativos” (US$ 582,655 trilhões) é uma estimativa que parece subestimada. E nem contabilizamos os títulos (“securities”) da dívida privada e pública de todos os países.
Apesar da monstruosidade a que chegou hoje a especulação, a diferença em relação ao capitalismo monopolista anterior a 1971 é, fundamentalmente, quantitativa – isto é, no grau de apodrecimento do sistema. Quanto ao fenômeno que todos esses números expressam, não há diferença qualitativa que nos permita falar em uma nova fase do capitalismo nos países centrais.
No mesmo livro que, por último, citamos, há uma descrição vívida do fundo do problema. Resumidamente:
“… os bancos convertem-se, de modestos intermediários que eram antes, em monopolistas onipotentes, que dispõem de quase todo o capital-dinheiro (…), bem como da maior parte dos meios de produção e das fontes de matérias-primas de um ou de muitos países. (…) Quanto à estreita relação existente entre os bancos e a indústria, é precisamente nesta esfera que se manifesta, talvez com mais evidência do que em qualquer outro lado, o novo papel dos bancos. (…) Simultaneamente, desenvolve-se, por assim dizer, a união pessoal dos bancos com as maiores empresas industriais e comerciais, a fusão de uns com as outras mediante a posse das ações, mediante a participação dos diretores dos bancos nos conselhos de supervisão (ou de administração) das empresas industriais e comerciais, e vice-versa. O século XX assinala, pois, o ponto de viragem (…) da dominação do capital em geral para a dominação do capital financeiro” (Lenin, op. cit., págs. 313-328, grifos nossos).
5
Alguns economistas descrevem a situação depois de 1971, quando o sistema financeiro internacional deixou de ter lastro no ouro, como um “sistema financeiro fiduciário”. Achamos o termo inadequado. A palavra “fiduciário” descreve operações que são baseadas na confiança entre as partes – ainda que uma, ou algumas das partes, não tenha alternativa senão “confiar” na mais forte financeiramente.
Podemos formular a questão de modo mais simples – ou, se não, pelo menos mais direto: a relação fixa do dólar com o ouro constituía-se num limite à especulação. Essa relação expressava – e era – um compromisso dos EUA com os outros países capitalistas em torno da preservação de um sistema financeiro comum. Em 1971, os EUA romperam esse compromisso – pode-se dizer: declararam guerra financeira aos outros participantes do sistema (isto é, todos os outros países capitalistas), aproveitando-se da vantagem (e que vantagem!) de ter o monopólio de emissão da moeda do sistema.
Se os EUA quebraram o compromisso que era a própria base do sistema, o que, então, mantém ainda esse sistema – mesmo tendo como lastro, para usar a expressão de De Gaulle, “papel pintado”? Como pôde (e pode) continuar existindo um sistema que é uma agressão aberta a todos os seus participantes, com exceção de um (nas palavras do atual presidente do banco central dos EUA, Ben Bernanke, “… o governo dos EUA tem uma tecnologia chamada máquina de impressão – ou, hoje, o seu equivalente eletrônico -, que permite a ele produzir quantos dólares quiser, essencialmente sem nenhum custo” – isto é, com os outros países arcando com esse custo)?
Esse sistema de guerra financeira aberta é mantido pela guerra propriamente dita (ou ameaça de guerra, isto é, por uma guerra oculta). O sistema financeiro atual, com o monopólio de um país sobre a emissão de sua moeda sem lastro, só existe devido ao poder militar dos EUA – e é impossível subestimar o fato de que os EUA ocupam militarmente aqueles países que poderiam ser os seus principais rivais no campo imperialista, a Alemanha e o Japão. Um economista norte-americano usou uma frase de efeito para sintetizar essa situação: “Os EUA são hoje uma superpotência militar, mas um anão econômico” (F. William Engdahl, “The Big Black Hole in the Dollar’s Future”, SCF, dez./2009).
Não vai nisso uma subestimação do poder financeiro e econômico que os EUA ainda conservam no mundo. Engdahl refere-se à economia nacional dos EUA, que, evidentemente, não deixou de existir – mas que entrou em liquidação, com seus monopólios, em busca da maximização dos lucros, transferindo unidades produtivas para outros países. Estavam, assim, liquidando a própria base de operações a partir da qual expandiram-se pelo mundo.
O chamado “pós-industrialismo”, sub-ideologia neoliberal segundo a qual os EUA deveriam ser um “país de serviços”, explorando os baixos salários industriais de outros países, significou a desindustrialização parcial e a redução violenta dos salários também dentro do país (ver Ian Fletcher, “The Death of the Postindustrial Dream”, Huffington Post, julho/2010).
Foi isso o que, a princípio, os neoliberais propagandearam sob o rótulo de “globalização” – cuja única face verdadeira, inextricavelmente ligada a esse processo, foi a “globalização” financeira, predatória e rapinante.
Porém, os interesses das multinacionais não são necessariamente (em verdade, rarissimamente são) os interesses de uma economia nacional, mesmo aqueles das economias onde têm a sua matriz. E as economias nacionais não desapareceram só porque os neoliberais propagandeavam que elas tinham deixado de existir – inclusive, a economia nacional dos EUA.
Por consequência, como sustentar uma economia nacional, se os empregos industriais estavam indo para fora do país, os salários estavam em queda e os EUA passaram a ser importadores dos produtos de suas próprias empresas, além dos produtos das empresas de outros países?
Em outras palavras: quem ia comprar mercadorias para fazer a economia nacional funcionar? Onde a população iria arrumar dinheiro para fazer suas compras – numa economia onde 70% do PIB, pelo menos, é oriundo de gastos com o consumo pessoal e que, do ponto de vista mundial, representa 50% do consumo de produtos industriais e agrícolas?
Para isso o neoliberalismo teve a mesma resposta de sempre, ou, melhor, a mesma falta de resposta: a especulação. Aumente-se o crédito a limites insustentáveis; se a população não tem dinheiro para comprar as mercadorias dos monopólios multinacionais – sejam os importados, sejam os ainda fabricados internamente – endivide-se a população, estimulando-a, inclusive, a gastos completamente supérfluos (era isso o que se chamou “consumismo”).
Assim, os empréstimos, as hipotecas (e não somente sobre moradias, mas sobre qualquer coisa que pudesse ser garantia de empréstimos) transformaram-se na mais florescente indústria dos EUA, precisamente devido a um arrocho salarial tremendo. Para completar, ao mesmo tempo em que os ricos eram aliviados dos impostos, os pobres tinham que sustentar a máquina bélica e burocrática.
O economista norte-americano Michael Hudson chamou isso de “suicídio pós-industrial”. Com efeito, “qualquer um dificilmente pode chegar à conclusão de que o problema enfrentado pelo emprego industrial dos EUA é que os assalariados precisam ganhar o suficiente para pagar pelos custos de moradia mais caros do mundo (a FDIC está tentando limitar as hipotecas a 32% do orçamento de quem toma emprestado), pelo serviço de saúde e pela previdência mais caros do mundo (retenção de 12,4% de impostos para a seguridade), pelos altos níveis de endividamento pessoal nos bancos e nas vorazes companhias de cartão de crédito (cerca de 15%) e pelos mais altos índices de transferência da propriedade e maior parcela de riqueza extraída do produto do trabalho e dos bens de consumo (outros 15% ou algo assim). O objetivo dos banqueiros é calcular exatamente quanto seus clientes podem pagar ao setor financeiro-hipotecário – definindo esse valor como tudo que eles puderem dispor além e acima dos custos de subsistência básica” (Michael Hudson, “Krugman, China and the role of finance”, nov./2010).
Entretanto, como não ver que, mais cedo do que tarde, esse endividamento crescente e estúpido iria levar à dinamitação da economia? Qual a solução dos neoliberais para tornar “sustentável” essa dívida colossal?
Ora, essencialmente, a mesma já referida: que se emitam papéis em cima dessa dívida, e, sobre esses papéis, outros papéis, e assim até o Armagedon; que se vendam esses papéis de papéis aos otários, de preferência com nomes incompreensíveis até para os próprios banqueiros e especuladores – “credit default swap”, “collateralized debt obligation”, etc., etc. (James Cayne, o capo do Bear Stearns, e George Soros confessaram sua ignorância sobre o que é um “credit default swap” – mas esse deve ser o lado normal deles; o anormal é que vendiam esses papéis aos bilhões).
Assim, com a compra e venda eterna dessa papelada, ancorada na propriedade alheia (a rigor, na capacidade – certamente mágica – dos proprietários de casas e outros bens pagarem uma dívida provocada exatamente pela queda na sua renda e induzida pelas miragens prometidas por fundos e bancos), todos seriam felizes para sempre sem precisar da indústria, esse trambolho que só serve para atrapalhar a especulação.
Se o leitor achou isso parecido com uma “pirâmide”, acertou. O “mercado financeiro” é um “mercado” de dívidas infinitas, que crescem em espiral – ou exponencialmente – supondo-se uma eterna “valorização” do papelório, ao mesmo tempo em que saqueia o único setor que realmente cria valor: o setor produtivo. O neoliberalismo é a idolatria da “pirâmide”. O sr. Madoff não fez nada que os outros – à solta e mandando nos EUA – não tivessem feito e continuem fazendo. Mas, quando chega a crise, é urgente caçar um bode expiatório…
O desabamento em dois tempos dessa papelada piramidal – em março (falência do Bear Stearns) e em setembro de 2008 (falência do Lehman Brothers) – não fez com que os vigaristas desistissem. Aliás, nisso estamos de pleno acordo com o ex-vice-presidente do Banco Mundial, Joseph Stiglitz: “Ou mandamos os banqueiros para a prisão, ou a economia não vai se recuperar”.
Esse desabamento também não fez com que o sr. Mantega deixasse de falar em um “mercado de debêntures”, isto é, um “mercado” de dívidas com os bancos privados, para financiar as empresas, no lugar do BNDES…
Tentamos dar uma ordem mais ou menos lógica a essa descrição, para torná-la compreensível ao leitor. Apenas, advertimos que nem esta pequena dose de lógica existiu, nem foi esta a ordem cronológica: os “derivativos” não surgiram para sustentar a dívida do consumidor norte-americano. Mais exato seria o contrário: o endividamento dos norte-americanos foi uma consequência não somente da redução no salário real, como também da especulação desenfreada do muito mal chamado “mercado financeiro”.
Naturalmente, para um mundo delirante como esse, a ideologia adequada teria que ser um delírio.
Mas como isso foi imposto aos países dependentes?
Nas condições da década de 90, antes de tudo, na falta de um poder que se contrapusesse ao do imperialismo norte-americano e seus satélites, pelo terrorismo. As ilusões só puderam prosperar (?!) porque foram absorvidas por gente economicamente – e, claro, ideológica e psicologicamente – aterrorizada. Nesse sentido, Pinochet não foi uma exceção, mas um pioneiro.
Os outros países dependentes, antes, foram quebrados pelos juros da dívida na década de 80 – e tratou-se a inflação e a estagnação desses países como se fossem responsabilidade exclusiva deles, e não, principalmente, da feroz espoliação que sofreram.
Daí a propaganda da “estabilidade” como se ela fosse um valor em si. Certamente, se perguntarmos sobre a estabilidade, todos, exceto os malucos, serão a favor, mas isso porque associaram a palavra a um determinado conteúdo: a estabilidade do bem estar, e, até mesmo, à estabilidade do crescimento. Não passará pela cabeça de quase ninguém que exista quem propugne pela estabilidade da miséria, da estagnação e do roubo.
Fora essa associação positiva, a “estabilidade” é uma noção muito boa para a astronomia (“o planeta Marte apresenta estabilidade, o que é um forte indício da ausência de vida”), mas especialmente idiota quando aplicada à economia, ou seja, ao esforço coletivo dos seres humanos para produzir.
No entanto, vemos acadêmicos e autoridades, sem se preocuparem em entender o que estão dizendo – e menos ainda em fazer os outros entenderem – falar em “estabilidade monetária”, “estabilidade macroeconômica”, “estabilidade financeira” e até em “estabilidade jurídica” (como se as leis e contratos não tivessem de ser adaptados quando há uma mudança na realidade – ou quando prejudicam a coletividade; mas essa “estabilidade” jurídica só vale para os monopólios, jamais quando o beneficiado é o povo).
Do ponto de vista dos neoliberais é fácil saber o que eles querem dizer com “estabilidade”: que o estado sublime da economia real é tornar “estável” a especulação, servindo como doadora em uma transfusão, permanente e perpétua, para bancos e assemelhados; e que não pode haver, jamais, qualquer mudança, pois isso perturbaria a “estabilidade”. Filosoficamente, são a favor da “estabilidade” porque senão a “estabilidade” seria perturbada…
Associada com essa propaganda da “estabilidade” tumular, está a de que não progredimos a partir de 1980 porque fomos “irresponsáveis” e não fizemos a “lição de casa”, ou seja, não entregamos a economia a um grupelho monopolista. O fato de que os juros do sr. Paul Volcker, na presidência do banco central dos EUA, quebraram o país, não é uma questão “válida”.
O mais interessante, e mais sintomático, é que trata-se de uma “estabilidade” muito peculiar, que significa, sempre, a iminência de uma catástrofe. Tudo é sempre justificado pelo terror a essa catástrofe – aumentos de juros, cacetadas sobre o crescimento, arrocho salarial, isenções fiscais para especuladores estrangeiros, câmbios que só flutuam para beneficiar tubarões externos, leis irresponsáveis que destroem Estados e municípios por restrições orçamentárias, leis de falência que colocam os trabalhadores com direitos abaixo dos banqueiros, superávits “primários” que não passam de sequestro do dinheiro público para transferi-lo aos bancos, atentados aos direitos previdenciários ou trabalhistas, privatização de empresas públicas lucrativas, desnacionalização da economia, e até leis de despejo sumário para proteger especuladores imobiliários, ao invés dos inquilinos.
Tudo se justifica pela iminência da catástrofe. Não é uma estranha “estabilidade”, leitor, essa que demanda sempre novas e mais custosas concessões da população, do Estado e do Tesouro para evitar a catástrofe?
Pois assim funciona o terrorismo da inflação e sua consequência, o sistema de “metas de inflação” (inflation targeting – tudo nessa miséria é tradução, de má qualidade, do inglês).
No Brasil, a aceleração inflacionária a partir da segunda metade da década de 50 foi uma consequência da monopolização da economia, que avançou com a entrada e/ou expansão das multinacionais, depois que a Instrução 113, emitida durante a gestão de Eugênio Gudin no Ministério da Fazenda e Octávio Gouveia de Bulhões na Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc), permitiu a entrada no país de máquinas e equipamentos usados sem cobertura cambial.
Na época, até 1964, não havia condição política de estabelecer no país um arrocho salarial. Assim, os monopólios privados recorreram ao aumento de preços – que equivalia a uma expropriação do salário, isto é, a uma queda no salário real. Por isso, falava-se na inflação como expressão de um “conflito distributivo” na economia, ou seja, a uma luta por uma maior parcela da renda nacional entre esses monopólios e os trabalhadores, que, com o salário crescentemente capturado pelos aumentos de preços, recorriam a mobilizações, inclusive greves, para recuperar o seu poder aquisitivo.
Naquele momento, havia um outro fator a impulsionar os preços: uma estrutura agrária atrasada que puxava para cima o custo de vida. Daí, entre outras razões, a ênfase do governo João Goulart na reforma agrária.
Depois do golpe de Estado de 1964, a política de arrocho salarial e contenção geral do consumo “contribuía ao combate à inflação não porque contivesse a demanda (…) mas, ao contrário, porque permitia que os monopólios aumentassem seus lucros sem ter que entrar em uma luta a morte com os trabalhadores; agora, já não necessitariam tentar enganar a estes com aumentos nominais de salários, aos quais compensavam com novos aumentos de preços (…). Por isso, a contenção salarial não era um mero instrumento de combate à inflação, mas uma exigência fundamental dos monopólios estrangeiros (…). Além disso, apresentava-se como uma condição estrutural do novo padrão de reprodução do capital” (Nilson Araújo de Souza, “A Longa Agonia da Dependência”, Alfa-Omega, 2004, pág. 113).
Quando a inflação acelerou outra vez, de 1974 em diante, nitidamente o problema estava, novamente, e de maneira mais evidente, na ação dos monopólios externos.
Contra eles, as medidas do antigo monetarismo – a contenção pura e simples da demanda – eram inúteis, pois a reação dos monopólios à queda nas vendas era, precisamente, a de usar o seu domínio sobre o mercado para aumentar os preços, portanto, aumentar a inflação. É isso o que explica a aceleração inflacionária que vai da segunda metade da década de 70 até a década de 90.
Naturalmente, existe uma solução racional para esse problema: aumentar os investimentos do setor não-monopolista, isto é, do setor nacional, privado e estatal, da economia para aumentar sua capacidade produtiva e sua parcela na produção e no mercado, vis-à-vis os monopólios. Em síntese, isso significa combater a inflação através do crescimento.
Mas, nesse momento, o país foi estrangulado pela crise da dívida externa, provocada pelo aumento nos juros dos EUA.
Também para isso havia uma solução racional: reagir a uma medida unilateral dos EUA, decretando a moratória da dívida externa e usar os imensos recursos imobilizados – a rigor, desperdiçados – no pagamento de juros para financiar os investimentos, a expansão da economia com base no setor não-monopolista, nacional.
Como os leitores sabem, isso não foi feito. Daí, amargamos taxas crescentes de inflação que entraram pela década de 90. Quando não se enfrentam os problemas, arca-se com as consequências. Foi assim, ou de modo semelhante, que a inflação transformou-se num espantalho para impor os maiores absurdos nos países em que a equipe econômica foi possuída pelo neoliberalismo. Em alguns deles – poucos, aliás – instituiu-se o já citado sistema de “metas de inflação”.
6
Não há questão onde se condense com mais nitidez o cunho do neoliberalismo do que a da inflação.
Bastante comum é a confusão entre o receituário para a inflação do antigo monetarismo, que nós conhecemos durante a ditadura, e o dos neoliberais. Trata-se de um engano, induzido pela própria propaganda neoliberal, semelhante àquele que identifica o mercado tão perfeito quanto Deus – típico da vulgaridade dita “neoclássica” – com o neo-credo posterior, no qual esse mercado é apenas retórico, ou, melhor, midiático no pior sentido da palavra.
Da mesma forma que os neoliberais não acreditam num mercado que equilibra a si mesmo, também não acreditam que a contenção da demanda (isto é, o garroteamento do consumo da população, esmagando um dos lados do “conflito distributivo” dentro de um país) seja remédio para a inflação. Naturalmente, eles também são a favor de conter a demanda, mas por outras razões – basicamente porque a produção “desvia” dinheiro da especulação.
A diferença de fundo consiste em que o ponto de vista neoliberal não é mais aquele – como o era, sofrivelmente, o dos “neoclássicos” – da economia de um país. Pelo contrário, o único ângulo sob o qual veem a economia é o dos monopólios e cartéis dos países centrais, mais exatamente, o do financismo transnacional. Note-se, inclusive, que isso também não é o ponto de vista da economia nacional desses países centrais – nem mesmo a dos EUA. Não são, por exemplo, os interesses da economia norte-americana em geral que eles defendem, mas apenas aqueles do seu setor mais parasitário.
Ao contrário dos seus antecessores, eles assumem, na prática (embora não em seus panfletos), que o “livre mercado” não existe mais, que a economia dos países centrais foi encarcerada por monopólios financeiros, que a economia internacional é um pasto das multinacionais, de alguns bancos e de peixes menores que comem o que os maiores já digeriram. Sua – digamos assim – originalidade está em que são a favor de tudo isso, e acham pouco: querem que o mundo todo seja submisso a essa pilhagem.
Assim, seu pseudo-combate à inflação consiste em despejar sobre os países dependentes os estoques de mercadorias encalhadas dos monopólios que têm sua matriz nos países centrais. Para fazê-lo, receitam a manipulação do câmbio dos outros países – isto é, fazem com que os países dependentes concedam fenomenais subsídios cambiais para baratear artificialmente as mercadorias importadas, em relação às produzidas internamente.
Daí, as aberrações no câmbio impostas burocraticamente – a la Menem & Fernando Henrique – ou pela tapeação, a la Meirelles, com taxas de juros extorsivas para atrair dólares, hipervalorizando a moeda nacional, além de intervenções cavilosas no fechamento do “mercado de câmbio”.
Para explicitar a questão: em 1991, que lógica havia, num país como a Argentina, com um PIB que era 31 vezes menor que o dos EUA, em decretar que um peso valia um dólar?
A lógica era fazer com que os produtos importados, barateados em relação à produção interna por essa supervalorização do peso, invadissem a economia argentina.
Isso explica, também, outro fenômeno: o Brasil, nos oito anos anteriores ao governo Fernando Henrique, importou mercadorias no valor total de US$ 168,510 bilhões (1987-1994); esse valor mais do que dobrou no governo tucano: US$ 428,586 bilhões (1995-2002); e dobrou mais uma vez nos oito anos seguintes, com Meirelles no BC: US$ 879,159 bilhões (2003-2010).
Em suma, a média anual foi de US$ 21 bilhões para US$ 109,9 bilhões – portanto, o valor das importações mais do que quintuplicou entre 1994 e 2010.
Não precisamos dizer que não foram, em geral, importações de mercadorias que não fabricássemos ou não pudéssemos fabricar. O leitor tem sua própria experiência para comprová-lo.
Há quem tenha a opinião de que essa avalanche de importações é normal, que isso é um sinal de crescimento, etc. Mas é preciso, na melhor das hipóteses, estar anestesiado para ter essa opinião, pois, para começo de conversa, isso significa que o país está impedido de crescer além de certo limite – ou haverá um estouro nas contas externas, devido às importações (sem contar, para piorar a situação dessas contas, o aumento das remessas de lucros devido à desnacionalização da economia).
O meio de executar essa substituição da produção interna por importações foi a hipervalorização do real. Depois do terrível período em que Fernando Henrique devastou a indústria nacional com a imposição de uma quase completa paridade com o dólar, a ação do Banco Central fez com que sua cotação, de R$ 3,60 (início de 2003 – dólar médio desse ano: R$ 3,07), hoje mal se aguente em torno de R$ 1,65 (cf. BB, “Indicadores Econômicos Financeiros” e BCB, “Boletim/BP”; usando a cotação média de cada ano e descontando a inflação, verifica-se que nenhuma das moedas dos 40 países de maior relação comercial com o Brasil sofreu “valorização” comparável ao real).
Não faremos comentários sobre os que propagandeiam esse estrupício como a conquista, enfim, pelo país, de uma “moeda forte”. Nossa paciência com a idiotice também tem seus limites. Se isso fosse bom, os EUA não estariam atropelando todos os outros países para desvalorizar o dólar.
Voltemos à inflação.
O problema desse “método” é conhecido (e óbvio): o imenso subsídio cambial às importações para barateá-las (a rigor, um dumping cambial) deixa a indústria nacional, que tem seus produtos encarecidos pela mesma razão, sem condições de competir – e não por uma deficiência dela, mas porque a política monetária é de favorecimento aberto aos monopólios externos. E não somente a indústria é afetada, como lembrou o senador Blairo Maggi, dono do grupo empresarial que é o maior produtor de soja do mundo, durante o recente depoimento do atual presidente do BC ao Congresso.
Por um meio totalmente artificial e manipulatório, uma taxa de câmbio irreal, tira-se a competitividade dos produtos fabricados dentro do país e paga-se aos monopólios externos para que quebrem o que há de nacional na economia – pois as filiais de multinacionais simplesmente passam a importar o que antes produziam aqui. Além disso, com o encarecimento do que é produzido em reais, as exportações são crescentemente travadas.
Já havíamos, várias vezes, abordado esse problema. Mas há outro: tão logo os monopólios e carteis quebram ramos da indústria nacional, aproveitam-se do domínio sobre o mercado para aumentar, de qualquer jeito, os preços dos produtos importados – sem que haja indústria nacional que possa substituir as importações, o suposto “combate” à inflação vai para o espaço.
É exatamente um ensaio disso que está acontecendo neste início de ano, com um aumento nos preços dos importados.
Era inevitável que isso acontecesse quando há uma crise nos países centrais. Quanto a isso, são inúteis as convocações do ministro Mantega aos demais países do mundo (“Vou fazer um apelo para que os países entendam o seguinte: ou todos fazemos um jogo comum, respeitando as regras de câmbio flutuante, ou cada um vai buscar seus interesses, o que vai causar conflitos”).
Parece até que há dúvidas sobre qual é – e sempre foi – a opção dos monopólios norte-americanos, europeus e japoneses…
Mais ou menos a mesma coisa é a alternativa do sr. Tombini, presidente do BC: em vez de reduzir os juros escorchantes, principal causa da hipervalorização do real, esperar que os outros países aumentem os seus juros (“a situação de juros baixos no mercado internacional não é uma situação permanente. Portanto, os juros lá fora devem voltar a crescer e ajudar a taxa de câmbio doméstica a se desvalorizar”). Tombini acrescentou que “ninguém tem bola de cristal” (sic) para saber quando isso acontecerá. Ainda bem. Agora estamos todos tranquilos.
Como os leitores sabem, não somos admiradores da política do sr. Luciano Coutinho no BNDES, mas ele tem toda razão ao declarar que “a apreciação da taxa de câmbio é nociva. Não podemos ser ingênuos. Temos que proteger a competitividade das empresas e a geração de empregos no Brasil”.
Esse “método” de tratar a inflação é apenas um subproduto do que realmente interessa aos neoliberais: descarregar nos países dependentes as mercadorias dos monopólios multinacionais, desindustrializando ou impedindo a industrialização dessas economias, tornando-as mercados cativos.
Então, para que serve o “sistema de metas de inflação”?
Esse sistema pode ser resumido brevemente: estabelecida uma “meta” de inflação, qualquer desvio em relação a essa meta significa um aumento automático da taxa de juros básicos, isto é, da taxa que é o piso dos juros na economia. Naturalmente, o ganho com juros é, precisamente, a diferença entre sua taxa nominal e a inflação. Quanto maior essa diferença, maior o ganho dos bancos e demais especuladores. Quanto mais elevados os juros nominais e mais baixa a inflação, maiores os juros reais – que são o ganho dos que especulam com a dívida pública.
Como elementos correlatos do “sistema”, estão uma série de condições – necessárias, segundo seus defensores, para que ele funcione. A mais peculiar delas é chamada “taxa natural de desemprego”, isto é, uma parcela da população (no Brasil há quem discuta se são seis, oito, dez, doze ou quinze milhões de pessoas) tem de estar permanentemente desempregada para que os salários não aumentem, pois isso causaria inflação…
Procuramos fornecer a descrição mais neutra que conseguimos desse maravilhoso sistema. Mas, continuemos.
O autor mais citado pelos defensores do “sistema” – e seu maior entusiasta – é o atual presidente do banco central (Fed) dos EUA, Ben Bernanke, co-autor de “Inflation Targeting: Lessons from the International Experience” (Princeton University Press, 1999).
Sendo assim, por que o banco central dos EUA jamais adotou, nem pretende adotar, qualquer sistema de “metas de inflação”?
Uma pergunta adicional: por que a União Econômica e Monetária Europeia exige dos países que pretendem adotar o euro que não usem esse “sistema”, inclusive obrigando a Finlândia e a Espanha a abandoná-lo? Na União Europeia, os únicos países que o usam são os que não adotaram o euro – a Inglaterra, cada vez mais uma colônia econômica norte-americana, e a Suécia, que seguia por esse caminho infeliz (com a crise, ambos foram obrigados a “ajustar” o sistema com uma colossal redução nos juros, pois os bancos ameaçavam levar-lhes até o que não é educado falar em público).
Mais uma pergunta adicional: por que o Japão não usa esse sistema?
A resposta a essas perguntas, certamente, não é a fornecida pelo sr. Bernanke: a de que esse sistema é bom para os outros, que têm inflação alta. Até porque, quando o então presidente do BC, Armínio Fraga, fez o país adotá-lo, a inflação não era alta no Brasil. A mesma coisa aconteceu nos outros países que adotaram o sistema: como lembrou recentemente o economista Yoshiaki Nakano, “esse sistema foi criado num contexto desinflacionário” (cf. Valor Econômico, 16/03/2011, grifo nosso). Não foi para combater a inflação, portanto, que ele foi instituído.
A resposta a essas perguntas, na verdade, tem mais relação com a carreira do sr. Fraga no Quantum Fund, de Soros e dos Rothschild, do que com a inflação.
Esse sistema é “desenhado” para que os bancos e fundos norte-americanos (os últimos, em geral, com sede oficial em lugares como as Cayman ou Curaçao) aumentem seus ganhos com os papéis da dívida de outros países. Ele é, meramente, uma forma de aumentar a drenagem de recursos, via juros, para os EUA. Certamente, também um fundo japonês poderá se beneficiar desse sistema no Brasil. O que os japoneses (e europeus) não querem é um sistema que beneficie (e escandalosamente) os bancos e fundos norte-americanos no Japão (ou na Europa do euro). Aliás, nem os norte-americanos querem um sistema que poderá beneficiar fundos e bancos de outros países nos EUA…
Qual o resultado desse sistema no Brasil?
Segundo o “Financial Times”, órgão da City londrina, em artigo publicado antes dos dois últimos aumentos de juros, “o capital internacional está submergindo o Brasil [pois os títulos] “fornecem uma taxa líquida de cerca de 11%. ‘Isto é mais alto do que você pode conseguir em qualquer outro lugar’, disse Kieran Curtis, administrador de fundos em mercados emergentes da Aviva Investors, que gerencia 1,3 bilhão de libras esterlinas em títulos de países emergentes” (cf. “Brazil ready to retaliate for US move in ‘currency war’”, FT, 04/11/2010).
As “metas” são um artifício para esticar, e haja esticamento, o ganho com os juros. O golpe (não encontramos palavra mais adequada) é estabelecer uma meta de inflação a mais baixa possível e uma taxa de juros a mais alta possível, e amputar o crescimento, o emprego, os salários, os lucros dos empresários produtivos, as despesas correntes, os gastos sociais, os investimentos – em suma, o Orçamento – para que se “adaptem” a essa esbórnia.
Por isso, a definição de qual é a “meta de inflação” nada tem a ver com a economia real, mas com os ganhos dos bancos e demais especuladores (se o leitor tiver humor para tanto, cf. a discussão, inteiramente maluca, sobre qual deve ser a “meta” na Inglaterra, no artigo de um professor que leciona em renomado templo neoliberal, a London School of Economics: Charles Bean, “The New UK Monetary Arrangements: A View from the Literature”, The Economic Journal, Londres, nov./1998).
Quando os bancos querem ganhar mais – e sempre querem – a “meta de inflação” torna-se insuficiente e passa-se a falar em “centro da meta”. Por exemplo, atualmente, no Brasil, a “meta de inflação” é uma faixa que vai de 2,5% a 6,5%. Mas, segundo a teoria importada pelo sr. Meirelles, o que interessa é o “centro da meta” (4,5%). Qualquer número que vá além desse “centro” demanda um aumento imediato de juros, não importa que a inflação esteja dentro da meta (como a de 5,9% que serviu de pretexto ao aumento de juros em janeiro, pelo Banco Central).
E, como a voracidade especulativa é insaciável, há os que pregam – como o atual presidente do BC – que a “meta” (e o “centro da meta”) tem de ser decrescente, portanto, tendente a zero. O fato de não existir crescimento capitalista com inflação zero não é um impedimento para esse tipo de estupidez. Nenhum deles está preocupado com o crescimento, o emprego, os salários – eles já garantiram os seus – e, muito menos, com a miséria.
Evidentemente, é tautológico que quanto mais irreal a “meta de inflação” (ou o “centro da meta”), mais probabilidade existe da realidade não se enquadrar a ela, portanto, do índice de inflação ser maior do que a meta ou o centro da meta – o que serve de pretexto para mais aumentos de juros.
Também pouco importa a inflação real, por mais baixa que seja. Segundo a diretoria do BC, o problema é o “cenário prospectivo” (a inflação de daqui a nove meses) – que sempre estará acima do “centro da meta” se os juros não forem aumentados agora…
Do mesmo modo, não importa a causa da inflação. Se o problema é a especulação com produtos primários (“commodities”) nos EUA, o “sistema de metas” aumenta os juros, como diz o professor Nakano, para “reprimir os demais preços das não commodities”, isto é, os preços que não tiveram elevação ou não tiveram influência na elevação da taxa de inflação.
Na primeira parte deste artigo, prometemos apresentar um exemplo do vácuo mental do neoliberalismo. Os acontecimentos tornaram-no dispensável: tratava-se do anúncio de cortes orçamentários, feito pelo ministro da Fazenda, onde ele, literalmente, repetiu o relatório emitido em outubro pelo FMI até nas alterações terminológicas (“consolidação fiscal” ao invés de “ajuste fiscal”, etc.).
O neoliberalismo tem essa vantagem: não é preciso pensar, basta repetir.
Muita tinta – e saliva – foi despendida, por exemplo (afinal, aí vai um exemplo…), em torno da famosa “relação dívida/PIB”, outro espantalho para que governos façam repasses bilionários aos bancos. Há alguns anos, o então ministro da Fazenda, Antonio Pallocci, declarou que eram necessários 10 anos com um “superávit primário” – isto é, um confisco do Orçamento para os bancos – de 4,25% do PIB (em números de 2010: R$ 156,2 bilhões) para reduzir essa “relação”. Não lhe passou pela cabeça, além da óbvia diminuição dos juros para poupar o país desse sacrifício, que é possível reduzir a “relação dívida/PIB” através do aumento do PIB, isto é, pelo crescimento – como apontam, há muito, até trabalhos econométricos com uma perspectiva completamente diferente da nossa (ver, p. ex., J.C.J. de Carvalho, “Tendência de Longo Prazo das Finanças Públicas no Brasil”, IPEA, maio/2001).
Entretanto, o neoliberalismo não é a primeira histeria reacionária que substitui ideias por uma ladainha de slogans. O nazismo também era assim. Se o leitor estranhou a referência, pedimos que lembre os milhões de seres humanos que morreram no desemprego e na fome durante os últimos 30 anos.
Mas talvez Paul Sweezy tenha razão ao dizer que, no ocaso do capitalismo monopolista, a reação deixou de ter uma ideologia – um conjunto de ideias que fornecia uma visão mais ou menos coerente, ainda que não essencialmente verdadeira, do mundo.
O neoliberalismo, portanto, é uma decomposição, uma putrefação ideológica. O fato dos acontecimentos – em especial aqueles do Leste europeu – ter-lhe dado, por debilitamento da oposição a ele no início dos anos 90, um destaque inesperado, não muda nem um pouco esse seu cunho de apodrecimento ideológico de um sistema apodrecido.