CARLOS LOPES
Temos, 130 anos depois da Proclamação da República, um governo que, além de fascista, é monarquista. Sem falar nessa alma penada do Weintraub, com seus ataques ao marechal Deodoro – tão imbecis quanto ignorantes -, outro dia apareceu, até mesmo, um membro da suposta “família real” (na verdade, “família imperial”), um bolsonarista de carteirinha, para dizer que espera que Bolsonaro seja o último presidente da República no Brasil.
Ao se calar, mesmo quando o Exército é insultado, mesmo quando heróis nacionais, como Deodoro, são caluniados, Bolsonaro não somente mostra que tem a mesma opinião, como estimula essa matilha.
Porém, sobre os Bragança, Silva Jardim e José do Patrocínio já disseram o que poderia ser dito: com uma exceção (D. Pedro I), que serve para confirmar a regra, foram uma das mais medíocres dinastias que já apareceram na face da Terra.
Mas não foram apenas medíocres. Então, no intuito de prepararmo-nos para o passado, lembremos um dos episódios mais edificantes dessa cambada, algo que poderá, também, servir de introdução, para quem sempre viveu em uma república, sobre o que é – porque assim foi – a monarquia.
Contou o grande advogado (e ministro do STF, aposentado pela ditadura) Evandro Lins e Silva, que, depois do Ato Institucional nº 5, ao renunciar à presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Gonçalves de Oliveira lembrou “um caso ocorrido no Império em que foram aposentados vários ministros do Supremo pelo imperador Pedro II, porque teriam decidido uma causa contra os interesses da condessa de Barral, sua amante. Nessa ocasião, o presidente da Corte, se não me engano, barão ou conde de Monserrate, demitiu-se da presidência do Tribunal” (cf. Evandro Lins e Silva, O Salão dos Passos Perdidos: depoimento ao CPDOC, Nova Fronteira/FGV, 1997, p. 400).
Na própria posse de Gonçalves de Oliveira na presidência do STF, no dia 12 de dezembro de 1968 (véspera do AI-5), o ministro Luiz Galotti já lembrara o caso:
“O gabinete [do marquês de] Olinda, sendo o visconde de Sinimbu ministro da Justiça, aposentou em 1863 quatro juízes do Tribunal: Gustavo Adolfo de Aguiar Pantoja, Tiburcio Valeriano da Silva Tavares, Cornélio Ferreira França e José Antônio de Siqueira e Silva. Informa Pedro Calmon, em O Rei Filósofo, que o fato decorreu de queixas formuladas a D. Pedro II pela condessa de Barral, que se dizia prejudicada na herança do sogro, e culpando aqueles juízes. Carneiro de Campos, o senador Dantas, e Silva da Motta atacaram a medida por contrária à Constituição. Defenderam-na Francisco Otaviano e Zacarias. Monserrate protestou, demitindo-se da presidência. Os advogados, à frente Ferreira Vianna, lhe ofereceram uma coroa de louros, que hoje se encontra no Instituto Histórico da Bahia, terra do seu nascimento” (cf. Correio da Manhã, 13/12/1968, primeira página).
O Poder Executivo, pela Constituição de 1824, era exercido pelo imperador, assim como o Poder Moderador. O parlamentarismo do Império sempre foi informal. Era exercido como um empréstimo ao poder do imperador. Jamais esteve em lei – muito menos na Constituição.
Mas a Constituição não permitia que o imperador aposentasse quatro ministros do Supremo Tribunal – muito menos dava esse poder ao ministro da Justiça, muito menos quando não havia prova alguma contra eles.
E, muito menos, é forçoso acrescentar, quando as razões originárias (aliás, todas) tinham o indisfarçável odor da alcova imperial.
É tão fora de esquadro, que sempre é bom perguntar: foi verdade?
Entretanto, como lembrou o ministro Galotti, até o mais bajulador dos biógrafos de Pedro II (e, nesse quesito, a competição é grande, muito grande), registra o fato:
“Por que aposentou, com violência, acima da lei, ministros do Supremo Tribunal de Justiça, num escândalo administrativo que enervou o país? Por íntima convicção: o conde de Barral, esposo da preceptora de suas filhas, a espiritual senhora de Barral e Pedra Branca – queixara-se, ao partir para a Europa, que parte da herança do sogro ficara nas engrenagens do foro, comida por juízes fáceis… Hein? Abriria inquérito… Viu que isso não produziria nenhum resultado. Já, noutra feita, justificando semelhantes aposentadorias disciplinares, Nabuco de Araújo confessara, que nunca se provam acusações assim… Então, furioso, impusera ao ministério o decreto corretivo, que arrancava à nobreza das togas o melhor privilégio, a intangibilidade. O ministério aprovou. Resistiu, com uma impávida teimosia, o presidente da corte, Monserrate, velhinho e irredutível, estadista da lndependência e como enfibrado de aço, que preferiu demitir-se, a ceder. Foi, pelo povo, pela oposição, homenageado, com uma coroa de louros. D. Pedro II conservou-se mudo. Não explicava, não falava mais, não retrocedia, como se o lápis azul, o ‘fatídico’, lhe tivesse traçado, no seu papel de rei, uma fronteira sagrada” (cf. Pedro Calmon, O Rei Filósofo, CEN, 1938, pp. 123-124).
[NOTA: Necessário é, aqui, reconhecer um mérito (existem outros, certamente) no livro de Pedro Calmon: ele não esconde o episódio, como faz a maior parte dos biógrafos de Pedro II (exemplo: “As Barbas do Imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos”, de Lilia Moritz Schwarcz); nem o deforma, como faz, por exemplo, Heitor Lyra, ao atribuir a atitude de Pedro II ao seu senso de justiça, como se estivesse provada a “prevaricação” dos juízes: “Nada o pôde deter nessa medida violenta, mas da mais alta moralidade: nem a oposição tremenda que se levantou contra ela no Parlamento, e na imprensa, nem a intervenção aberta e decidida do presidente do Supremo Tribunal, sob a razão de ser aquela medida flagrantemente inconstitucional” (cf. Heitor Lyra, História de Dom Pedro II, vol. 2º, CEN, 1939, pp. 432-433).]
A medida era flagrantemente inconstitucional. Tal como escreveu um dos atingidos, em um “a pedido” nos jornais, usando a costumeira tática, durante o Império, de mirar no preposto para atingir o mandante (pois os atos do imperador, pela Constituição de 1824, não podiam ser submetidos à Justiça):
“Acabo de saber que por decreto de 30 de Dezembro passado fui aposentado no lugar de ministro do Supremo Tribunal de Justiça que exercia; com o fundamento de conveniência de serviço, que é o mesmo que dizer por prevaricação, nódoa que até hoje ainda ninguém me lançou, e que, para me ser lançada, estava reservada para o Sr. João Vieira Lins Cansanção de Sinimbu, atual ministro da justiça do partido liberal ou progressista. Declaro que protesto contra este ato, e rejeito uma tal aposentadoria, como ilegal e contrária à independência do poder judicial, e vitaliciedade de seus membros, por ser contra os arts. 151, 153 e 155 da Constituição, os quais estabelecem que o poder judicial é independente, que os juízes de direito são perpétuos, e que só por sentença poderão perder o lugar. Espero que o corpo legislativo, que é superior ao Sr. ministro, não aprovará este ato arbitrário, violento e ilegal; e me reservo para em tempo competente (se me parecer) dar a minha denúncia de responsabilidade contra este ministro da justiça prevaricador e infrator da Constituição, porque deve ficar certo o Sr. conselheiro Cansanção que a pecha de prevaricação não é atributo só próprio dos magistrados, e sim também de ministros de estado e outros altos funcionários.
“O conselheiro Cornelio Ferreira França.
“Rio de Janeiro, 12 de Janeiro de 1864.”
A aposentadoria dos quatro ministros do Supremo fora decretada durante as férias do Judiciário, para impedir maior resistência dos juízes a um ato escandalosamente ilegal.
Mas quando o Tribunal se reuniu, em começos de 1864, seu presidente, o barão de Monserrate, recusou o decreto que aposentava os quatro ministros e devolveu-o ao governo.
Porém, o novo ministro da Justiça, Zacarias de Góis e Vasconcellos, manteve o ato, com o seguinte fundamento:
“Não sendo admissível que um tribunal de tal ordem continuasse a dar tão perigoso exemplo, resolveu o governo imperial, por aviso de 4 de fevereiro deste ano, fazer sentir ao conselheiro, Barão de Monserrate, presidente do mesmo tribunal, o dever de, por sua parte, fielmente executar os mencionados decretos, negando assento aos aposentados, sob sua responsabilidade. Recusando-se o mesmo presidente a satisfazer as ordens do governo imperial solicitou em 4 do referido mês sua exoneração que foi aceita” (cf. Relatório do Ministério da Justiça do ano de 1863, Império do Brasil, p. 8).
O “perigoso exemplo” consistia em cumprir as leis, contra a cafua imperial e suas adjacências.
Não falamos, intencionalmente, na escravidão. Tudo que mencionamos foi coisa de brancos (apesar dos rumores sobre o pai da condessa de Barral, o visconde de Pedra Branca, chamado pelas costas, por alguns outros cortesãos, de “visconde da Pedra Parda”).
É evidente, então, por que o jovem Machado de Assis considerava “república” como sinônimo de “democracia”, ou, pelo menos, como um requisito dela. Por exemplo: “O jornal é a verdadeira forma da república do pensamento. É a locomotiva intelectual em viagem para mundos desconhecidos, é a literatura comum, universal, altamente democrática, reproduzida todos os dias, levando em si a frescura das ideias e o fogo das convicções” (cf. Machado, “O jornal e o livro”, Correio Mercantil 10-12/01/1859).
A monarquia, por sua vez, era o oposto da democracia, e, no caso das monarquias constitucionais, “as constituições são os tratados de paz celebrados entre a potência popular e a potência monárquica” (Machado, idem).
Mas nem esse “tratado de paz” era respeitado pela monarquia.
Lúcio de Mendonça – discípulo de Luiz Gama, republicano, ministro do Supremo Tribunal Federal, procurador geral da República e principal articulador na fundação da Academia Brasileira de Letras (aquela, com seu amigo Machado de Assis na presidência) – disse, sobre Pedro II e seus cortesãos, ainda aboletados, já na República, no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB):
“É bom que estes velhacos vejam que custa pouco reduzir a cacos um imperador” (citado por seu filho Carlos Sussekind de Mendonça in “Quem foi Pedro II: golpeando, de frente, o saudosismo”, Brandão, Recife, 1929).
Lúcio de Mendonça tinha razão – e estava falando de gente (como Afonso Celso e Max Fleiuss) que estava a uns duzentos milhões de anos-luz, para cima, em inteligência e cultura, dos monarco-bolsonaristas.



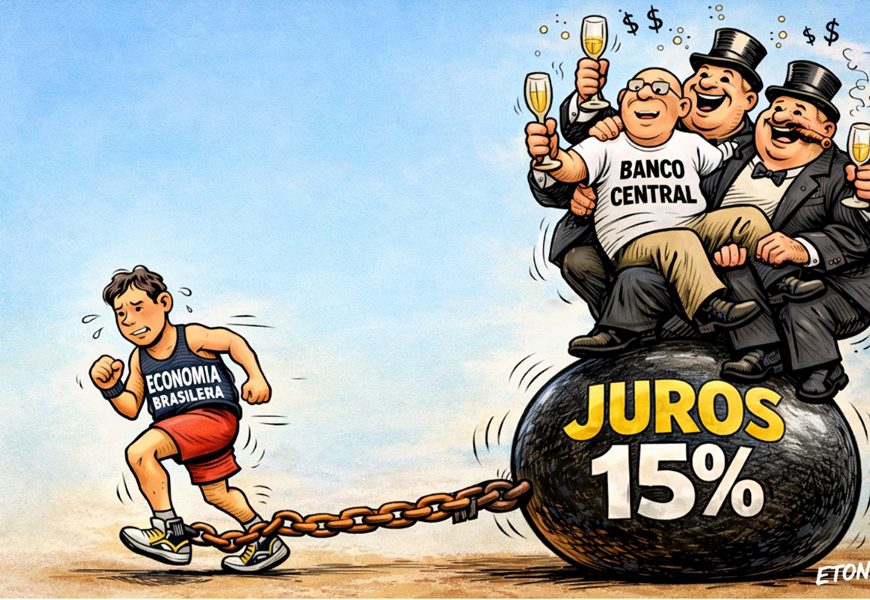











Respostas de 2
A República foi um anseio popular ou originou-se do exército?
O Exército não faz parte do povo?