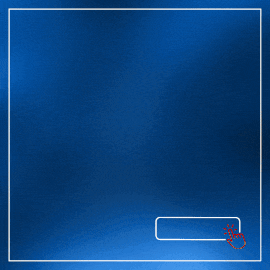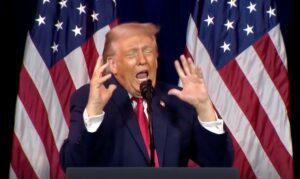A decadência da economia dos EUA – cujo contraponto é a ascensão da China e de outras economias – não chega a ser nem mesmo um segredo de polichinelo. O rentismo, interno e externo, afundou a indústria norte-americana, impondo um processo de desindustrialização, tanto através do offshoring, quanto através da marcha fúnebre das falências e outros fechamentos de empresas produtivas, provocando a desaceleração do crescimento, isto é, a estagnação.
Não é uma novidade. Referindo-se a um país muito mais atrasado – a Rússia czarista – alguém escreveu no princípio do século XX:
“A possibilidade de oprimir e de roubar outros povos reforça a estagnação econômica, pois em vez do desenvolvimento das forças produtivas, a fonte de rendimentos é frequentemente constituída pela exploração semifeudal dos ‘alógenos’” (V.I. Lenin, O socialismo e a guerra, julho-agosto de 1915, O.E., t. 2/6, Edições Progresso, Moscou, 1984, p. 236).
O mesmo é verdade, em termos gerais, para os Estados Unidos.
Entretanto, Trump, que publicamente se propõe a reverter a decadência dos EUA, afirma que são os outros países que roubam o seu, contrariando a realidade dos últimos 100 anos.
Pareceria que, com a sua política de tarifas, dirigida principalmente contra a China, ele teria como objetivo proteger a indústria americana, tal como na época do crescimento acelerado da economia dos EUA, desde Alexander Hamilton – e, igualmente, de outros países que usaram o protecionismo como arma para o seu desenvolvimento (inclusive o Brasil).
Mas isso significaria que ele estaria saindo dos marcos do neoliberalismo.
Obviamente, como veremos, não é nada disso.
Num recente e elucidativo artigo, escreve o economista Michael Hudson, sobre esse barulhento programa de Donald Trump:
“Este é apenas o programa neoliberal sob outro disfarce. Trump falsifica-o como favorável à indústria, não como favorável à sua antítese. Entretanto, sua jogada não é um plano industrial, de forma alguma, mas um jogo de poder para extrair concessões econômicas de outros países, enquanto corta os impostos de renda sobre os ricos. O resultado imediato serão demissões generalizadas, fechamentos de negócios e inflação de preços ao consumidor” (v. Michael Hudson, Trump’s Inverted View of America’s Tariff History, 14/04/2025).
Com efeito, Trump tem recebido tantos ataques dos neoliberais, assustados com suas tarifas (v. a The Economist, o Financial Times e outros oráculos do neoliberalismo), que até parece que ele está fazendo algo diferente do neoliberalismo.
Portanto, cabe esclarecer, para começo de conversa, que, pelo contrário, Trump é tão neoliberal quanto Reagan, Thatcher e outros heróis da canalha – ou mesmo mais.
Se não fosse por outra razão, e razões não faltam, alguém já ouviu falar de que Trump fosse contra – ou tomasse alguma providência – a respeito da globalização financeira, que é o cerne do neoliberalismo?
Quanto a esta, como qualquer gangster de Wall Street, ele é a favor.
Porém, Hudson, além de apontar o caráter neoliberal da política de Trump, o demonstra, confrontando-a com a política econômica que proporcionou aos EUA um extraordinário impulso industrial, principalmente desde os fins da Guerra Civil (1865) até a I Guerra Mundial (1914-1918).
Nas palavras de Hudson:
“A notável decolagem industrial dos Estados Unidos desde o final da Guerra Civil até a eclosão da Primeira Guerra Mundial sempre embaraçou os economistas do livre mercado. O sucesso dos Estados Unidos seguiu precisamente políticas opostas àquelas que a ortodoxia econômica de hoje defende. O contraste não é apenas entre tarifas protecionistas e livre comércio. Os Estados Unidos criaram uma economia mista público/privada na qual o investimento em infraestrutura pública foi desenvolvido como um ‘quarto fator de produção’, não para ser administrado como um negócio lucrativo, mas para fornecer serviços básicos a preços mínimos, de modo a subsidiar o custo de vida e fazer negócios no setor privado. A lógica subjacente a essas políticas foi formulada já na década de 1820 no Sistema Americano de Henry Clay: tarifas protecionistas, melhorias internas (investimento público em transporte e outras infraestruturas básicas) e bancos nacionais voltados para o financiamento do desenvolvimento industrial. Uma Escola Americana de Economia Política surgiu para orientar a industrialização do país com base na doutrina da Economia de Altos Salários para promover a produtividade do trabalho, elevando os padrões de vida e os programas públicos de subsídio e apoio” (idem).
A política de Trump, portanto, nada tem a ver com a política desta grande época dos EUA. No máximo é uma caricatura. Mas nem isso, pois seu objetivo é beneficiar os inimigos da indústria, ao contrário da política econômica que presidiu o crescimento que vai do fim da Guerra Civil até a Primeira Guerra.
Aliás, sobre isso, a Guerra Civil foi um marco. Autores que registraram isso – inclusive um poeta como Walt Whitman – não faltam. Nos deteremos aqui apenas em um dos principais (em nossa opinião) historiadores norte-americanos da Guerra Civil, que registrou o fenômeno através de uma testemunha, ainda durante o conflito:
“Retornando ao seu regimento no outono de 1862, depois de uma licença em sua casa na cidade de Iorque, o capelão do 102º de Infantaria da Pennsylvania olhou para o campo devastado e anotou em seu diário que a guerra era muito misteriosa. Destruía e arrasava, e onde os exércitos tinham passado ‘a desolação tornara-se quase completa’, mas em casa não era assim. A Pennsylvania tinha colocado 150 mil homens dentro de um uniforme, e agora muitos deles haviam ido para baixo da terra, com ou sem cerimônias fúnebres apropriadas. Mas o que realmente se via nesse Estado era o impulso e a excitação dos tempos de boom.
“’Que maravilha está aqui!’ escreveu o capelão. ‘Algo novo sob o sol! Uma nação, apenas com os seus recursos internos, ganhando por mais de dezoito meses a guerra mais gigantesca dos tempos modernos, sempre aumentando em sua magnitude, mas tudo isso enquanto se torna mais rica e mais próspera!’
“Como resumo dos efeitos da guerra sobre o bem estar nacional isto não era completo nem inteiramente acurado, e podia ter sido contestado amargamente por alguns dos seus próprios companheiros capelães da Pennsylvania. Na cidade de Berkeley, no condado de Luzerne, pouco mais que uma centena de milhas da florescente cidade de Iorque, cidadãos revoltados recentemente tinham se amotinado em protesto contra os planos militares e somente tinham se acalmado depois que a milícia fez fogo sobre eles, com quatro ou cinco revoltosos deixados mortos nas ruas. Nem era esse espírito de dissensão confinado inteiramente à Pennsylvania, onde foi notado que os campos de antracite estavam cheios de distúrbios. Motins similares tinham tomado lugar no Oeste, notavelmente na pinturesca cidade, à beira do lago, de Port Washington, Wisconsin, e se o país estava de fato se beneficiando da guerra, os benefícios pareciam ser altamente desiguais e a distribuição deles, na maior parte, injusta.
“Mas em um sentido o capelão estava muito correto. Ele tinha apontado seu dedo para algo que continha o germe de muita história. Se ele estava de fato comentando sobre um efeito da guerra ou para um estranho, elusivo sintoma de algo que tinha na verdade ajudado a causar a guerra, deve ser outro assunto. Pelo menos ele tinha identificado algo importante, e ele estava justificado em usar pontos de exclamação. Ele tinha visto um lado da guerra muito claramente” (cf. Bruce Catton, Glory Road: route from Fredericksburg to Gettysburg, tradução nossa, Pocket Cardinal/Doubleday, 1964, 1-2).
O que aconteceu naquela época é completamente oposto ao que hoje está sendo tentado:
“Seu conto da carochinha [de Trump], e talvez até sua crença, é que as tarifas, por si próprias, podem reviver a indústria americana. Mas ele não tem planos para lidar com os problemas que causaram, em primeiro lugar, a desindustrialização da América. Não há reconhecimento do que fez um sucesso do programa industrial original dos EUA – e da maioria das outras nações, também bem sucedidas. Esse programa foi baseado na infraestrutura pública, no aumento do investimento industrial privado e nos salários protegidos pelas tarifas e forte regulamentação governamental. A política de terra arrasada de Trump é o inverso – reduzir o tamanho do governo, enfraquecer a regulamentação pública e vender a infraestrutura pública para ajudar a pagar por seus cortes no imposto de renda de sua classe de doadores” (idem).
Como nota Hudson, as tarifas protecionistas, naquela época, tinham o papel de garantir recursos para os investimentos públicos em infraestrutura. Com isso, o abaixamento do custo de vida, resultante da infraestrutura a preços mínimos ou nulos, tinha como consequência a elevação do padrão de vida da população, sem que fosse necessário um aumento de salários que redundasse em diminuição de lucros dos empresários.
Trump, naturalmente, tem uma inteligência asinina, se é que não estamos difamando os asininos. Portanto, não pode entender coisa tão simples. Tanto assim que quer privatizar a infraestrutura e empregar o dinheiro das tarifas para conceder isenções de impostos aos seus amigos bilionários. Mas, mesmo que pudesse entender, seria contra, pois ele é, por inteiro, um elemento financeirizado, desses que nada empreendeu na vida que não fosse no ignóbil círculo rentista.
O mais interessante é que o presidente americano que Trump mais diz admirar é McKinley, um reacionário, coiteiro avant la lettre do financismo e dos monopólios nos fins do século XIX e começos do século XX, que, no entanto, como se verificou depois que foi assassinado, tinha um vice-presidente progressista no âmbito interno – Theodore Roosevelt, que, apesar de seu expansionismo, era um adversário de monopólios, cartéis e bancos dentro dos EUA.
As reformas dessa época – entre elas, a Lei Sherman Antitruste (1890), o Imposto de Renda progressivo (1913) e o desmembramento da Standard Oil (1911) – seguiram o movimento que impulsionara a economia norte-americana desde a Guerra Civil.
Trump, no entanto, propõe exatamente o contrário disso – e nenhuma medida para resolver a desindustrialização dos EUA.
Mas é claro o que acontecerá se os impostos são substituídos por tarifas – estas, ao contrário dos impostos, caem somente sobre os consumidores, isto é, sobre o povo. Da mesma forma, a privatização do que ainda resta privatizar (sobretudo os Correios e a infraestrutura do país): isto significa aumentar o custo de vida do povo, mas não dos magnatas.
No entanto, a indústria norte-americana continuará em maré minguante, cada vez mais insignificante:
“A privatização e a desregulamentação da economia dos EUA obrigou os empregadores e os trabalhadores a suportar custos usurários, incluindo preços mais altos da habitação e aumento da sobrecarga da dívida, que são parte integrante das políticas neoliberais atuais. A consequente perda da competitividade industrial é o principal obstáculo à reindustrialização. Afinal, foram esse encargos usurários que, em primeiro lugar, desindustrializaram a economia, tornando-a menos competitiva nos mercados mundiais e estimulando o offshoring da indústria, aumentando o custo das necessidades básicas e dos negócios. O pagamento de tais encargos também reduz o mercado doméstico, diminuindo a capacidade dos trabalhadores de comprar o que produzem. A política tarifária de Trump não faz nada para resolver esses problemas. Pelo contrário, os agravará, acelerando a inflação” (Hudson, idem).
CARLOS LOPES