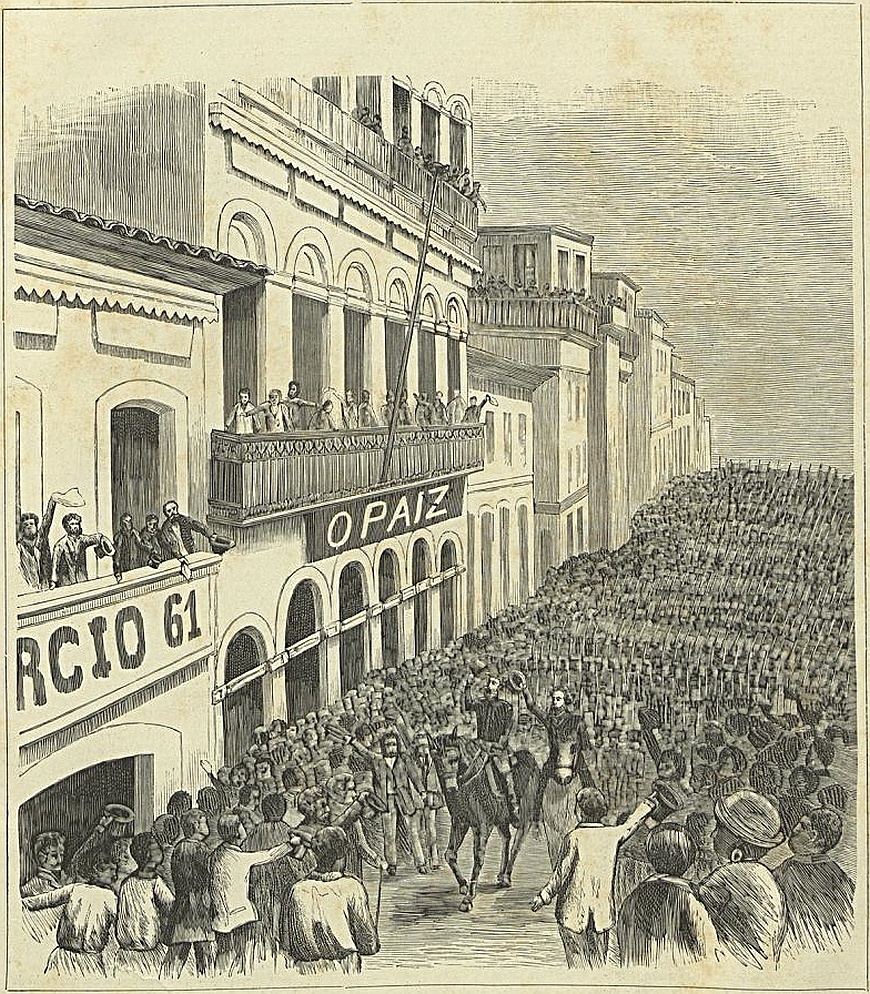CARLOS LOPES
Um mês antes da Abolição, em abril de 1888, quando os monarquistas quiseram atribuir a já inevitável libertação dos escravos ao trono, Rui Barbosa, em um comício abolicionista realizado em Salvador, repeliu essa falsificação:
“Uma nação que não tem, ao menos, consciência do bem, que deve a si mesma, e não sabe senão laurear os seus senhores com a honra das capitulações, que lhes extorque, é uma vil aglomeração de hilotas. A verdade, neste quinquênio que data a agonia do elemento servil, é que o país andou sempre adiante do trono, e que o trono atrasou, quanto lhe coube nas forças, o advento da redenção” (Rui Barbosa, “Aos abolicionistas baianos”, discurso a 29 de abril de 1888, Obras Completas, vol. XV, t. 1, pp. 138-139, grifo nosso).
Nesse discurso de Rui, 19 meses antes da Proclamação da República, existe toda uma visão da História do Brasil, tanto em termos políticos imediatos quanto ao que se poderia chamar “ethos” ou caráter nacional – e sua ligação com o desenvolvimento do país:
I) sem a escravidão a monarquia era insustentável:
“… Fazendo da abolição uma empreitada entregue ao partido reator (bem-vinda colaboração!), a coroa enfraqueceu substancialmente a autoridade das futuras pretensões à resistência; e bem pouco vê quem não percebe a gravidade do golpe republicano que ela candidamente desfechou nos próprios interesses, levando o elemento conservador até às fronteiras da reforma social. A responsabilidade do arrojo não toca aos inimigos da ordem; nem o princípio reformador podia esperar essa cooperação inaudita. Os que se encarregam da abolição, depois de tê-la estigmatizado como roubo, e preconizado a propriedade servil como a instituição das instituições, perderam a competência para representar a tradição. Nem podem inventar, nunca mais, contra a onda crescente das reivindicações liberais, esconjuros, que não estejam de antemão desmoralizados pela instantaneidade da sua conversão ao radicalismo abolicionista. Quando outra vez, para contrariar o ímpeto da torrente, quiserem levantar do chão estes farrapos de estribilho, empunhando a brocha com que os pinta-ratos oficiais nos retratavam como a legião do petróleo [isto é, como incendiários], e erigir de novo contra a nossa propaganda o espantalho da sociedade em perigo, o público sorrirá, calculando entre si que soma de entusiasmo elástico se reserva naqueles peitos, para converter, no dia seguinte os exorcistas da anarquia em chefes da revolução” (Rui, op. cit., pp. 137-138, itálicos no original, grifo nosso).
II) a Abolição, aprovada 14 dias depois, era uma obra nacional, e, especialmente, dos escravos:
“… essa mutação política, que abolicionistas eminentes, não sei por que justiça, ou por que lógica, têm agradecido à munificência da realeza, é simples ato da vontade nacional, alumiada pela propaganda abolicionista; é obra da atitude da raça escrava, rebelada contra os feudos pela invasão do evangelho abolicionista na região tenebrosa das senzalas; é resultado, enfim, do clamor público, agitado pelas circunstâncias que acabaram por encarnar a escravidão no ministério mais impopular do segundo reinado, e entregá-lo às iras da questão militar” (grifo nosso).
(…)
“Hoje a regência [da princesa Isabel] pratica às escâncaras, em solenidades públicas, o acoitamento de escravos, fulminado, contra nós, como roubo, pela infame lei do império, uma lei de ontem. Mas isso depois que dos serros de Cubatão se despenhava para a liberdade a avalanche negra, e o não quero do escravo impôs aos fazendeiros a abolição” (Rui, op. cit., p. 138-139, grifo nosso, itálico no original).
III) a Abolição – e, por consequência, a República – era o início e não o término de uma luta:
“Pueril engano realmente, senhores, o dos que veem no abolicionismo o termo de uma aspiração satisfeita. A realidade é que ele exprime apenas o fato inicial da nossa vida na liberdade, o ponto de partida de uma trajetória sideral, que se desdobra incomensuravelmente no campo da nossa visão histórica. Cegos os que supõem na abolição a derradeira página de um livro encerrado, uma fórmula negativa, a supressão de um mal vencido, o epitáfio de uma iniquidade secular. O que ela é, pelo contrário, é um cântico de alvorada, o lema já não misterioso de uma idade que começa, o medir das forças do gigante que se desbasta. Imaginai Prometeu desencadeado, livre do abutre, ensaiando pela escarpa da montanha os primeiros passos da sua vitória contra a tirania suprema” (Rui, op. cit., p. 136).
IV) nesse sentido – exatamente nesse sentido – era necessário superar o império:
“Nós éramos um povo acorrentado a um cadáver: o cativeiro. O meio século de nossa existência nacional demarca um período de infecção sistemática do país pelas influências sociais e oficiais interessadas na perpetuidade desse regímen de uma vida abraçada à podridão tumular. Agora, que o tempo acabou de dissolver essa aliança sinistra, vamos encetar a cura da septicemia cadavérica, do envenenamento do vivo pelo morto; trabalho que nos impõe os mais heroicos esforços de reação orgânica, e a que há de presidir o signo redentor do abolicionismo.
“Abolicionismo é reforma sobre reforma; abolicionismo é reconstituição fundamental da pátria; abolicionismo é organização radical do futuro; abolicionismo é renascimento nacional. Não se há de indicar por uma sepultura com uma inscrição tumular, mas por um berço com um horóscopo de luta” (Rui, op. cit., pp.136-137).
V) era necessário, portanto, a eliminação das:
“… instituições que viveram pelo consórcio com a escravidão, que se nutriram dos seus vermes, e agora, extinto o cativeiro negro, hão de conspirar tenazmente pela eternidade do cativeiro branco” (Rui, op. cit., p. 137, grifo nosso).
Ninguém ignorava qual a principal dessas instituições que “viveram pelo consórcio com a escravidão, que se nutriram dos seus vermes”: a monarquia.
VI) o principal obstáculo para isso – vale dizer, para o livre desenvolvimento nacional – é, para Rui, naquele momento, de ordem ideológica:
“A escravidão fez de nós uma nacionalidade sem consciência de si mesma, habituada a acreditar que o anil do céu, a umidade da atmosfera e a fecundidade do solo são outras tantas operações de um milagre perene da onipotência que nos governa; e, quando a enorme muralha mongólica do cativeiro desaba com estrondo, por efeito das causas profundas que lhe aluíram as bases, voltamos os olhos maquinalmente para o autor convencional de todas as coisas, procurando em algum aceno de Sua Majestade o segredo da catástrofe espantosa” (Rui, op. cit., pp. 139-140).
***
Voltemos um pouco a Anfrísio Fialho, o autor de “Processo da Monarchia Brazileira: necessidade da convocação de uma constituinte”.
Era um homem condecorado na Guerra do Paraguai, onde ficou cinco anos – com exceção de um curto período de convalescência, depois de ferido no primeiro combate de Iuasií, no Chaco (2 de maio de 1868).
Uma trajetória militar, na guerra, parecida com a de Floriano Peixoto e Deodoro da Fonseca – e, a rigor, de outros milhares de oficiais, suboficiais e soldados brasileiros.
Entretanto, a avaliação de Fialho sobre a guerra não era entusiasmante:
“Se, agora, do interior levantamos os olhos para a vida externa da nação, o que vemos? Vemos igualmente a nossa fraqueza e falta de prestígio, sendo a nossa própria vitória sobre o Paraguai uma prova dessa fraqueza pelo tempo imenso e os recursos enormes que tivemos de despender para, em companhia de duas nações aliadas (uma das quais se julga capaz de medir as suas forças com as nossas), vencer urna republiqueta desconhecida e atrasadíssima” (cf. Processo da Monarchia Brazileira, p. 24).
Era um ponto de vista frequente entre os oficiais que participaram da Guerra do Paraguai. Inclusive entre os chefes. Especialmente Caxias, expressou sua amargura depois da volta à Pátria. Em carta ao Marquês do Herval – isto é, ao general Osório – apenas três meses após o fim da Guerra do Paraguai:
“Exmo. Amº e Camarada.
“Andaraí, 28 de Junho de 1870.
“Aqui estou sofrendo as intrigas provenientes dos serviços que caí na asneira de querer prestar ao nosso país. Mas, como tenho consciência de que cumpri o meu dever, estou satisfeito e disposto a reagir como puder aos intrigantes, que todos me tem aqui atormentado com as suas visitas, e pedidos de empregos, e até muitos de dinheiro, que é o que mais me incomoda porque não tenho bastante para repartir com os caloteiros. Estimarei que vá melhor de seus incômodos, e que já tenha bem cuidado das suas vacas, que é com que os seus filhos se hão de achar, no fim de contas, porque as tais grandezas com que costumam a remunerar os nossos serviços, sei, por experiência própria, que não servem senão para nos tirar dinheiro das algibeiras. Fez bem espaçar a sua vinda a esta Corte, onde lhe haviam receber com foguetes e vivas, que não enchem barriga, e no fim das festas, se V. Ex. não tivesse a casa de algum amigo para se recolher, o haviam deixar na rua, porque assim são as coisas deste mundo, pois diz o rifão, que festa acabada músicos a pé. Minha mulher muito se lhe recomenda e manda-lhe dizer, que se cair em cá vir, terá um bom prato de mondongo para lhe oferecer, por saber que é guisado do seu gosto. Muito estimei que o nosso bom Câmara fosse o herói do final da campanha, e mais que tudo, gostei de que lhe tivessem dado uma pensão que estou trabalhando para a fazer passar nas Câmaras, pois tudo o mais são palavras que para nada servem no nosso país. Aqui estou às suas ordens como amº que muito o estima. – D. de Caxias” (cit. in Joaquim Luís Osório e Fernando Luís Osório, História do General Osório – Segundo Volume, Pelotas, 1915, pp. 659-660).
Esta é uma carta do principal comandante brasileiro – reconhecido, pelo presidente João Goulart, patrono do Exército (v. Decreto nº 51.429/62) – ao general mais popular do país.
A data é importante: três meses após o fim da Guerra do Paraguai. E, também, a menção ao marechal Câmara, ao mesmo tempo que o conde d’Eu, genro do imperador e substituto de Caxias após a tomada de Assunção, é omitido.
Desde o início, aquela guerra parecera malfadada a Caxias – nos referimos, já, à sua oposição a intervenção no Uruguai, que está na origem da Guerra do Paraguai e o baixo conceito que, então, expressara sobre Pedro II (v. Caxias e a guerra do Paraguai: retrato do homem no outono de sua vida).
Em 12 de agosto de 1866, quando ainda não fora nomeado para o comando das tropas no Paraguai – embora já tivesse acompanhado, como simples assessor, o imperador até Uruguaiana, tomada pelos paraguaios -, Caxias, em outra carta a Osório, do Rio de Janeiro, escreveu:
“Não há dúvida, para mim, de que nossas operações foram mal encaminhadas do princípio. Se assim como se fez base de operações da Confederação Argentina, se tivesse seguido para Uruguaiana, logo depois do Convênio de 20 de Fevereiro [entre o governo brasileiro e as duas partes da guerra civil no Uruguai], não teríamos passado pela vergonha da invasão do Rio Grande pela fronteira do [rio] Uruguai; e se o Robles, tivesse invadido Corrientes, pelo Passo dos Livres deveríamos passar o Uruguai e procurado cortar-lhe a retirada no [rio] Paraná. Todo o nosso ouro teria se derramado na sua Província, e não teríamos também passado pela abjeção de sermos comandados por um General Argentino, que conquanto a sua cabeça lhe diga que nos deve ajudar, em seu proveito, seu coração o obriga a não ter pressa em nos dar a vitória, enquanto temos recursos para nos fazer respeitar em toda a América do Sul. Depois de cometido o primeiro erro, ainda se poderia ter ele remediado, se Mitre, quando saiu da Uruguaiana, pudesse ou quisesse cortar a retirada dos Paraguaios no Passo da Pátria, como ele próprio me disse, na Uruguaiana, que pretendia fazer. Então, se isso se desse, há muito que a guerra estaria concluída. Mas, deixar os homens voltar cheios de recursos para o seu covil, sãos e salvos, foi querer procrastinar a guerra até quando só Deus sabe, pois o terreno não pode ser melhor para a guerra de postos, a qual pode ser feita até pelas mulheres e crianças quando se acabem todos os homens do Paraguai. Não posso entender a inação da nossa Esquadra… Enfim seja o que Deus quiser” (op. cit., p. 272).
Somente dois meses depois (10 de outubro de 1866), Caxias seria nomeado comandante das forças do Império no Paraguai, após o desastre de Bartolomé Mitre em Curupaiti (22 de setembro de 1866), onde, somente entre as tropas brasileiras, houve quatro mil mortos (cf. coronel Cláudio Moreira Bento, “A Guerra do Paraguai: um laboratório de doutrina militar, para o Mercosul, pouco explorado”, AHIMTB/IHTRGS, 2009).
Dez dias após a nomeação, em uma carta importante para o nosso tema mais geral (o caráter nacional) e para aquele mais específico desta seção (a repercussão da Guerra do Paraguai nesse caráter nacional), Caxias escreveu outra vez a Osório:
“Rio de Janeiro, 20 de Outubro de 1866.
“Exº Amº.
“Quando menos eu esperava fui forçado a aceitar o comando de todas as nossas forças de terra e mar, que operarão contra o Paraguai. Sem poder entrar nos pormenores que ocorreram e que não deixam de ser curiosos, mas que não tenho tempo nem vem ao caso contar-lhe agora, o fato foi que o Ferraz (aliás Barão de Uruguaiana hoje) deixou o Ministério, brigado com todos os companheiros, e eu fui chamado para tudo quanto eu quisesse fazer, ou ser, contanto que fosse quanto antes para o Exército, a fim de acalmar as intrigas que por lá há entre os chefes, das quais nos podem vir grandes desgostos.
“Não hesitei e vou partir com plenos poderes, depois d’amanhã, no Paquete Francez. Minha primeira medida foi acabar com os intermináveis conselhos de guerra que o Ferraz inventou, para arredar seus inimigos das posições em que se achavam.
“Trato por todos os meios de obter gente e espero em menos de 2 meses reunir no Exército mais 16.000 homens, pois para toda a parte tenho escrito aos meus amigos para que me coadjuvem, indo estas cartas acompanhadas das ordens do Governo; e sendo V. Ex. um daqueles em quem mais confio, dir-lhe-ei que o propus para comandante chefe de todas as forças que devem partir dessa Província, a qual ainda não deu, pelas intrigas aí urdidas, a gente que pode e deve dar. A fim de evitar conflitos V. Ex. também, enquanto aí estiver, exercerá o Comando das Armas, passando-o ao oficial mais antigo, logo que tiver transposto a fronteira. Ao Coronel João Manoel Menna Barreto ordenará V. Ex. que siga a encontrar-se comigo em Corrientes.
“Sendo a guerra que temos a fazer mais de caçadores e artilheiros, que de cavaleiros, por isso que são ali os cavalos quase impossíveis de manter em grande número, V. Ex. armará a força, que daí marchar, com clavinas e a tratará de exercitar a pé e a cavalo para que possam servir ainda quando nos faltem os cavalos. A todos dará o título de Corpos de Caçadores a cavalo.
“Pelo Ministério da Guerra lhe serão expedidos os meios precisos, e já fiz a requisição de 6.000 fardamentos completos e outros tantos armamentos que devem sair daqui nos primeiros dias da semana próxima.
“Vamos acabar esta guerra com honra, meu amigo e camarada, pois vejo as coisas tão tortas desde o seu princípio que receio algum fim…
“Fale a esses guascas aquela linguagem que nós sabemos, e verá como eles correm todos para o campo do combate. Desejo ter notícias de V. Ex. e da força que for reunindo, o mais a miúdo que lhe for possível, dirigindo-as por Montevidéu ou diretamente para onde eu estiver, pelo caminho que lhe parecer mais curto.
“Será bom que trate de escrever ao Brigadeiro Portinho, que, como sabe, ficou com uma força creio que de 2.000 homens, observando o Paraná, a fim de que ele lhe comunique o que por ali houver.
“Sobre os movimentos que deveremos fazer no futuro, nada posso aventurar agora, sem todos os dados a respeito do estado da questão no teatro das operações. E por isso, por ora o que convém é montar a cavalo e ajuntar gente, ficando a seu arbítrio o ponto que deve marcar para a reunião, o qual não deve ser distante do [rio] Uruguai.
(…)
“Seu amigo e Camarada. Marquês de Caxias” (op. cit., pp. 287-288).
[NOTA: O “Ferraz”, citado por Caxias, é Ângelo Moniz da Silva Ferraz, ministro da Guerra do terceiro gabinete Zacarias de Góis e Vasconcelos, do Partido Liberal.]
Osório responde positivamente. Caxias, agora já em Montevidéu, outra vez envia ao amigo uma carta, com um trecho quase sombrio:
“As coisas estão em tal estado que precisamos andar muito unidos e ligeiros, para que não vejamos perdido tanto sangue já derramado pelos nossos patrícios brasileiros, e voltarmos para nossas casas no fim, cheios de vergonha.”
Esta última palavra – “vergonha” ou o risco de vergonha – é recorrente. Escrevendo de Tuiuti, Caxias diz a Osório, em 6 de Junho de 1867:
“E vamos, meu amigo, ver se concluímos com esta maldita guerra, que tem arruinado nosso país, e que já nos causa vergonha pela sua duração.”
Por que vergonha? Porque o problema principal não é o inimigo:
“O inimigo nada tem tentado, e contenta-se com os seus bombardeios improfícuos, quase diários, e que nenhum dano nos causam” (Caxias a Osório, 06/06/1867).
Em duas batalhas – Riachuelo e Tuiuti – Solano López perdera sua esquadra e a elite de seu exército.
Em Tuiuti, onde López tentara decidir a guerra, ficaram sobre a terra os corpos de 6.000 soldados paraguaios (contra 996, somando brasileiros, argentinos e uruguaios). Algo tão chocante que o comandante brasileiro, Osório, declarou:
“Fiquei envergonhado quando soube da grande quantidade de mortos do inimigo, no campo da batalha de 24 de Maio.”
Para ele, como também para Caxias, deveria haver uma diferença entre uma batalha – um combate, como disse o filho de Osório, “com muitos prisioneiros e poucos mortos” – e uma carnificina.
Infelizmente, como se viu em guerras posteriores, isso depende bastante do inimigo.
Porém, mesmo considerando que Solano López não era o mais racional dos inimigos, por que, depois que o poder bélico paraguaio foi reduzido – o próprio López falou a Mitre, na conferência de Jataiti-Corá, em 12 de setembro de 1866, que perdera um terço do seu exército – o Império recusou-se a negociar?
Por que, então, a guerra não terminava? Dizia Caxias:
“Estes senhores, que ficam em suas casas, esperando notícias do que nós outros fazemos na campanha, julgam que tudo é fácil e que a guerra pode ser feita sem gente, sem dinheiro, sem armamento e sem fardamento. Não há remédio senão ter paciência, e carregar cada um a sua cruz. (…) Assim vai tudo na nossa terra: e por isso é que estamos, há dois anos, a braços com uma guerra, que já estaria concluída, há muito, se as nossas coisas não tivessem, desde o começo desta campanha, sido tão mal dirigidas pelos chamados políticos e diplomatas” (Caxias a Osório, 17/02/1867).
Caxias, em 1867, já fora duas vezes presidente do Conselho de Ministros – e era senador pelo Rio Grande do Sul.
Não era alguém que ignorasse – ou pudesse ignorar – o Pedro II que aparece, por exemplo, nas cartas a outro presidente do Conselho de Ministros, o barão de Cotegipe, intrometendo-se, literalmente (e diariamente), em tudo, inclusive – talvez sobretudo – em assuntos de importância mínima (v. Cartas do Imperador D. Pedro II ao Barão de Cotegipe, CEN, 1933).
Na correspondência com Osório, Caxias jamais fala diretamente do imperador. Mas não é necessário. Antes da década de 80 do século XIX, como já frisamos em trabalho anterior, esta é uma convenção praticamente geral entre políticos e militares – as críticas a Pedro II são descarregadas sobre o seu entorno.
Demoraria, ainda, alguns anos para que a convicção expressa, depois da queda do Império, por Ferreira Vianna (filho) se tornasse geral:
“Tinha tanta astúcia o nosso ex-imperador que, sendo um homem de medíocre instrução e acanhado talento, conseguiu convencer, à força de hábitos da Rosa, aos sábios do Instituto de França que ele também era sábio; aos democratas da Europa e da América do Norte, que era democrata; ao papa, que era crente e filho obediente da Santa Madre Igreja; aos maçons, que era maçom, e ao povo, que era seu pai, conservando-o em parte na escravidão” (cf. “O Antigo Regímen (Homens e Coisas)”, 1896, p. 40).
Enquanto isso, Caxias tentava algum modo de acabar com a sangueira no Paraguai:
“… em agosto de 1868, o marquês escreveu [ao ministro da Guerra, barão de Muritiba] que ao inimigo não restava outro recurso a não ser a ‘pequena guerra’, a qual não seria tão mortífera quanto fora até então. Essa nova etapa do conflito obrigaria, segundo ele, o Exército imperial a penetrar em um ‘país devastado e privado do mínimo recurso’ para manter uma força invasora, o que obrigava o Brasil a ter mais gastos com fornecedores. Isso posto, Caxias declarava que ‘como Brasileiro e Senador do Império, e com a consciência de general, tenho para mim que as injúrias irrogadas pelo tirano do Paraguai às Potências aliadas estão mais que suficientemente vingadas’, e apontava as grandes perdas paraguaias como prova de sua asserção. Afirmava o marquês que apenas ‘essa irritante cláusula que exigia a retirada de López do país contida com a mais imperdoável imprevidência no Tratado’ fazia com que o chefe de Estado paraguaio, em ‘seu orgulho descomunal’, não pedisse a paz” (cf. Francisco Doratioto, “Maldita Guerra”, ed. cit., p. 337, grifos nossos).
Era, também, a opinião dos demais comandantes e oficiais brasileiros no Paraguai, mesmo aqueles que, sobretudo por razões partidárias, se atritaram com o marechal, membro do Partido Conservador (um exemplo é o próprio Anfrísio Fialho, nessa época, duplo de oficial do Exército e correspondente de guerra da “Reforma”, o jornal do Partido Liberal no Rio de Janeiro; v. as suas “Recordações”, Rio, 1885, p. 80 e segs).
E mais ainda no Brasil. Já em agosto de 1865, no jornal de Luiz Gama, “Diabo Coxo”, aparece uma distribuição de prêmios por concurso. Entre eles:
- Ao venturoso mortal que descobrir a predileção e notar o entusiasmo popular pela atual guerra do Brasil contra o Paraguai: um par de olhos de lince.
- A quem descobrir o elo que prende as três potências aliadas contra o governo do Paraguai: uma mitra fabricada na Confederação Argentina.
- A quem apresentar um mapa do grande exército do General Venancio Flores: uma carta de presidente conquistada pela rebeldia.
- A quem tiver a coragem de denunciar quanto comem diariamente de milho e capim os cavalos provisórios do corpo de Permanentes que andam morrendo de lazeira: um tratado completo de prestidigitação.
- A quem descobrir o meio mais fácil de conduzir patriotas ao campo da honra sob o regímen do Conde Lyp: um cento de chibatas para escovar Voluntários.
- A quem publicar as notas diplomáticas trocadas entre os governos do Brasil e do Paraguai, antes de começar a guerra atual: uma colmeia política cheia de zangões. (cf. “Mais Prêmios a Concurso” in Diabo Coxo, Série II, nº 6, 27/08/1865, pp. 6/7, edição fac-similar, EDUSP, )
Como diz Francisco Doratioto, “a ideia de paz proposta pelo marquês coincidia com a da opinião pública brasileira e, quando ele a fez, tinha motivos para crer que o novo gabinete buscaria uma solução diplomática e não militar para a guerra. Afinal, o novo presidente do Conselho de Ministros, visconde de Itaboraí, lamentara, antes de ascender ao poder, que o Império não tivesse aproveitado as ofertas de mediação por ‘nações amigas e poderosas’”.
Pouco adiantou:
“Contudo, dom Pedro II mandou comunicar a Caxias que a guerra devia seguir e o ministro da Guerra o informou de que a luta deveria terminar apenas com a expulsão de Solano López do Paraguai” (Francisco Doratioto, op. cit., pp. 338 e 339, grifo nosso).
A carta de Caxias ao ministro da Guerra do gabinete Itaboraí foi escrita em 14 de agosto de 1868, quatro meses antes da Dezembrada – a série de batalhas (Itororó, Avaí, Lomas Valentinas e Angostura) que abriram caminho até Assunção, à custa de heroísmo e sangue derramado.
A República e a formação do caráter nacional (4)
Matérias relacionadas: