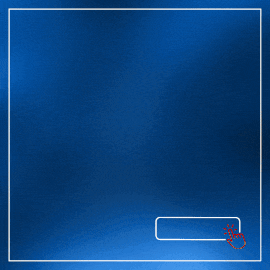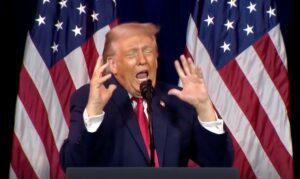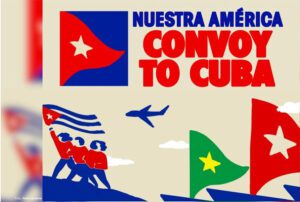Financeirização imposta ao Brasil destruiu indústrias e ceifou empregos. Fábricas floresceram em países da Ásia, que não aderiram ao modelo neoliberal. Regime “demente” busca a valorização da riqueza financeira e não a criação de riqueza material
O professor de economia da UnB José Luiz Oreiro nos enviou este artigo onde ele analisa o processo de desindustrialização ocorrido na América Latina, e que atingiu em cheio o Brasil, e conclui que este foi um modelo imposto ao país por um capitalismo financeirizado, que ele chamou de “capitalismo demencial”.
Ele contesta as afirmações de que esta desindustrialização ocorrida na região era natural, ou fruto do desenvolvimento tecnológico, que seria “poupador de mão-de-obra”. “No mesmo período que os países da América Latina estavam passando por um processo de desindustrialização prematura, os países do leste e sudeste asiático estavam se industrializando e aumentando a participação das suas exportações de produtos manufaturados nas exportações mundiais desses produtos”, assinalou.
Para Oreiro, o que ocorreu é que “os países ocidentais entraram numa fase demencial do desenvolvimento capitalista que podemos denominar de financeirização, na qual os motivos e interesses dos agentes e instituições financeiros controlam a condução da política macroeconômica tendo em vista o atendimento dos interesses dos rentistas. O foco agora é a valorização da riqueza financeira, não a criação de riqueza material. Essa é a razão por trás do desaparecimento dos empregos industriais nos países ocidentais, sejam eles de renda alta ou não”, denuncia.
Confira o artigo na íntegra
É verdade que os empregos na indústria de transformação estão desaparecendo devido as novas tecnologias?
JOSÉ LUIZ OREIRO *
Desde a crise financeira internacional de 2008 os empregos industriais nos países de renda alta na Europa e nos Estados Unidos têm encolhido como proporção do emprego total e, em alguns casos, até mesmo em termos absolutos (Ferreiro e Gomez, 2025). Fenômeno similar também ocorreu com os países da América Latina e Caribe. Esse processo de desindustrialização dos países ocidentais tem levado muitos analistas a afirmar que a indústria de transformação perdeu o papel de motor do desenvolvimento econômico que desempenhou no período pós segunda guerra mundial porque as novas tecnologias de informação e automação teriam reduzido a quantidade de mão-de-obra que pode ser empregada pela indústria.
Dessa forma, a obtenção de taxas aceleradas de crescimento por intermédio da transferência de mão de obra dos setores de baixa produtividade – seja no campo (agricultura) ou nas cidades (autoempregados no setor de serviços pessoais) – para a indústria de transformação que possui os empregos de maior valor adicionado per capita e salários mais elevados; não seria mais possível devido a baixa capacidade de absorção da indústria de transformação num contexto marcado pelo uso de tecnologias altamente intensivas em conhecimento e baixa utilização do insumo trabalho. A alternativa seria tentar criar empregos mais sofisticados no setor de serviços em atividades como cuidados com pessoas idosas, educação, serviços hospitalares, entretenimento, entre outras (Rodrik e Sandhu, 2024).
É inegável que as novas tecnologias de informação e automação estão reduzindo a quantidade de trabalho que é tecnicamente necessária para a produção de uma unidade de produto na indústria de transformação, ou seja, o avanço tecnológico é poupador de mão-de-obra (labour saving). Isso não é exatamente uma novidade. A Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra em meados do século XVIII foi marcada pelo uso intensivo de máquinas a vapor na manufatura de tecidos, o que teve o efeito de destruir a manufatura artesanal que era incapaz de concorrer em termos de custos e eficiência com o novo sistema Fabril (Kaldor, 1977). Apesar dos rápidos ganhos de produtividade ocorridos na manufatura ao longo dos últimos dois séculos na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, a proporção do emprego na indústria de transformação aumentou consideravelmente, absorvendo a força de trabalho que era “liberada” da agricultura (Kaldor, 1967).
Desde meados dos anos 1970, contudo, a participação do emprego industrial no emprego total tem caído nos países ocidentais de renda alta. Esse processo de desindustrialização foi analisado por Rowthorn e Ramaswany (1999) como resultado do efeito combinado da diversificação do padrão de consumo decorrente do desenvolvimento econômico (Lei de Engel), o qual levou a uma redução da participação dos bens manufaturados na cesta de consumo das famílias e um aumento da participação dos serviços, e da maior produtividade da indústria de transformação na comparação com outros setores de atividade (Lei de Kaldor-Verdoorn), fazendo com que a geração de empregos na indústria crescesse a um ritmo menor do que no setor de serviços. Essa desindustrialização, na análise de Rowthorn e Ramaswany (1999), seria uma etapa natural do processo de desenvolvimento econômico, resultado de estruturas econômicas que haviam alcançado o ponto de maturidade.
Nos anos 1990 e 2000 os países da América Latina passaram a observar um processo similar de perda de importância da indústria de transformação na geração de empregos e de valor adicionado, mas sem terem alcançado o nível de maturidade econômica – ou de renda per capita – dos países de renda alta quando os mesmos haviam iniciado o seu processo de desindustrialização. O economista chileno radicado na Universidade de Cambridge no Reino Unido, Gabriel Palma (2005), denominou esse fenômeno de desindustrialização prematura, para diferenciá-lo da desindustrialização natural (Oreiro e Feijó) ocorrida em meados dos anos 1970 com os países de renda alta.
A desindustrialização prematura não foi, no entanto, o resultado natural do processo de desindustrialização, mas da combinação de um modelo de desenvolvimento industrial voltado para dentro (o modelo de industrialização por substituição de importações) – que se mostrou incapaz de gerar ganhos de competitividade extra-preço que permitiria a penetração gradual das exportações industriais dos países da América Latina nos mercados internacionais (Kaldor, 1967) – com sobrevalorização da taxa de câmbio e abertura comercial prematura (Thirlwall, 2013).
No mesmo período que os países da América Latina estavam passando por um processo de desindustrialização prematura, os países do leste e sudeste asiático estavam se industrializando e aumentando a participação das suas exportações de produtos manufaturados nas exportações mundiais desses produtos. O resultado desse processo, como podemos ver na figura abaixo, é que os empregos industriais não desapareceram (a participação do emprego industrial no emprego total a nível da economia mundial como um todo permaneceu estável em torno de 14% no período 2000-2022); mas simplesmente mudaram de lugar, ou seja, foram transferidos da Europa, América do Norte e América Latina para o Leste e Sudeste Asiático.

A indústria não deixou de ser o motor do desenvolvimento econômico, o que ocorreu é que os países ocidentais entraram numa fase demencial do desenvolvimento capitalista que podemos denominar de financeirização, na qual os motivos e interesses dos agentes e instituições financeiros controlam a condução da política macroeconômica (politica monetária, fiscal e cambial) em vistas ao atendimento dos interesses dos rentistas. O foco agora é a valorização da riqueza financeira, não a criação de riqueza material. Essa é a razão por trás do desaparecimento dos empregos industriais nos países ocidentais, sejam eles de renda alta ou não.
Referências
Ferreiro, J; Gomez, C. (2025). “Patterns of Industrialization and Deindustrialization in Europe”. PSL Quarterly Review: forthcoming.
Kaldor. (1967). Strategic Factors in Economic Development. Cornelll University: New York.
Kaldor, N. (1977). Capitalism and Industrial Development: some lessons from Britain´s experience. Cambridge Journal of Economics, Vol. 1, pp. 193-204.
Palma, G. (2005). “Four Sources of de-industrialization and a new concept of Dutch Disease”., In: José Antonio Ocampo (Ed.). Beyond Reforms: Structural Dynamics and Macroeconomic Vulnerability. World Bank and Stanford University Press: Washington (DC).
Rodrik, D; Sandhu, R. (2024). “Servicing Development: Productive Upgrading of Labor-Absorbing Services in Developing Economies”. Reimagining the Economy Policy Paper. Harvard University Kennedy School of Government, May 2024. Available at: https://www.hks.harvard.edu. Accessed on: Jan. 31, 2025.
Rowthorn, R.; Ramaswany, R. (1999). “Growth, Trade and Deindustrialization”. IMF Staff Papers, v. 46, n. 1.
Thirlwall, A.P. (2013). Economic Growth in an Open Developing Economy: the role of structure and demand. Edward Elgar: Cheltenham.
(*) Economista e professor da UnB