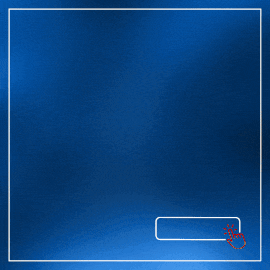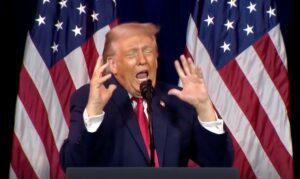A maturação de grandes revoluções no funcionamento da economia brasileira exige de nós tanto a negação da visão fatalista e o compromisso coletivo com a questão nacional, quanto a capacidade de apresentar alternativas e organizar as massas para efetivá-las no campo político
LUCAS MARÇAL*
A questão que se busca tratar neste breve texto já foi colocada pelo velho Marx (1845) há muitos anos, nas Teses sobre Feuerbach, quando disse “os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes; a questão, porém, é transformá-lo”.
Hoje, o mesmo pode ser dito para os economistas, mesmo aqueles mais progressistas, capazes de explicar com maestria o funcionamento do sistema capitalista, evidenciando sua dinâmica geradora de crises, instabilidades e desigualdades múltiplas, mas sem prover uma orientação para a emancipação dos povos e lapidação do desenvolvimento nacional. Na realidade, ao subir nas escadas da ciência econômica, cada vez mais toma conta dos jovens economistas a desilusão com a compreensão de um sistema complexo para o qual parece não haver alternativa – eis aqui a macroeconomia fatalista.
Uma grande expressão contemporânea da macroeconomia fatalista é a discussão sobre a atuação de Gabriel Galípolo na presidência do Banco Central e sua política de juros altos. Existe um profundo incômodo com Galípolo, personagem que apesar de suas contradições próprias – entre a relação próxima com Luiz Gonzaga Belluzzo e a trajetória profissional no mercado financeiro – poderia conduzir o BC de forma diferente de seu antecessor, o neoliberal Roberto Campos Neto, sobretudo quando se considera a composição favorável no Conselho Monetário Nacional (CMN) e no Comitê de Política Monetária (COPOM).
Argumenta-se, corretamente, sobre a correlação de forças políticas e, principalmente, sobre a manutenção do Regime de Metas de Inflação, na égide do Tripé Macroeconômico (superávit primário, regime de metas e câmbio flutuante). Essas condições, assim, amarram a política monetária e qualquer sujeito que sentar na cadeira da presidência deve dançar conforme a música – there is no alternative. Ao abraçar esta visão fatalista, ignora-se a possibilidade de alternativas àquilo que está posto, deixa-se de lado a importância de pautar a inadequação da institucionalidade para os interesses nacionais e perde-se a capacidade de apresentar à população uma forma diferente de fazer economia.
De modo inconsciente, esse fatalismo se enraiza nos hábitos de pensamentos dos economistas, misturando-se com um certo orgulho e indignação ingênua de entender como a banda toca e as dificuldades de mudar as regras do jogo. Mais do que entender, como já apontou Marx, é preciso transformar e isso exige esforço teórico e político. A aprovação da isenção do IR e taxação dos super-ricos nos ensinou que grandes avanços sociais e econômicos exigem massificadas mobilizações populares nacionais, pois foi a relação combinada entre a pauta acertada e a luta política que garantiu tal vitória ao povo brasileiro.
A relevância da unificação desses dois esforços – o teórico e o político – foi apresentada por Lênin (1902), em Que fazer?, de forma direta: “Sem teoria revolucionária, não há movimento revolucionário”. Como se nota, o fatalismo nada tem de revolucionário, é na verdade o oposto. Atua como contra revolucionário e verdadeiras amarras do pensamento crítico ao podar a construção de políticas econômicas alternativas viáveis que visam o desenvolvimento econômico nacional pleno. Escondem-se seus proponentes atrás do capital estrangeiro para alertar os perigos de mudanças de rota, pois a interação entre o plano nacional e o internacional pode desencadear massivos fluxos de capital e destruir a economia doméstica.
Ainda que reconhecendo as importantíssimas contribuições intelectuais que a macroeconomia fatalista nos proporciona, falta, entretanto, alocar em seu centro a questão nacional e, em seu horizonte, o desenvolvimento – definido aqui nos termos leninistas enquanto emancipação do jugo do capital. A teoria macroeconômica que precisamos deve estar profundamente integrada e ser instrumento de um projeto nacional de desenvolvimento – é com essas razões explícitas que devemos pensar as políticas fiscal, monetária e cambial.
Hoje, a macroeconomia brasileira revela dois fatos consumados e uma implicação crítica, longamente reconhecida pelos economistas, a saber, a austeridade fiscal, restringindo os gastos públicos, e a colheita de juros altos, garantindo a remuneração dos rentistas. A implicação é a constituição da desindustrialização enquanto normalidade da estrutura produtiva nacional, tendo em vista a ausência de estímulos de demanda e o alto custo do crédito desestimulando o investimento na indústria.
No âmbito da política cambial, a tendência de desvalorização frente ao dólar e a volatilidade do real decorrem tanto do caráter especulativo da moeda brasileira para os investidores, quanto da institucionalidade particular do mercado de câmbio, onde operações puramente financeiras com derivativos no mercado futuro determinam a taxa de câmbio sem considerar seus impactos na inflação (pass-through) e na estrutura produtiva nacional.
Diante de tamanhos desafios e constrangimentos, o reconhecimento de nossa condição periférica em meio às assimetrias de um Sistema Monetário e Financeiro Internacional profundamente financeirizado e liberalizado no qual prevalecem os capitais especulativos não pode nos paralisar. De igual modo, não podemos aceitar de bom grado o jugo deste ordenamento sem questionamentos e nos auto-impor restrições cada vez mais asfixiantes. À lógica do constante ajuste macroeconômico (leia-se arrocho fiscal e política monetária recessiva) deve-se contrapor a racionalidade de um projeto nacional de desenvolvimento, capaz de articular a caixa de ferramentas do Estado para colocar em marcha a re-industrialização.
Aos economistas, cabe a responsabilidade de pautar medidas alternativas e demonstrar sua capacidade de dirigir a economia nacional com seus próprios princípios e não mais com o receituário do Consenso de Washington. Para isso, é necessário o convencimento político da população para ancorar a atuação dos representantes do poder público, como foi com o Plebiscito Popular no último período.
Portanto, a maturação de grandes revoluções no funcionamento da economia brasileira exige de nós tanto a negação da visão fatalista e o compromisso coletivo com a questão nacional, quanto a capacidade de apresentar alternativas e organizar as massas para efetivá-las no campo político. Que deixemos de cair na tentação do ego intelectual e abracemos a tarefa histórica e coletiva do desenvolvimento nacional.
*LUCAS MARÇAL – Economista (UNESP), mestrando em Ciência Econômica (IE-UNICAMP), coordenador geral da Associação Central de Pós-graduação da UNICAMP (APG UNICAMP) e militante do PCdoB.