CARLOS LOPES
Em um texto recente, escrevemos:
O famoso dito de Holanda Cavalcanti, visconde de Albuquerque (“nada se assemelha mais a um ‘saquarema’ do que um ‘luzia’ no poder”), revela mais a superficialidade de seu autor – e dos que, até hoje, vivem repetindo essa frase – que alguma verdade sobre a história do Segundo Império.
Existiam contradições na concepção do Estado – e foram os conservadores, com o seu Estado centralizado, que predominaram, ao conjurar os riscos de desagregação do país.
Certamente, isso foi realizado – depois de superada a Regência, com a Maioridade, em julho de 1840 – através do predomínio de classe dos senhores de escravos (v. Caxias e a guerra do Paraguai: retrato do homem no outono de sua vida).
Essencialmente, é verdadeiro.
Mas não deixa de ser uma simplificação – inclusive do ponto de vista, que aqui nos interessa, da história política.
Por isso, é necessário acrescentar algumas coisas, que tornam mais compreensível a luta dos vários setores políticos e sociais daquela época.
Por exemplo, Holanda Cavalcanti, o mesmo da famosa frase, foi o principal candidato derrotado por Feijó, na eleição para regente, após o Ato Adicional de 12 de agosto de 1834 – a reforma constitucional, patrocinada pelos “liberais moderados”, que instituiu a “Regência Una”.
Holanda Cavalcanti e Araújo Lima (o futuro marquês de Olinda) foram os candidatos decididamente escravagistas nessa eleição, realizada a sete de abril de 1835. O outro, Bernardo Pereira de Vasconcelos, não teve votação significante – mas, em Minas Gerais, sua votação foi suficiente para impedir a vitória de Holanda Cavalcanti, com a consequência de eleger, nacionalmente, o padre Feijó.
A vitória de Feijó foi por uma diferença de menos de 10% em relação a Holanda Cavalcanti (47,1% a 37,5%), considerando o número de votantes.
Voltemos, então, um pouco no tempo.
PASSAGEM
A revolução de 7 de abril de 1831 – com a abdicação de Pedro I – é um marco, hoje subestimado, da História do Brasil.
Mais de quatro anos depois, Bento Gonçalves escreverá, em seu manifesto de 25 de setembro de 1835, sobre a deposição do então presidente da província do Rio Grande do Sul, Antonio Rodrigues Fernandes Braga:
“Compatriotas!
“Vossos votos, e vossas justas exigências já estão satisfeitas. Caducou aquela autoridade cujo manto cobria os atentados de homens perversos, que têm conduzido esta benemérita província à borda do precipício.
“Correstes às armas depois de haver esgotado todos os meios, que a prudência e o amor à ordem vos sugeria, não para destruir, mas sim para consolidar a sagrada Constituição que juramos; não para vingar-vos dos ultrajes, que diariamente vos faziam os corifeus de um partido antinacional, mas sim para garantir as liberdades pátrias de seus ataques, tanto mais terríveis, por isso que eram exercidos à sombra da Carta Constitucional; corresses, enfim, às armas para sustentar em sua pureza os princípios políticos, que nos conduziram ao sempre memorável Sete de Abril, dia glorioso de nossa regeneração, e total Independência” (grifos nossos).
A abdicação de Pedro I era identificada – e corretamente – com a derrota do “partido português”, que, após a Independência, tentara se organizar em torno do primeiro imperador, ele próprio português por nascimento.
Daí, a menção de Bento Gonçalves, líder dos liberais gaúchos, a “um partido antinacional”, ou, em outro ponto do mesmo manifesto, “facção retrógrada” – que, sob o governo de Fernandes Braga, permanecera dominante no Rio Grande do Sul, apesar de não mais no Brasil após o “memorável Sete de Abril”.
[UMA NOTA: O desastroso governo de Braga, um gaúcho, tinha mais um elemento embaraçoso para Bento Gonçalves, pois fora ele o principal articulador de sua escolha, junto ao governo do Rio de Janeiro, para substituir o governador anterior, José Mariani, que era baiano. Nas palavras de um dos principais historiadores da Guerra dos Farrapos: “Foi durante a presidência do desembargador Mariani que tiveram início os movimentos francamente revolucionários, que se não tornaram efetivos porque o governo da Regência atendeu a tempo à reclamação dos liberais rio-grandenses, enviando-lhes um presidente filho da província, conforme haviam pedido, e no qual depositavam, todos, a máxima confiança. Foi esse presidente [Fernandes Braga], entusiasticamente recebido pelo povo em geral” (cf. Walter Spalding, A Revolução Farroupilha, CEN, Brasiliana vol. 158, 1939, p. 13)].
O sentimento de que a “verdadeira” Independência fora no Sete de Abril, e não no Sete de Setembro de 1822, era mais ou menos geral no país, após 1831.
Nos dias que antecederam a abdicação, em meio aos conflitos entre brasileiros e portugueses, um homem tão moderado quanto Evaristo da Veiga escreveu em seu jornal:
“… a cidade do Rio de Janeiro está agora inabitável, menos para a gente do partido recolonizador (…) as violências se sucedem e nenhum brasileiro está seguro (…) mas o sangue derramado pede sangue. (…) os brasileiros querem a desafronta de todos os insultos: a sua paciência está exausta” (“Aurora Fluminense”, nº 464, 21 de março de 1831, cit. in Octavio Tarquinio de Sousa, História dos Fundadores do Império do Brasil, vol. VI, 2ª edição, José Olympio, 1957, p. 85, grifos nossos).
O mesmo historiador – Octavio Tarquinio de Sousa – lembra que, na edição da “Aurora Fluminense” que saiu na véspera da abdicação, Evaristo também escreveu:
“… uma circunstância havia para que a cólera do povo brasileiro fosse mais forte (infelizmente), mais profunda contra o poder, do que toda a que mostraram os franceses, depois das célebres ordenanças, a respeito de Carlos X e sua família (…) o amor-próprio nacional tem sido no Brasil pisado aos pés pelos homens da privança, pelo partido que goza e tem gozado da especial confiança de quem governa (…) as suas ações, os seus movimentos, as suas menores palavras [de quem governa], tudo é antinacional, tudo revela o desprezo e a aversão por esta terra que se rebelou” (grifo nosso, itálicos no original).
E, em seguida, resume Evaristo:
“Nada mais insuportável do que o jugo estrangeiro e é estrangeiro todo aquele governo que tem horror à nação a cujos destinos preside, que se envergonha de pertencer-lhe” (idem, pp. 95-96, grifo nosso).
Este era o líder e principal ideólogo dos “liberais moderados”.
Pode-se imaginar o que dizia – e sentia – a outra ala do partido brasileiro, os “liberais exaltados”.
O mesmo sentimento foi expresso pelo general Francisco de Lima e Silva – pai do futuro Duque de Caxias – e seus irmãos, comandantes das principais unidades do exército, que se somaram ao movimento que desembocou no Sete de Abril.
Aliás, Lima e Silva, que, após a abdicação, fez parte das duas primeiras Regências (a Trina Provisória e a Trina Permanente), considerava-se quase um zelador dos ideais do Sete de Abril. Em uma carta ao amigo Bento Gonçalves, diz ele, às vésperas da eleição que levou Feijó ao poder:
“Não pretendia escrever a V. S. sobre o negócio do Regente, porque não só contava com a sua amizade, como para não parecer suspeito. Agora, porém, que chegou a mim a notícia de um modo terminante e decisivo que o marechal Barreto [Sebastião Barreto Pereira Pinto], comandante das Armas no Rio Grande do Sul, traidora e perfidamente procura aliciar eleitores dessa Província para nomearem Pedro de Araújo Lima, homem inimigo constante das coisas de 7 de abril, do que tem dado sobejas provas até traindo a Regência quando foi seu Ministro nos quarenta dias, tudo isso induzido e aconselhado daqui por José Carlos de Almeida Torres e Galvão, autores de toda essa cabala, dirijo-me a V. S. para que ponha todo o seu esforço, a fim de malograr o obscuro enredo de tal marechal, certificando a V. S. que se por desventura aparecer tal homem para Regente, não só não lhe entregarei a Regência como lhe farei sempre toda a oposição: não foi para ver o Brasil perdido que eu e minha família nos sacrificamos no 7 de Abril” (carta de 20/01/1835, grifo nosso).
O pai de Caxias estava bastante certo sobre Araújo Lima. Após a renúncia de Feijó, ele seria regente.
Assim, Feijó foi sucedido por um inimigo político, em 1837. Mas foi o próprio Feijó que decidiu entregar a ele a Regência, ao nomeá-lo, na véspera de sua renúncia, ministro do Império.
Com isso, o poder passava, diretamente, aos senhores de escravos – não a quaisquer senhores de escravos, mas aos donos da grande propriedade territorial.
GOVERNO E POVO
Entretanto, isso não retira o significado do Sete de Abril.
Pode se dizer que, entre 1831 e 1837, o poder esteve em disputa no país – o que, também, não quer dizer que, em seguida, não fosse disputado.
Mas é preciso estabelecer alguns marcos – caso contrário, o entendimento dos fatos torna-se impossível.
Assim, no manifesto à Nação, logo após a abdicação, proclamou a primeira Regência (isto é, o governo que substituiu Pedro I):
“Do dia 7 de abril de 1831 começou a nossa existência nacional; o Brasil será dos Brasileiros, e livre”.
Somente em 1860 – portanto, 29 anos depois – Teófilo Otoni dirá que o Sete de Abril foi “um verdadeiro journée des dupes” (“dia dos enganados”: o termo é uma referência a um episódio da história da França, a tentativa de destituição do então primeiro-ministro, cardeal Richelieu, pela rainha-mãe, Maria de Medicis – que terminou pelo fortalecimento, por Luís XIII, da autoridade de Richelieu, com o exílio da mãe e do irmão do rei, Gaston de Orleans).
Fazendo um balanço da luta política após a Independência, Teófilo Otoni escreveu, numa “circular” (de modestas 160 páginas impressas!) aos seus eleitores:
“O 7 de abril foi um verdadeiro journée des dupes. Projetado por homens de ideias liberais muito avançadas, jurado sobre o sangue dos Canecas e dos Ratcliffes, o movimento tinha por fim o estabelecimento do governo do povo por si mesmo, na significação mais lata da palavra.
“Secretário do clube dos Amigos Unidos, iniciado em outras sociedades secretas, que nos últimos dois anos espreitavam somente a ocasião de dar com segurança o grande golpe, eu vi com pesar apoderarem-se os moderados do leme da revolução, eles que só na última hora tinham apelado conosco para o juízo de Deus!” (cf. Theophilo Benedicto Ottoni, Circular dedicada aos Srs. eleitores de senadores pela província de Minas Gerais no quatrienio actual e especialmente dirigida aos Srs. eleitores de deputados pelo 2º Districto Eleitoral da mesma província para a próxima legislatura, Typ. Correio Mercantil de M. Barreto, Filhos, Rio, 1860, p. 16).
Teófilo Otoni era um “liberal exaltado” – que expressava as suas ideias através de um jornal denominado “Sentinela do Serro”.
Porém, por mais que proteste contra o “desvirtuamento” da revolução de Sete de Abril, ele mesmo reconhece que estava mais próximo dos “moderados” – Evaristo, Feijó, e, nessa época, Bernardo Pereira de Vasconcelos – que da massa do povo (e, aqui, não estamos nos referindo à parte do povo que continuava escrava):
“Mas ainda na agitação e devaneio da luta”, escreveu Otoni, “o redator da Sentinela do Serro nunca sonhou senão democracia pacífica, a democracia da classe média, a democracia da gravata lavada, a democracia que com o mesmo asco repele o despotismo das turbas ou a tirania de um só.
“Ao passo que censurava os chefes do partido liberal moderado, porque desvirtuavam a revolução, de que se haviam apoderado, a Sentinela do Serro com mais energia estigmatizava os excessos anárquicos aplaudidos pelas folhas democráticas da corte” (cf. idem, p. 17).
No entanto, em que, ao tomar o poder após a abdicação, os “moderados” impediram os “exaltados” de realizar suas “ideias liberais muito avançadas”?
Que ideias eram essas?
Basicamente, a república e a federação (na linguagem de Teófilo Otoni: “o estabelecimento do governo do povo por si mesmo, na significação mais lata da palavra”).
Na verdade, não apenas essas ideias.
Houve quem propusesse, por exemplo, a nacionalização da terra – e explicasse como funcionaria:
“Em vez de dar a nação muitas léguas de terra a um afilhado dos grandes para este depois aforar aos pobres por muito dinheiro e com grande dependência, a nação dá somente as terras que cada homem precisa para a lavoura, mas não dá de propriedade e sim por arrendamento, que se renova de trinta em trinta anos e com obrigação de passar aos herdeiros do foreiro morto.
“(…) Dando-se as terras de propriedade aos magnatas, como se tem dado, os figurões trazem os pobres debaixo dos pés; e o foro que pagam os pobres é para o grande viver no ócio (…). Quando há Fateusim [enfiteuse] Nacional o pobre não é escravo dos ricos: não paga o pobre dois tributos, um para o rico viver vadiando, e outro para o Rei nos ir espezinhando”.
Não eram ideias sem influência – um de seus propagandistas foi, logo depois, nomeado representante diplomático do Brasil no México.
Tanto não eram ideias sem influência que, muito depois, em 1855, no seu importante ensaio “Ação; Reação; Transação”, um homem que vivenciara os acontecimentos, Justiniano José da Rocha, ainda as mencionava como um “monstro incompreensível (…) que devia operar o milagre de enriquecer a todos os pobres pela divisão das propriedades” (cf. Justiniano José da Rocha, “Ação; Reação; Transação – Duas palavras acerca da atualidade política do Brasil”, J. Villeneuve e comp., Rio, 1855, p. 19).
Justiniano José da Rocha não conseguia entender como seria possível a divisão das propriedades – e, muito menos, como isso poderia enriquecer os pobres.
MONARQUIA
Os “liberais exaltados”, então, se consideraram trapaceados, após o Sete de Abril de 1831, pela política dos “liberais moderados”, que predominaram no governo até 1837.
Como os “moderados” fizeram essa suposta trapaça?
Os “moderados” dirigiram o sentimento nacional, não para a república ou a federação, mas para o “pequeno imperador” – para Pedro II, então com cinco anos – desde o primeiro momento, no próprio manifesto de constituição do novo governo:
“Concidadãos! Já temos pátria, temos um monarca, símbolo da vossa união, e da integridade do Império, que educado entre nós receba quase no berço as primeiras lições da Liberdade americana, e aprenda a amar o Brasil, que o viu nascer” (grifos nossos).
Era uma oposição à trajetória do outro imperador, deposto no Sete de Abril, que não nascera no Brasil, nem recebera no berço lições da liberdade americana…
Logo, se tínhamos este novo imperador, para que a república?
Octavio Tarquinio de Sousa faz uma observação, provavelmente justa:
“Não havia, note-se, nos liberais moderados, entusiasmo pela realeza; no fundo, por sua mesma formação ideológica, seriam muitos deles tão republicanos como os exaltados. Mas o que os distinguia destes era um espírito mais objetivo, um senso mais claro da realidade e só por isso queriam a mantença do trono” (op. cit., p. 102).
Talvez por isso, Feijó considerava a monarquia uma espécie de máscara da república. Por exemplo, no último editorial de seu jornal, “O Justiceiro”, pouco antes de ser eleito regente:
“… quem se atreverá a dizer que o Brasil é governado monarquicamente? Compare-se o nosso Governo com o dos Estados Unidos e conhecer-se-á que, no essencial, são ambos os Estados governados pelo mesmo sistema, e que a maior diferença é em o nome, e em certas exterioridades de nenhuma importância para a causa pública” (cf. “A monarquia é necessária no Brasil?”, O Justiceiro, nº 17, 05/03/1835).
Esse artigo, diga-se de passagem, é uma defesa da monarquia – e não da república.
O que mostra como os sentimentos republicanos tinham se avolumado no Brasil daquela época.
OS CAIBRAS
No Brasil, os conservadores surgiram como uma dissidência dos liberais.
Eles eram, realmente, a partir das eleições de 1836 e da formação da tendência “regressista” – que iria fundar o Partido Conservador – os representantes políticos da grande propriedade escravagista.
No texto anterior, chamamos a atenção para as contradições, dentro dos conservadores, que fizeram com que todas as medidas contra o escravismo fossem tomadas por gabinetes conservadores.
Pretendemos, futuramente, dedicar um texto a essa questão. Por agora, muito rapidamente, queremos enfatizar o “outro lado” dos conservadores.
A síntese foi realizada pelo próprio ideólogo inicial dos conservadores, Bernardo Pereira de Vasconcelos, ao falar sobre as “tendências barbarizadoras que hão de resultar da abolição do tráfico de africanos”.
A discussão era sobre a redução do prazo para a naturalização de europeus no Brasil. Essa discussão, para alguns, estava ligada à substituição da mão de obra escrava pela mão de obra de imigrantes vindos da Europa:
O SR. BERNARDO DE VASCONCELLOS: Eu digo que a associação brasileira [os brasileiros com direitos políticos] hoje precisa de adotar uma economia política em grande parte contrária à geralmente admitida, por isso que a abolição do tráfico deve trazer tendências barbarizadoras…
O SR. COSTA FERREIRA: Já a África civiliza!
O SR. BERNARDO DE VASCONCELLOS: É uma verdade; a África tem civilizado a América, e veja o nobre senador os grandes homens da América do Norte, os mais eminentes onde têm nascido; vejo os outros todos que devem sua existência, o seu aperfeiçoamento aos países que têm procurado em parte africanizar-se (cf. Annaes do Senado do Imperio do Brazil, anno de 1843, livro 4, sessão de 15 de abril).
“Africanizar-se” não era aproximar-se da cultura africana, mas usar a mão de obra escrava, que vinha da África.
Porém, esse discurso foi em 1843.
Além disso, nem todos os conservadores eram como Bernardo Pereira de Vasconcelos, que, nesse trecho, defendeu não apenas a escravidão, mas o ofício dos traficantes de escravos.
Não é uma distinção desprezível, pelo contrário. Grandes proprietários escravagistas e traficantes de escravos eram aliados, mas não eram, social e economicamente, a mesma coisa.
Até porque uma parte razoável dos traficantes não era brasileira.
Mais à frente, à medida que o país caminhou para a estagnação – exatamente pela manutenção do trabalho escravo agrícola como base econômica – e os proprietários acumularam dívidas junto aos traficantes, os interesses de uns e de outros iriam se chocar.
O que explica, pelo menos em parte, algumas ações do Partido Conservador a partir de 1850 (a lei Eusébio de Queirós, contra o tráfico, é de setembro daquele ano).
Quanto aos “liberais moderados”, que estiveram no governo até a renúncia do padre Feijó, eles não eram, programaticamente, escravagistas.
O exemplo mais nítido é, outra vez, o de seu ideólogo, Evaristo da Veiga:
“… fiel ao seu programa liberal e a despeito do contingente poderoso dos fazendeiros da província do Rio para a vitória moderada nas eleições de 1833, fez a ‘[Sociedade] Defensora’ representar ao governo contra as violações constantes e grosseiras da lei de 7 de novembro de 1831, que pretendera extinguir o tráfico africano. Ao contrário de Vasconcelos, não era ‘negreiro’, não se conformava com a perpetuidade da escravidão e, além da representação da Sociedade Defensora, fazia com que esta oferecesse um prêmio de 400$000 ao autor da melhor memória contra o tráfico africano e a favor do trabalho livre” (cf. Octavio Tarquinio de Sousa, op. cit., p. 151).
Antes que haja mal-entendidos: o que distinguia Evaristo e outros “liberais moderados”, quanto à escravidão, não era que fossem a favor da abolição imediata. A questão é que – ao contrário, por exemplo, de Bernardo Pereira de Vasconcelos – ele não tinha a concepção de que o Brasil devia – ou poderia – se desenvolver, talvez eternamente, com base no trabalho escravo.
Outro exemplo é o do principal líder político, entre os “liberais moderados” – o padre Diogo Antonio Feijó, ministro, depois regente, depois presidente do Senado. Por exemplo, na proclamação da sua Regência, a 24 de outubro de 1835:
“A presente introdução de colonos tornará desnecessária a escravatura. E com a extinção desta, muito lucrará a moral e a fortuna do cidadão.”
Para que fique mais clara a relação de Feijó com a escravidão, transcrevemos uma parte de seu testamento, datado em três de março de 1835, quando se preparava para as eleições de regente:
“Deixo forros todos os meus escravos crioulos de maior idade e a Evaristo e sua mulher, a Eustáquio e Eusébio; e as mulheres destes Querubina e Antônia ficarão forras da data deste a cinco anos. Todos os mais escravos havidos e por haver serão forros logo que completem vinte e cinco anos. A todos dará minha herdeira no momento de sua liberdade cem mil-réis; e àqueles que ainda têm de esperar o prazo aqui marcado dará além dos cem mil-réis, o prêmio de dois por cento anual dessa quantia. Os que ainda ficam escravos só poderão estar em companhia e serviço de minha herdeira; e somente serão alugados ou emprestados a pessoa da escolha dos mesmos da qual ainda assim poderão retirar-se para outra se essa os maltratar. Esta mesma disposição terá lugar depois da morte de minha herdeira, quando ainda algum escravo tenha de preencher o prazo para libertar-se. Declaro que qualquer filho de escrava, ainda depois de minha morte e antes de libertar-se a mãe, será livre desde o seu nascimento, e os pais terão todo o cômodo e tempo necessário para o criar e poderão conservá-lo depois de criado, onde quiserem. Declaro mais que só o carpinteiro Benedito fica excluído dos cem mil- réis por já ter meios de subsistência. Fica pertencendo à minha herdeira os serviços dos que ainda ficam escravos e todos os mais bens que possuo. Declaro que a liberdade, que dou aos escravos, não é benefício, é obrigação que me impus, prometida há muito, e aos mesmos que aceitaram a liberdade a eles e a seus filhos.”
Nessa época, a escravidão – e, mais que isso, o preconceito contra os que não eram brancos, isto é, o povo – já era uma questão aguda. Octavio Tarquínio de Sousa, no nono volume da “História dos Fundadores do Império do Brasil”, ao escrever sobre a “Nova Luz Brasileira” (o mesmo jornal que propunha a nacionalização da terra, a que já nos referimos), refere:
“Numa ocasião em que o mulato ia marcando a sua ascensão social, em que tantos homens de cor acabavam, segundo o testemunho do inglês Armitage, do francês Horace Say e do alemão Carl Seidler, de desempenhar papel apreciável nos sucessos que culminaram com a abdicação de D. Pedro I, a Nova Luz de Ezequiel e Queirós sublinhava o preconceito que explodia no teatro, ao aparecer em camarote ‘um cidadão homem de cor, livre’. Eram espirros, gritos de fora preto, fora carvão, fora mendobi torrado; eram os brancalhões a zombar dos caibras, no dizer do jornal exaltado. (…) acirrava ao mesmo tempo a Nova Luz o ódio nativista contra os antigos donos da terra. Não escasseavam referências à ‘canalha recolonizadora’, aos ‘caixeiros imprudentes com presunção de possuir a cor branca que é a cor conquistadora ou dos senhores’. Furor nacionalista que abrangia todos os europeus — ‘atrevidos estrangeiros que nos enviava a corrompida Europa’ — e em particular a racaille francesa” (op. cit., p. 245).
Quanto aos escravos:
“… [os redatores da Nova Luz Brasileira] clamavam a sua indignação ante o espetáculo de todos os dias nas ruas do Rio de Janeiro: as surras nos escravos. Aludindo ao caso de um português bêbado que, às quatro horas da tarde, em plena rua São José, abrira a bengaladas três brechas na cabeça de um preto, acentuavam que nenhum abalo produzira tal atentado e que havia gente que se deleitava em presenciar os castigos e não se afligia com os gritos, alta noite, de míseros africanos espancados. Sadismo de uns, indiferença de outros. Indiferença que ia desde as próprias irmandades de pretos e pardos até as municipalidades, os juízes de paz e ‘os liberais de influência’. Também salientavam, apercebidos do que valia como reflexo social do regime de trabalho servil, o fato de ‘andarem muitas vezes pelas ruas desta cidade escravos ocupados em transportar um único livro, um caderno de papel, um pequeno embrulho, atrás de homens e mesmo de muitos jovens que só para isso os obrigavam por julgarem desairoso conduzirem eles próprios qualquer pequeno embrulho’. De outra feita, propunham o ventre livre em 1831: ‘muito desejáramos que a liberdade dos caibras já obtida em o memorável dia 7 de abril fosse festejada com uma lei que libertasse os ventres ainda não livres’. Mas tão arraigada era a escravidão no Brasil que sugeriam ficassem os nascidos livres vinculados à ‘gleba’ por trinta anos, só daí em diante podendo receber salário e tomar o rumo que lhes conviesse.”
“Cabra” ou “caibra” era a gíria da época para mestiços de negros(as) e mulatos(as), que perfaziam a maior parte da população não escrava do país.
DOIS VOTOS
Por fim, a questão de fundo em toda essa luta política, que, inclusive, condicionou, nessa época, a luta contra a escravidão: o problema da unidade nacional.
Aqui, não vamos historiar os movimentos de caráter centrífugo – isto é, com tendência ao separatismo, pelo menos potencialmente – dessa época.
Em parte, já o fizemos em outros artigos, com uma exceção importante: a Guerra dos Farrapos.
Mas deixaremos tal exame para um texto posterior.
Preferimos abordar as regras eleitorais do Ato Adicional de 1834.
Essas regras definiam que o regente seria eleito pelos mesmos eleitores que elegiam os deputados e os senadores (os eleitores de “segundo grau” – ou de província -, que eram escolhidos pelos eleitores de “primeiro grau” – ou de paróquia; estes últimos eram todos os que tinham direitos políticos, com exceção dos que não tivessem “renda líquida anual [de] cem mil réis por bens de raiz, indústria, comércio, ou emprego”).
Dois artigos do Ato Adicional definiam essas regras:
“Art. 26. Se o Imperador não tiver parente algum que reúna as qualidades exigidas no art. 122 da Constituição, será o Império governado, durante a sua menoridade, por um regente eletivo e temporário, cujo cargo durará quatro anos, renovando-se para esse fim a eleição, de quatro em quatro anos” (grifo nosso).
Ou seja, ficava abolida a Regência Trina instituída pela Constituição de 1824 (artigos 123 e 124), substituída pela Regência Una.
Além disso, o regente único tinha, agora, um mandato de quatro anos, ao invés de governar (como os três regentes da Constituição de 1824) até que o imperador completasse a maioridade (18 anos, pela mesma Constituição).
“Art. 27. Esta eleição será feita pelos eleitores da respectiva legislatura, os quais, reunidos nos seus colégios, votarão por escrutínio secreto em dois cidadãos brasileiros, dos quais um não será nascido na província a que pertencem os colégios, e nenhum deles será cidadão naturalizado” (grifo nosso).
Aqui, o mais importante: a preocupação dos “liberais moderados” em que não predominasse, nas eleições para o regente, o localismo.
Daí, a regra de que os eleitores de segundo grau teriam dois votos, um dos quais em um candidato que não fosse nascido na província (cf. Manoel Rodrigues Ferreira, A Evolução do Sistema Eleitoral Brasileiro, 2ª ed., TSE/SDI, Brasília, 205, p. 107).
Os “liberais moderados”, com Feijó, candidato lançado por Evaristo da Veiga, venceram as eleições de 1835, para a Regência Una.
Mas, nas eleições de junho de 1836, para o parlamento, venceram os “regressistas” – os futuros conservadores, do ex-liberal moderado Bernardo Pereira de Vasconcelos.
O manifesto do padre Feijó ao povo, anunciando sua renúncia, é o réquiem dos “liberais moderados”, desanimador e algo vazio:
“Brasileiros:
“Por vós subi à primeira magistratura do Império, por vós desço hoje desse eminente posto.
“Há muito conheço os homens e as coisas. Eu estava convencido da impossibilidade de obterem-se medidas legislativas adequadas às nossas circunstâncias, mas forçoso era pagar tributo à gratidão, e fazer-vos conhecer pela experiência que não estava em meu poder acudir às necessidades públicas, nem remediar os males que tanto vos afligem.
“Não devo, por mais tempo, conservar-me na regência; cumpre, que lanceis mão de outro cidadão, que mais hábil, ou mais feliz mereça as simpatias dos outros poderes políticos.
“Eu poderia narrar-vos as invencíveis dificuldades que previ e experimentei; mas para quê? Tenho justificado o ato da minha espontânea demissão, declarando ingenuamente, que eu não posso satisfazer ao que de mim desejais.
“Entregando-vos o poder, que generosamente me confiaste; não querendo por mais tempo conservar-nos na expectação de bens, de que tendes necessidade, mas que não posso fazer-vos; confessando o meu reconhecimento e gratidão à confiança que vos mereci, tenho feito tudo quanto está de minha parte.
“Qualquer, porém, que for a sorte, que a providência me depare, eu sou cidadão brasileiro, prestarei o que devo à pátria.
“Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1837.
“Diogo Antônio Feijó”
Começava um novo capítulo da vida política do Brasil, em que conservadores e liberais – não mais os “liberais moderados” ou “liberais exaltados” – iriam se alternar no governo, até a República, enfim proclamada em 1889.



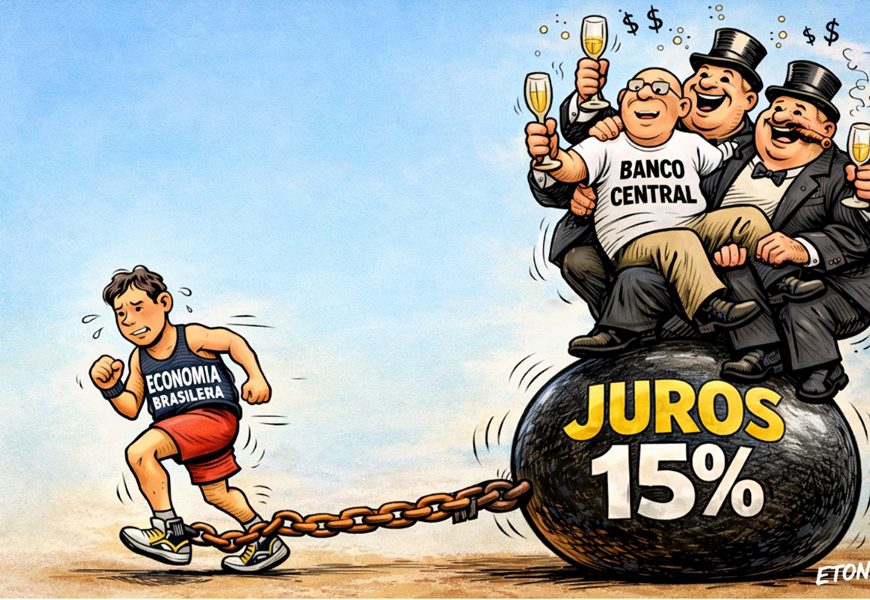











Respostas de 4
Malditas sejam as gerações que africanizaram o Brasil. Elas criaram o nosso inferno neste desgraçado País que a miscigenação transformou numa catástrofe humana ou desumana.
Agora é tarde. Agora o nosso futuro já está perdido no passado. Malditos sejam os traficantes de escravos e toda a sua clientela de escravistas. Eles fizeram do Brasil uma nigrícia.
E agora, quando o pior parecia ter ficado para trás, eis que volta dos mais escuros do séculos, o tráfico negreiro. A imigração dá o Brasil ao Haiti, cuja população para cá traz a desagregação social, o atraso, o racismo, o desvalor do trabalho, o nosso eterno subdesenvolvimento, a nossa eterna vergonha, a criminalidade, o nosso sofrimento.
Eis o que “ganhamos” com a diversidade, com a alteridade, com a África que “civiliza”. E para calar o grito da dor, a mordaça da hipocrisia, a censura politicamente correta. Assim fica a tragédia parecendo coisa normal.
Mas quem pode se acostumar com o inferno?
SOCORRO!!
Quer dizer que o problema do Brasil são os negros? Mas o Bolsonaro é branco – tem até olhos azuis. O Guedes é branco. O Weintraub é branco. O Olavo de Carvalho é branco. O Hitler também era branco. E o Mussolini.
Fui censurado no Hora do Povo. Jamais voltarei a ler este jornal. Nunca mais virei aqui. Adeus!
Não foi censurado. Apenas, é crime divulgar propaganda do racismo e do nazismo (Lei 7.716/89). Portanto, o leitor deve escolher outro órgão para divulgar tão edificantes pontos de vista. Com o risco de levar três anos de cadeia.