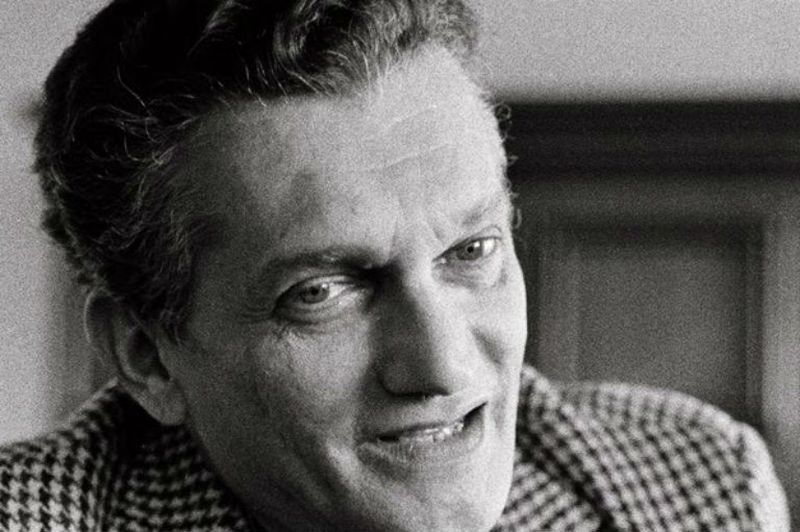CARLOS LOPES
(HP 15/05/2013 e 17/05/2013)
No texto de Pedro Cezar Dutra Fonseca e Andrés Ferrari Haines que publicamos nas duas edições anteriores, sob o título “O programa econômico do 1º governo Getúlio e a industrialização do país“, há uma observação importante sobre a intencionalidade da industrialização a partir de 1930 e as posteriores interpretações. O tema foi mais extensamente desenvolvido em outro ensaio de um dos autores (v. P.C.D. Fonseca, “Instituições e política econômica: crise e crescimento do Brasil na década de 1930“, in “A Era Vargas: Desenvolvimentismo, economia e sociedade“, Ed. Unesp, São Paulo, 2012, págs. 159 a 178).
Neste último texto, o autor, usando alguns pressupostos teóricos que têm origem, fundamentalmente, no economista norte-americano Thorstein Veblen, demonstra – a nosso ver muito convincentemente – que o governo Getúlio estabeleceu uma política consciente com o objetivo de industrializar o país, mais evidente ainda pelas instituições que formou e pelas que reformou.
A contestação, nesse caso, é a Celso Furtado, que, tanto em “Formação Econômica do Brasil” (1959) quanto em “Desenvolvimento e Subdesenvolvimento” (1961), “Dialética do Desenvolvimento” (1964) e “Formação Econômica da América Latina” (1969), em maior ou menor grau, defendeu que a industrialização após 1930 foi, essencialmente, um subproduto “inconsciente” (sic) da política de defesa do café que teria sido implementada por Getúlio Vargas. Nas palavras de Fonseca:
“Furtado acabou por entender o crescimento da indústria como consequência não intencional da política de valorização do café e de manutenção da renda nominal do setor, executada pelo governo seja pelo efeito negativo da crise nas finanças públicas e no balanço de pagamentos, seja pela importância econômica e política dos setores exportadores de café” (A Era Vargas, págs. 159/160, grifo nosso).
E. mais adiante:
“… Furtado entendeu o crescimento industrial da década de 1930 como fruto da política de defesa do café, que teria sido implementada pelo governo: (a) seja devido às exigências pragmáticas impostas pela crise, por sua repercussão no balanço de pagamentos e na arrecadação de impostos; (b) seja por razões de ordem política, frente à importância do setor cafeicultor e pela própria composição do governo, chamando atenção a seus compromissos conservadores, ‘oligárquicos’ e ‘agraristas’; ou (c) seja, ainda, devido a um terceiro fator, assinalado em uma passagem, na qual se menciona não propriamente a política governamental, mas a decisão individual dos capitais privados, em busca de diversificação dos investimentos, já que nas atividades voltadas ao mercado interno havia maior perspectiva de lucro, frente à crise das atividades de exportação” (cf. op. cit., pág. 163).
Não é pouca coisa, no campo da historiografia econômica, contestar Celso Furtado. Entretanto, o professor Fonseca tem razão.
Consideremos os seguintes trechos, extraídos de “Formação Econômica do Brasil“:
“… a recuperação da economia brasileira, que se manifesta a partir de 1933, não se deve a nenhum fator externo, e sim à política de fomento seguida inconscientemente no país e que era um subproduto da defesa dos interesses cafeeiros” (cap. XXXI, grifos nossos).
Ou, no mesmo capítulo, a análise sobre as opções após 1930:
“A solução que à primeira vista pareceria mais racional consistia em abandonar os cafezais. Entretanto, o problema consistia menos em saber o que fazer com o café do que decidir quem pagaria pela perda. Colhido ou não o café, a perda existia. Abandonar os cafezais sem dar nenhuma indenização aos produtores significava fazer recair sobre estes a perda maior. Ora, conforme já vimos, a economia havia desenvolvido uma série de mecanismos pelos quais a classe dirigente cafeeira lograra transferir para o conjunto da coletividade o peso da carga nas quedas cíclicas anteriores. Seria de esperar, portanto, que se buscasse por esse lado a linha de menor resistência” (grifo nosso).
“… a política de defesa do setor cafeeiro nos anos da grande depressão concretiza-se num verdadeiro programa de fomento da renda nacional. Praticou-se no Brasil, inconscientemente, uma política anticíclica de maior amplitude que a que se tenha sequer preconizado em qualquer dos países industrializados” (grifos nossos).
Não iremos continuar, pois nosso objetivo aqui é apenas comentar um problema – e uma solução – que os autores que publicamos colocaram na berlinda. Sobre como a questão aparece nos demais livros de Celso Furtado, recomendamos o ensaio, que já citamos, de Pedro Cezar Dutra Fonseca, aliás, um dos organizadores da coletânea “A Era Vargas”. Uma versão anterior do mesmo ensaio apareceu na Revista de Economia Política (v. “Sobre a intencionalidade da política industrializante do Brasil na década de 1930“, REP, v. 23, nº 1 (89), jan-mar/2003, p.133-48).
Nos deteremos apenas na observação de Fonseca sobre como essa concepção de Furtado torna incoerente a sua abordagem da tentativa de golpe de 1932, forçando-o a escrever, em “Formação Econômica da América Latina“, o seguinte trecho, algo bastante desajeitado para quem foi um estilista da língua e um grande economista: “O governo Vargas, não obstante a contrarrevolução inspirada pelos grupos tradicionalistas em 1932, levou adiante uma política de compromisso com os grupos cafeicultores, cuja produção foi adquirida mesmo que em grande parte tivesse de ser destruída“.
Resta saber porque eles se levantaram em armas contra o governo Vargas… No entanto, é forçoso reconhecer que também a Revolução de 1930 fica, nesse caso, sem explicação, do ponto de vista de seus fundamentos econômicos, ainda que os acontecimentos políticos não possam ser reduzidos à instância econômica.
Qual a explicação para esse erro de Celso Furtado? Há alguns anos formulamos umas poucas hipóteses, depois de leituras de sua obra mais famosa – e do famoso Plano Trienal, elaborado para o governo Jango, em nossa opinião uma tentativa de conciliar o inconciliável, e, portanto, como se viu, insustentável.
Porém, o que queremos enfatizar não são essas explicações – ou tentativas de compreensão. Isso pode ficar para depois.
A questão é que Celso Furtado tornou-se, com o tempo, e muito justamente, uma bandeira do progresso em economia. Mesmo no final de sua longa vida, ele, por exemplo, recusou-se a ver nas multinacionais o veículo de algum desenvolvimento para o seu, o nosso país – no mesmo momento em que outros, por covardia ou por corrupção, se rendiam aos insuspeitados encantos e ao conhecido dinheiro dos bancos e das multinacionais.
Aos 80 anos, em “Reflexões sobre a crise brasileira“, ele escreveu algo que parece se referir aos dias de hoje:
“Com efeito, se prosseguimos no caminho que estamos trilhando desde 1994, (…) o Passivo Brasil inchará em um decênio de forma a absorver a totalidade da riqueza que acumulamos desde a proclamação da Independência. (…) Impõe-se formular a política de desenvolvimento a partir de uma explicitação dos fins substantivos que almejamos alcançar, e não com base na lógica dos meios imposta pelo processo de acumulação comandado pelas empresas transnacionais. (…) Se admitimos que nosso objetivo estratégico é conciliar uma taxa de crescimento econômico elevada com absorção do desemprego e desconcentração da renda, temos de reconhecer que a orientação dos investimentos não pode subordinar-se à racionalidade das empresas transnacionais. (…) temos que voltar à ideia de projeto nacional, recuperando para o mercado interno o centro dinâmico da economia” (v. HP, 05/08/2011 – grifos nossos).
Até em relação ao “crescimento econômico” da ditadura, Furtado, ao fim e ao cabo, estava certo, ao apontar a estagnação a que levaria a concentração de renda pós 1964. Mostrou-se, nisso, imensamente superior aos seus críticos – Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto, o mais obscuro Carlos Manuel Peláez, e, inclusive, Maria da Conceição Tavares (e José Serra; ver o ensaio “Além da estagnação“, escrito por Conceição e Serra, e incluído no livro mais conhecido da primeira, “Da Substituição de Importações ao Capitalismo Financeiro“. Algum leitor mais acostumado à literatura econômica poderá arguir, quanto à posição de Conceição Tavares em relação a Furtado, o seu artigo em homenagem ao último, “Subdesenvolvimento, dominação e luta de classes“. Não duvidamos da simpatia pessoal existente entre os dois – mas, apesar de vários aspectos positivos, esse artigo tem o problema de ser mais sobre si mesma do que sobre Furtado).
No entanto, certamente que Celso Furtado odiaria que sua obra ou sua memória fossem sacralizadas. Na questão da intencionalidade da política de industrialização no primeiro governo Getúlio, ele estava errado.
2. CONTAS
Na mídia, fez-se muito alarde, nos últimos dias, em torno dos resultados da balança comercial – um “saldo negativo” de US$ 6,150 bilhões nos primeiros quatro meses do ano: uma queda, no saldo comercial, de -64,5% em 12 meses (ou US$ -9,449 bilhões na comparação entre abril de 2012 e abril de 2013), com o déficit nas contas externas de curto prazo (conta de transações correntes) chegando perto de US$ 25 bilhões em três meses.
Apesar de aflitivo, esse resultado, para nós, não é surpreendente (v., por ex., o que, em março de 2009, dizíamos no artigo “A espoliação dos recursos nacionais pelo investimento direto estrangeiro”, HP 11/03/2009).
Não muito estranhamente – pois faz parte da função da mídia, e de seus “comentaristas”, não dizer a verdade (exceto quando a outra alternativa é desaparecer, às vezes nem assim) – esse rombo foi atribuído à queda nas exportações. Parece que a lógica é a seguinte: o país pode e deve continuar importando a rodo; o problema sempre são as exportações; se elas não compensam, no saldo, as importações, aí mesmo é que a culpa só pode ser das exportações.
No entanto, não é verdade. Nos quatro primeiros meses deste ano, o país exportou US$ 71,468 bilhões. Não é pouca coisa. Sobretudo considerando que as exportações do primeiro quadrimestre caíram (em preço total) 3,1% pela média diária, em relação a período equivalente do ano passado; já as importações, aumentaram 10,1%, pelo mesmo critério (cf. MDIC/SECEX/DEPLA, Balança Comercial Brasileira Abril 2013, página 3).
O que não é um problema novo: de 2007 (último ano em que houve superávit nas transações correntes) a 2012, as exportações aumentaram +51%. O problema é que as importações aumentaram +85%.
Como já ressaltamos anteriormente, a primarização das exportações nos levou a uma situação difícil no comércio exterior. Voltaremos a esse problema mais à frente. Por agora, basta observar que a descoberta, feita por certa mídia, de que as exportações brasileiras ocupam um lugar cada vez menor na importação de outros países só é novidade para quem é tonto o suficiente para ignorar a deterioração dos termos de intercâmbio, levantada pela CEPAL há nada menos que 64 anos:
“… se os preços das importações de produtos latino-americanos baixam, em relação aos preços dos artigos manufaturados que exportam os Estados Unidos, isto é, se os termos de intercâmbio melhoram para este país, caberia esperar que isso tivesse a virtude de estimular tais importações. Mas a análise estatística não revela uma correlação satisfatória entre as variações destas e os termos de intercâmbio (…). Os termos de intercâmbio influem mais na proporção do ingresso monetário que os Estados Unidos destinam às importações de produtos latino-americanos” (v. ONU/CEPAL, Estudio Economico de America Latina 1949, NY, 1951, págs. 27-28).
3. DESTRUIÇÃO
É óbvio que o nosso mercado interno tem condições de absorver uma queda de 3,1% (ou até maior) no valor das exportações, sobretudo se conjurarmos a campanha reacionária contra os aumentos reais de salários.
O que não tem a menor condição de continuar, sob pena de graves consequências nas contas externas, é essa escalada de importações – e com a destruição crescente da indústria nacional (por consequência, com a redução do crescimento, com a estagnação) a que ela está conduzindo.
4. CENSO
Há poucas semanas, o Banco Central divulgou o Censo de Capitais Estrangeiros, que, por lei, é obrigatório a cada cinco anos desde 1995. Mas o BC modificou o Censo, aliás, para melhor: além do censo quinquenal, haverá outro a cada ano, feito por amostragem. Foram publicados agora os primeiros resultados de 2010 (censo quinquenal) e 2011 (anual).
Sucintamente, e recapitulando alguns dados por nós já publicados: pelo critério do BC, o estoque de “investimento direto estrangeiro” (IDE), ou seja, o estoque de propriedade estrangeira sobre empresas dentro do país, subiu de US$ 41,696 bilhões em 1995 para US$ 103,015 bilhões em 2000, US$ 162,807 bilhões em 2005, US$ 587,209 bilhões em 2010 e US$ 589,190 bilhões em 2011. Portanto, a variação foi a seguinte:
a) 1995-2000: +147%.
b) 2000-2005: +58%.
c) 2005-2010: +261%.
d) 2010-2011: +0,3%.
Mas, de que empresas estamos falando? Que empresas foram recenseadas?
Ao todo, 13.858 empresas com mais de 10% em ações com direito a voto pertencentes a estrangeiros: 44,70% delas inteiramente de propriedade estrangeira e 44,64% com mais de 50% das ações votantes de propriedade estrangeira. Em suma, 89,34% (12.381 empresas) com maioria ou totalidade de ações votantes de propriedade estrangeira.
Além disso, foram recenseadas 1.477 empresas que têm entre 10% e 50% do capital votante em mãos estrangeiras e mais 1.799 empresas em que “não há investidor não-residente que possua, individualmente, 10% ou mais do poder de voto“, por isso classificadas como “empresas de investimento em carteira“, ao contrário das anteriores, que são as “empresas de investimento direto“.
Uma distinção importante é a que separa a nacionalidade do “investidor imediato” daquela do “investidor final”. Dita nesses termos até parece alguma coisa muito profunda, mas é simplesmente a diferença entre o país onde está o verdadeiro proprietário (“investidor final”) e o país de onde veio o dinheiro que comprou a empresa no Brasil.
Por exemplo, os Países Baixos, ou seja, a Holanda, que hoje talvez seja o maior bordel fiscal do mundo, é a maior remetente de dinheiro externo para o Brasil (nada menos que 27,3% do estoque em 2011). Porém, a maior parte desse dinheiro não é holandês (por exemplo, a Holanda hospeda a sede de 16 grandes multinacionais que, de holandesas, têm o endereço para correspondência).
Assim, de primeiro colocado entre os “investidores imediatos”, os Países Baixos descem para 14º entre os “investidores finais” – o primeiro destes, naturalmente, são os EUA.
Certamente, essa distinção não resolve definitivamente o problema da verdadeira nacionalidade dos proprietários de empresas no Brasil. Mas ajuda um pouco.
Por exemplo, cerca de 1/5 das empresas estrangeiras são, declaradamente, filiais de multinacionais dos EUA. Resumindo as nacionalidades principais:
1) EUA: 2.891 empresas (20,26%);
2) Itália: 1.030 empresas (7,22%);
3) Espanha: 971 empresas (6,80%);
4) Alemanha: 835 empresas (5,85%)
O problema da nacionalidade, porém, reaparece quando percorremos a distribuição do estoque de capital estrangeiro nos vários ramos econômicos, de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Nos parece estranho, por exemplo, que nos itens “construção” e “comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas”, as empresas canadenses liderem o estoque de capital estrangeiro neles alocado.
O mais provável é que o estoque sob controle norte-americano seja bem maior do que deixa transparecer o número de empresas que declaradamente são filiais de empresas norte-americanas. Vejamos os maiores estoques oficiais:
1) Indústria de transformação: EUA (US$ 47,878 bilhões);
2) Atividades e serviços financeiros, seguros: EUA (US$ 36,423 bilhões);
3) Informação e Comunicação: Espanha (US$ 22,740 bilhões);
4) Indústrias Extrativas: Espanha (US$ 10,931 bilhões);
5) Eletricidade e Gás: EUA (US$ 6,750 bilhões);
6) Comércio, Reparação de Veículos: Canadá (US$ 4,321 bilhões);
7) Atividades Imobiliárias: EUA (US$ 4,213 bilhões);
8) Construção: Canadá (US$ 2,442 bilhões);
9) Transporte, Armazenagem e Correio: Itália (US$ 1,471 bilhões);
10) Agricultura, Pecuária, Produção Florestal e Aquicultura: Inglaterra (US$ 1,087 bilhão) e EUA (US$ 1,002 bilhão);
11) Alojamento e Alimentação: EUA (US$ 357 milhões).
Porém, mais revelador ainda é a distribuição do total do estoque estrangeiro por setor. Abaixo, uma amostra com os setores que, em 2011, concentraram mais de 1% do estoque de investimento direto estrangeiro (IDE) – e, não esqueça, leitor, 1% do estoque são quase US$ 6 bilhões:
1) Serviços financeiros: 14,71% do estoque.
2) Bebidas: 10,83%.
3) Telecomunicações: 9,10%.
4) Extração de petróleo e gás natural: 7,83%.
5) Eletricidade, gás e outras utilidades: 4,92%.
6) Comércio, exceto veículos: 4,83%.
7) Veículos automotores, reboques e carrocerias: 4,33%.
8) Extração de minerais metálicos: 4,04%.
9) Produtos químicos: 3,90%.
10) Metalurgia: 3,70%.
11) Produtos do fumo: 2,57%.
12) Produtos alimentícios: 2,41%.
13) Seguros, resseguros, prev. compl. e planos de saúde: 2,24%.
14) Máquinas e equipamentos: 2,00%.
15) Atividades imobiliárias: 1,94%.
16) Produtos farmoquímicos e farmacêuticos: 1,39%.
17) Extração de minerais não-metálicos: 1,34%.
18) Produtos de metal: 1,30%.
19) Produtos de borracha e de material plástico: 1,29%.
20) Celulose, papel e produtos de papel: 1,08%.
21) Construção de edifícios: 1,05%.
5. BRASIL NO BRASIL
Assim, com esse grau de desnacionalização – e crescente – qualquer economia vai sempre bater recordes de importação e, por consequência, irá, cedo ou tarde, ter as suas contas externas em crise. Foi a isso que nos conduziu a política do sr. Mantega, de privilégio ao “investimento direto estrangeiro” (IDE), mera macaquice de outra macaquice – a política do tresloucado Gustavo Franco, que levou à bancarrota o país no governo de Fernando Henrique.
Não vamos examinar neste artigo o problema das crescentes remessas de lucros (só entre 2007 e 2012, as remessas totais para o exterior ultrapassaram US$ 385 bilhões, a maior parte, remessas de lucros declaradas ou disfarçadas). Mas é evidente que a desnacionalização conduz também ao estouro das remessas.
Voltemos ao problema da primarização das exportações. Por exemplo, em abril, somente 35,1% do valor exportado correspondeu a produtos manufaturados, enquanto que praticamente 100% das importações (com exceção, talvez, do item “peixes e crustáceos” – mas apenas em parte) foram produtos industrializados, acabados ou intermediários (estes, em geral componentes importados pelas multinacionais, e, também, por empresas nacionais que ficaram sem fornecedores internos devido à destruição de elos da cadeia produtiva, foram 43,3% das importações). Além disso, devido ao problema do refino interno, os combustíveis e lubrificantes foram 18,6% das importações nos quatro primeiros meses do ano.
Portanto, a maior parte do valor das exportações veio de produtos primários (sobretudo soja e minérios), que estão, em geral, caindo de preço ou de vendas (as exportações para os EUA caíram 20,2% no primeiro quadrimestre, em relação ao mesmo período do ano passado, apesar de todas as mesuras do ministro Pimentel; as exportações para a União Europeia caíram 9,3% no mesmo período).
De janeiro a abril deste ano houve redução nas receitas de exportação dos seguintes produtos básicos: petróleo em bruto (-53,8%), fumo em folhas (-17,7%), café em grão (-16,2%), algodão em bruto (-16,2%) e trigo em grão (-7,3%).
Enquanto isso, cresceu a despesa com importações em todas as “categorias de uso”: combustíveis e lubrificantes (+28,4%), bens de capital (+8,8%), matérias-primas e intermediários (+7,5%) e bens de consumo (+2,0%).
Não é um trabalho de Hércules – pelo menos por enquanto – enfrentar essa situação, aumentar o investimento, o gasto e o financiamento público para desencadear um processo de substituição de importações, reconstruir elos da cadeia produtiva, enfim, aumentar, na economia, o espaço da empresa nacional, privada e estatal. Mas não será com mais concessões ao dinheiro externo, com mais privatizações, que será possível superar esta situação. Não é uma figura de retórica dizer que precisamos aumentar o espaço do Brasil dentro do próprio Brasil. Para isso, nem mesmo é preciso muita ousadia ou coragem, exceto aquela que nos define – aquela que separa os seres humanos de outros entes da natureza.