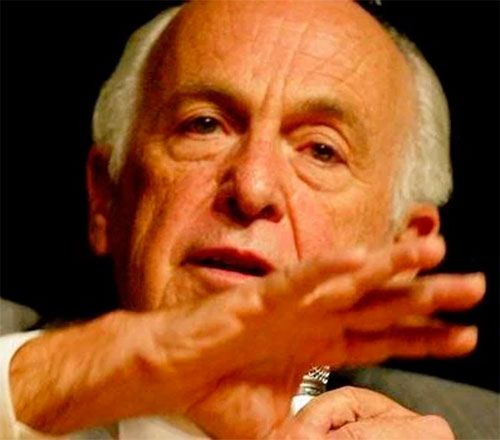CARLOS LOPES (HP, 28/06/2017)
Segundo o sr. Bresser-Pereira, em sua palestra no Congresso da UNE, há duas semanas, o primeiro ponto de seu programa – intitulado abusivamente de “Brasil Nação” – é a “responsabilidade fiscal”, definida como “a ideia é gastar menos, com regras fiscais rigorosas”.
“Gastar menos”? “Regras fiscais rigorosas”?
Há algum tempo, Bresser anunciou que saíra do PSDB, partido do qual foi membro fundador e ministro da Administração Federal e Reforma do Estado do governo Fernando Henrique, período em que foram cortados 121.356 funcionários federais – principalmente na Saúde (-19.525 servidores), Educação (-9.803 servidores) e Previdência Social (-6.195 servidores, todos os dados são do Ministério do Planejamento).
Isto, sem incluir, nessa conta, as estatais.
Na época, a justificativa para os devastadores cortes no Estado – isto é, no atendimento ao povo – era porque “é preciso gastar menos, com mais qualidade”, o que, segundo o sr. Bresser, era fundamental para a “implantação da administração pública gerencial”, com “ênfase no controle dos resultados através dos contratos de gestão”, “transferência para o setor público não-estatal dos serviços sociais e científicos competitivos”, “terceirização das atividades auxiliares ou de apoio, que passam a ser licitadas competitivamente no mercado”, autonomia das agências em relação ao Estado – e outras preciosidades (cf. Bresser-Pereira, “A Reforma do Estado dos anos 90: Lógica e Mecanismos de Controle”, Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, 1997, p. 42).
Da mesma forma que hoje, Bresser garantia que todo esse esgoto neoliberal nada tinha a ver com o neoliberalismo (cf. Bresser, op. cit., p. 7).
Somente para esclarecer esse ponto, vejamos a conclusão do sr. Bresser, nesse texto escrito quando era ministro da Administração Federal e Reforma do Estado de Fernando Henrique:
“O resultado dessa reforma será um Estado (…) menos voltado para a proteção e mais para a promoção da capacidade de competição. Será um Estado que não utilizará burocratas estatais para executar os serviços sociais e científicos, mas contratará competitivamente organizações públicas não-estatais. Será o que propusemos chamar de um Estado Social-Liberal, em substituição ao Estado Social-Burocrático do século vinte. (…) A Reforma do Estado nos anos 90 é uma reforma que pressupõe cidadãos (…) menos protegidos ou tutelados pelo Estado, porém mais livres, na medida em que o Estado que reduz sua face paternalista, torna-se ele próprio competitivo, e, assim, requer cidadãos mais maduros politicamente” (cf. Bresser, op. cit., pp. 52-53).
Como o leitor pode ver, a reforma do Estado de Bresser nada tinha a ver com o neoliberalismo, exceto o fato de não passar do mais vagabundo neoliberalismo – se é que existe algum que seja menos vagabundo.
Portanto, ao falar, hoje, 20 anos depois, em “gastar menos” (numa situação em que não se gasta nada com o povo) e em “regras fiscais rigorosas” (quando o gasto público está congelado por 20 anos), o sr. Bresser-Pereira demonstra que pode ter saído do PSDB, porém, difícil é sair o tucano de dentro dele. Embora, é verdade, isso não é problema nosso – e, provavelmente, Bresser não considera um problema.
O que é problema nosso é o seguinte: em que, nesse aspecto – “gastar menos” e “regras fiscais rigorosas” – Bresser difere de Meirelles (ou de Armínio Fraga e Gustavo Franco)?
Essencialmente, em nada.
Todo mundo sabe, no Brasil, o que quer dizer “responsabilidade fiscal”. Como sempre acontece no neoliberalismo, ela é, precisamente, o contrário do que diz seu nome: a mais abjeta irresponsabilidade social, econômica, política – e, inclusive, orçamentária.
Que o digam os governos Dilma e Temer.
No manifesto em que embalou o seu programa, Bresser foi menos claro – portanto, mais confuso ou mais enrolador – em seu primeiro ponto de programa: “regra fiscal que permita a atuação contracíclica do gasto público, e assegure prioridade à educação e à saúde”.
Já sabemos qual foi a atenção que Bresser propiciou à educação e à saúde quando foi ministro. Mas, por enquanto, vamos esquecer a sua operosa gestão na administração pública.
Pareceria, numa leitura rápida, que ninguém poderia ter nada contra uma “regra fiscal que permita a atuação contracíclica do gasto público, e assegure prioridade à educação e à saúde”.
Mas, se o negócio é usar o gasto público para sair da crise (“atuação contracíclica do gasto público”) e dar prioridade à educação e à saúde, para que uma “regra fiscal”? Supõe-se – ou poderia, algum ingênuo, supor – que a regra fiscal seria essa: a de gastar o dinheiro dos impostos no crescimento e na promoção do bem estar social.
No entanto, como está claro pelo texto do manifesto de Bresser, não é isso o que ele está propondo. Pelo contrário, está propondo uma “regra fiscal” além ou acima dos gastos com saúde, educação ou para incentivo ao crescimento.
Então, por que é preciso essa “regra fiscal”?
Obviamente, para garantir o “superávit primário”, isto é, o desvio das receitas primárias (as receitas provindas da arrecadação de impostos e contribuições) das despesas “primárias” (isto é, não-financeiras) para as despesas financeiras, isto é, para transferências sob a forma de juros.
Não existe outro motivo para se ter uma “regra” do tipo que está no texto do sr. Bresser – e que, inclusive, é o seu primeiro ponto de programa.
Tanto isso é verdade que os gastos públicos com o crescimento são limitados ao seu aspecto “contracíclico”, ou seja, apenas quando o país está em crise – exatamente como formulava o hoje quase presidiário Mantega em 2011, com a consequência de atirar o país em um buraco.
E, da mesma forma, tanto é assim que o sr. Bresser quer limitar os investimentos públicos que ainda não foram feitos – ou seja, até mesmo aqueles que só existem em seu programa. No Congresso da UNE, falou ele, literalmente: “o investimento privado deve ser de 75% a 80% [do investimento total da economia]. O Estado deve investir em setores principalmente de infraestrutura, coisa de 20%”.
Por que essa preocupação em limitar o investimento público, sem nem ao menos saber qual a necessidade de investimento público (ou privado) do Brasil – seja para tirar o país da crise, seja para, o que é muito mais importante, construir um país decente?
Em todos os ciclos de crescimento que houve no Brasil, desde 1930, a participação do investimento público – e, sobretudo, do investimento público produtivo, isto é, do investimento nas e das empresas estatais produtivas – foi o elemento chave para o seu desencadeamento.
Por exemplo, em 1950, o investimento público (orçamento + estatais) era 30,1% do investimento total. Em 1960, essa parcela do investimento público subira para 39,5%. Em 1965, estava em 46,3%. Quatro anos depois, às vésperas do “milagre” que o sr. Delfim atribuiu ao seu “modelo agrícola-exportador” (!?), o investimento público atingiu 60,3% do investimento total (o sr. Bresser não deveria ignorar tais dados, pois, além de extensamente conhecidos, eles foram destacados em estudos de futuros tucanos ou quase-tucanos: cf. L. Coutinho e H. Reichstul, “O setor produtivo estatal e o ciclo”, in Carlos Estevam Martins (org.), “Estado e Capitalismo no Brasil”, Hucitec, São Paulo, 1977, p. 63; os mesmos autores fizeram essa comparação em relação ao II PND: cf. “Investimento estatal 1974-1980: ciclo e crise”, in “Desenvolvimento Capitalista no Brasil”, v. 2, Brasiliense, São Paulo, 1983; sobre o autoproclamado “modelo agrícola-exportador” de Delfim Netto, cf. José Pedro Macarini, “A política econômica do governo Médici: 1970-1973”, Nova Economia, vol.15, nº 3, BH, Set./Dez. 2005).
Esse fato, aliás, é absolutamente comum: em qualquer país capitalista, no mundo atual, é o investimento público que puxa o investimento privado. E, inclusive, não apenas quando o país está em crise. O desastre da gestão Dilma/Mantega na economia deveu-se, em boa parte, a que pretenderam o contrário, apesar de todas – e as mais óbvias – evidências (sobre a gestão Dilma/Mantega, ver o trabalho de Denise L. Gentil e Jennifer Hermann, “A política fiscal do primeiro governo Dilma Rousseff: ortodoxia e retrocesso”, IE/UFRJ, 2015).
Sendo assim, por que o sr. Bresser quer limitar a priori, sem qualquer fundamento econômico, a participação do investimento público?
Pela mesma razão que ele quer uma “regra fiscal” (que, afinal, é uma limitação dos gastos e investimentos públicos): para que o setor financeiro não pense que ele é algum radical. Para que o setor financeiro possa se apropriar de uma parcela da receita pública, que, de outro modo, iria para os investimentos públicos.
Em suma, o objetivo dessa limitação dos investimentos públicos é preservar a sangria financeira – ainda que Bresser jure que quer diminuí-la, mas não é um acaso que a redução da taxa básica de juros, no manifesto do sr. Bresser, seja secundária em relação à “regra fiscal”, isto é, à limitação dos gastos públicos. Está clara qual é a prioridade.
Aliás, apesar de estar em segundo lugar em seu manifesto, a redução da taxa de juros é, na verdade, como ele expôs na UNE, o terceiro ponto de seu programa.
O segundo, como seria de esperar – já veremos por quê – é a taxa de câmbio, pois, para Bresser, o mercado externo sempre é o principal.
Por isso, a questão dos salários quase desaparece do seu manifesto: porque é evidente que tratar as exportações como principais em relação à produção para o mercado interno implica, necessariamente, em um arrocho salarial – é a isso que os neoliberais chamam de “competitividade”.
No manifesto de Bresser, a questão do câmbio está invertida, em relação ao que falou no Congresso da UNE: não é a taxa de câmbio que tem de mudar para facilitar as exportações; pelo contrário, no manifesto fala-se de um “superávit na conta corrente do balanço de pagamentos que é necessário para que a taxa de câmbio seja competitiva”.
Mas, se a taxa de câmbio é uma consequência – e não uma causa – do superávit em conta corrente (saldo comercial menos remessas para o exterior), como obtê-lo com uma taxa de câmbio que barateia os importados e encarece a produção interna, inclusive as exportações?
Ele não diz, mas sabemos a resposta: através de um arrocho salarial, que, nesse caso, teria de ser ainda mais brutal que aquele da ditadura (como diz um dos colegas neo-desenvolvimentistas do sr. Bresser, sua política “implica uma redução do salário real e da participação dos salários na renda no curto-prazo”, mas é coisa de somenos, porque essa perda será “temporária, sendo revertida [em] 6 a 7 anos”; cf. J.L. Oreiro, “Novo-Desenvolvimentismo, câmbio real e poupança doméstica: uma réplica a Samuel Pessoa”, 09/08/2016, grifos nossos).
Em resumo, essa política, do ponto de vista qualitativo, em nada se distingue daquela que, durante a ditadura, Roberto Campos impôs ao país. No momento atual, seria ainda mais violenta contra o país e contra os trabalhadores porque, antes dela, ao invés da política progressista de um João Goulart, viria a política reacionária de Dilma e Temer.
Pela razão que apontamos, os salários, no programa de Bresser, merecem apenas uma menção – e não como um ponto específico, apesar do Brasil ter uma força de trabalho de 102 milhões de pessoas. Os salários são um sub-item do “investimento público” – tratados após os lucros dos empresários (literalmente: “Retomada do investimento público em nível capaz de estimular a economia e garantir investimento rentável para empresários e salários que reflitam uma política de redução da desigualdade”; como já sabemos, essa retomada não pode, para Bresser, ultrapassar 20 a 25% do investimento total – e ainda está submetida à “regra fiscal”).
De toda maneira, a palestra do sr. Bresser no Congresso da UNE teve o mérito de expor o quanto seu autor tem pouco a ver com o Brasil – e menos ainda com a ideia de que somos, ou devemos ser, uma Nação.
É interessante que ele faça uma série de declarações sobre “resgatar o Brasil como Nação”, “erguer a Nação dos escombros”, “pensar o Brasil como Nação”, etc., etc., pois isso é tudo o que ele jamais foi capaz – mesmo nos tempos em que, seguindo a onda, antes de 1964, escreveu algumas linhas em “O Semanário”, jornal do trabalhismo nacionalista.
Exceto a retórica, bem plagiada por alguém que conhece textos mais sérios, seu manifesto não propõe nada, além de uma versão “light” do neoliberalismo vigente. Mesmo a retórica é severamente desmatada por sua deformação utilitária, uma ode ao “volta Lula”, como se essa indigência constituísse alguma saída para o Brasil. A única coisa a que o “volta Lula’, se bem sucedido, pode conduzir, é a um equivalente ao “volta Dilma”.
Assim, até mesmo a retórica do manifesto do sr. Bresser é, por si só, uma falsificação.
No entanto, é forçoso concluir que o conteúdo é plenamente coerente com a carreira do autor, que, desde a década de 60 do século passado – quando, depois da instalação da ditadura, chutou para o alto os laivos nacionais-desenvolvimentistas a que já nos referimos – é um especialista em pregar o que ele acha que a oligarquia financeira interna, e, sobretudo, a oligarquia financeira norte-americana, pode aceitar para o Brasil.
A postulação de que esses são os limites “possíveis” para o nosso país – e nada nos resta senão conformarmo-nos – é explícita em seu livro “Desenvolvimento e Crise no Brasil”; assim como a ode ao “desenvolvimento” capitaneado pelas multinacionais da indústria automobilística; assim como a tese de que “o desenvolvimento para dentro [ou seja, com base nacional, baseado no mercado nacional] não é mais possível” (sic); assim como, até mesmo, a tentativa de esconder o caráter entreguista do… entreguismo, sob o nome de “cosmopolitismo” – algo que chamou a atenção de Barbosa Lima Sobrinho, que se sentiu obrigado, por razões familiares, a prefaciar o livro de Bresser, mas não conseguiu, apesar de sua boa vontade, deixar de apontar essa curvatura conceitual (v. o nosso artigo “Mercado externo, agronegócio e as farsas ‘neodesenvolvimentistas’”, publicado nas edições de 18/01, 20/01 e 25/01/2017 do HP).
No Congresso da UNE, ele repetiu essa declaração de subserviência, sob a surrada forma em que, há mais de 100 anos (1899), Bernstein celebrou o seu próprio servilismo: “Eu acho importante que eles [os estudantes] discutam coisas viáveis, que não fiquemos no campo da utopia. E esse nosso projeto tem essa natureza”.
“Utopia”, para ele, é tudo aquilo que não se conforma em se ater aos limites que a oligarquia financeira quer estabelecer para o nosso país – essa camisa de força composta pela pilhagem, pelo roubo, pelo enriquecimento estúpido de alguns, fora e dentro do país, e pela tétrica miséria geral da população. Assim, para esses serviçais, o que é “possível”, “viável” (ou “tangível”) é sempre a permanência eterna de um tacão sobre o povo. No máximo, admitem alguns remendos, algumas migalhas, volatizadas na primeira esquina de dificuldades.
Essa submissa concepção de fundo – que, por consequência, significa que, para Bresser, exceto como demagogia, o desenvolvimento nacional é impossível, logo, o Brasil enquanto nação, enquanto país independente economicamente, é também impossível – levou Bresser à sua desastrada gestão econômica no governo Sarney, e, de resto, à sua performance no Ministério da Administração do governo Fernando Henrique.
E não precisamos perguntar por que ele nunca fez qualquer autocrítica desse passado de colaboração e adesão ao neoliberalismo. Afinal, até na maçante e curvilínea oratória, ele continua o mesmo.