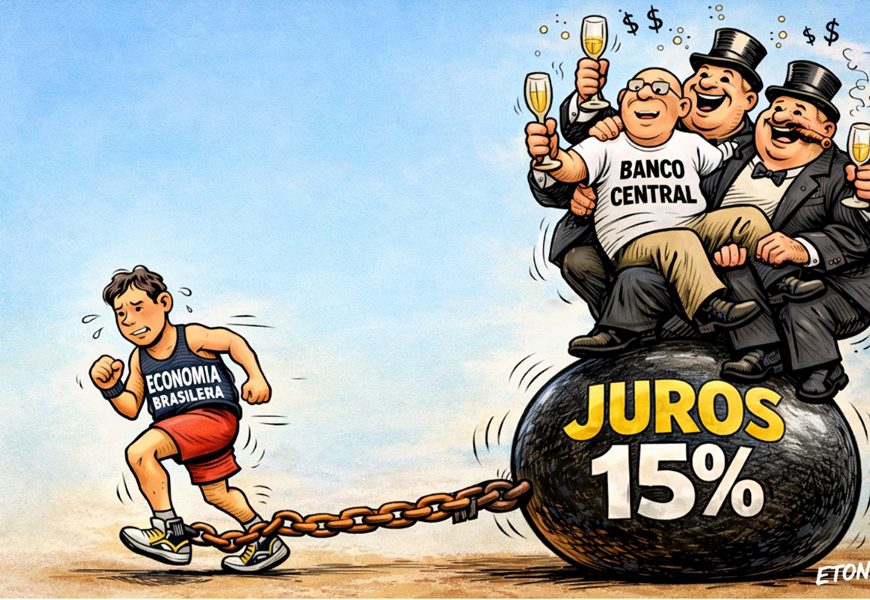CARLOS LOPES
(HP 09 a 23/03/2007)
Em agosto de 1948, quando começou a tragédia que marcaria a sua vida – e as de todos os norte-americanos -, Alger Hiss parecia, talvez, o menos indicado dos cidadãos dos EUA para ser escolhido como alvo do fascismo interno – que depois ficaria, naquela fase, conhecido inadequadamente como “macartismo”. Além de integrante do que se poderia chamar elite norte-americana – formado pela Johns Hopkins e por Harvard, aluno predileto e amigo de Felix Frankfurter e ex-chefe de gabinete de Oliver Wendell Holmes, ambos juízes da Corte Suprema e considerados os maiores juristas dos EUA -, a trajetória pública e a vida particular de Hiss eram inatacáveis de qualquer ponto de vista com alguma decência, aparentemente garantindo-lhe imunidade contra a mentira e a difamação.
Secretário-geral da conferência de San Francisco, que fundou a ONU em 1945 e secretário-executivo da conferência preparatória de Dumbarton Oaks, que deu forma à instituição, Alger Hiss havia sido uma das mais importantes autoridades do Departamento de Estado – diretor do Gabinete para Assuntos Políticos Especiais (Office of Special Political Affairs, o OSPA, que tinha a função de elaborar uma política externa para os EUA no pós-guerra) e do Gabinete para o Extremo Oriente (Office of Far Eastern Affairs), além de assessor do sub-secretário de Estado Francis Sayre – um enteado de Woodrow Wilson – e depois assistente direto do secretário Edward Stettinius, quando este substituiu Cordell Hull no Departamento de Estado, em 1944. Foi o principal diplomata americano no esboço e na fundação da ONU.
Na Conferência de Yalta, Hiss era um dos principais conselheiros do presidente Roosevelt. Quando Churchill reivindicou que, além da Inglaterra, todos os países do Império Britânico – inclusive a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte – tivessem direito a voto na ONU, a delegação soviética propôs que também fossem membros-votantes, além da URSS, as 16 repúblicas que então a constituíam.
A questão era complicada, envolvendo, obviamente, os planos para o mundo do pós-guerra. Na delegação norte-americana, Hiss liderou os que se opunham à proposta soviética – talvez porque, como mostraram documentos do Departamento de Estado liberados em 1955, fosse o único que conseguiu elaborar um argumento apresentável a esse respeito. (O argumento era o de que a Constituição Soviética não permitia que as repúblicas tivessem uma política externa, mas apenas a URSS. Hiss não tocou na questão, se é que a percebeu, de que esse argumento valeria muito mais para os países do Império Britânico, que eram colônias inglesas. Contra a posição de Hiss, os ministros das relações exteriores da URSS, EUA e Inglaterra fecharam um acordo, referendado por Roosevelt e Stalin, em que a Ucrânia e a Bielorrússia, além da URSS, teriam direito a voto, enquanto votariam também a Índia, o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia e a África do Sul, países prestes a ser independentes da Inglaterra, mas não teriam voto a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte, que, junto com a Inglaterra, estariam representados pelo voto do Reino Unido).
FASCISMO
Com este percurso, não era crível que ele fosse acusado de ser um “espião soviético”. Muito menos que alguém acreditasse em tal acusação. E menos provável ainda que, em virtude dessa acusação, fosse condenado a 5 anos de cadeia – e passasse mais de 3 anos numa penitenciária.
Porém, e isso foi percebido tarde demais não somente pelo próprio Hiss, o fascismo não é fascismo porque respeita os homens honrados ou os pontos de vista e as trajetórias das pessoas decentes. Ao final, nem ao menos conseguiram condená-lo como espião soviético, embora fosse, e seja essa a acusação que a direita norte-americana e sua mídia propalaram e repetem até hoje. Condenaram-no por “perjúrio”, isto é, por negar que fosse um espião, como lamentou em um de seus livros de memórias o principal achacador de Hiss, Richard Nixon (“Six Crises”, 1962 – v. sua resposta à filha, Tricia, sobre Alger Hiss; é evidente, no texto, a dificuldade de Nixon para justificar-se a propósito de ações que ocorreram 14 anos antes, apesar de não haver, na época, questionamento público a elas, nem às suas conseqüências; ao que parece, sua filha, com 16 anos, conhecera o nome de Hiss por outras pessoas, provavelmente no colégio de elite que freqüentava em Manhattan).
A razão formal alegada por Nixon para que Hiss não tivesse sido condenado por espionagem certamente existia: os crimes de espionagem, segundo a lei norte-americana da época, prescreviam em três anos e as supostas provas da espionagem de Hiss – segundo seu acusador, Whittaker Chambers, escondidas dentro de uma abóbora (isso mesmo, leitor nordestino: um jerimum!) – eram de 10 anos antes, 1938.
Evidentemente, algo está errado com um “espião soviético” que passa 10 anos (entre 1938 e 1948) sem espionar, justamente os anos mais difíceis, até então, da história da URSS e dos EUA, e os anos em que Hiss atingiu os mais altos cargos no governo norte-americano. No entanto, nem mesmo falsas provas, provas forjadas, Nixon, J. Edgard Hoover e outros conseguiram apresentar sobre a suposta espionagem de Hiss nessa época. Somente 50 anos depois as agências de repressão norte-americanas tentariam cobrir essa cratera abissal nas acusações a Hiss, com a divulgação dos papéis do chamado “Projeto Venona”, ao que parece, como no assassinato de Julius e Ethel Rosenberg, destinados a costurar remendos no passado infame do fascismo norte-americano. Tal como no caso dos Rosenberg, em relação a Hiss esses papéis, como veremos, também mostraram-se uma farsa.
Mas, o fato de alguém ser condenado por alegar inocência, quando foi impossível condená-lo pelo crime do qual foi acusado – e, na verdade, sem que tenha sido provada a sua culpa – é a síntese do caso e da moral dos acusadores.
No dia 13 de dezembro de 1948, cinco meses antes do primeiro julgamento de Hiss, o então deputado Richard Nixon prestou um testemunho sigiloso diante de um “grand jury” – a instância judicial norte-americana que decide se um processo será ou não aberto. O testemunho era irregular, uma vez que, na legislação dos EUA, o “grand jury” se reúne sem os representantes da defesa ou da acusação, embora com a presença do promotor, que é considerado representante do Estado, e não da acusação. Mas Nixon não era o promotor – era o principal inquisidor de Hiss.
Como seria de esperar, o que Nixon fez foi mentir sobre provas que não existiam, e que ele não disse quais eram, e intimidar os membros do “grand jury” para que abrissem o processo contra Hiss. Porém, era necessário abordar aquilo que os membros do “grand jury” tinham conhecimento, ou o que seria fácil para eles tomar conhecimento. Nixon não tinha alternativa. Assim, nesse depoimento secreto, declarou que os “papéis da abóbora” (“Pumpkin Papers”), mostrados por Chambers como prova de que Hiss lhe passava documentos do Departamento de Estado para serem enviados a Moscou, não tinham importância, não eram confidenciais e haviam sido distribuídos maciçamente para circulação (Depoimento de Nixon, páginas 4161, 4208-11, cit. por John Lowenthal, “Venona and Alger Hiss”, Intelligence and National Security, Vol. 15, Nº 3, 2000).
Exatamente no dia seguinte, Nixon declarou à imprensa, sobre os mesmos papéis: “Eu tenho em minhas mãos um microfilme de documentos dos mais confidenciais e altamente secretos do Departamento de Estado. [Trata-se] de uma das mais graves séries de atividades de traição que têm sido desfechadas contra o governo na história da América” (despacho da Associated Press, 14/12/1948, cit. por William Reuben, “The Honorable Mr. Nixon”, pág. 88, Action Books, 1958, seg. Lowenthal, art. cit.).
Ou seja, Nixon sabia que estava acusando um inocente ou, se não, pelo menos tinha plena consciência de que a acusação que fazia era falsa. Mas, sem qualquer escrúpulo, mentiu consciente e deliberadamente, confiando que seu depoimento da véspera não seria conhecido. E, realmente, o depoimento secreto de Nixon diante do “grand jury” somente foi conhecido 51 anos depois (V. “The New York Times”, 12/10/1999). Não por acaso, o fantasma, não de Hiss, que estava vivo, mas de sua imunda ação no caso, o assombrou até o fim, sobretudo nos dias de Watergate, época, aliás, em que repetiu a um de seus assessores, Bob Haldeman, o que havia dito no depoimento secreto: “os papéis do caso Hiss não tinham importância” (“The Haldeman Diaries: Inside the Nixon White House”, 1994, p. 303).
Esses papéis foram a base da condenação de Hiss. Era estribado somente neles que Whittaker Chambers, Nixon, e a mídia propagavam que Hiss era um espião soviético. O problema, obviamente, é: se esses papéis não tinham importância, se não provavam nada, muito menos que Hiss era um espião, por que ele foi ferozmente atacado e condenado?
No entanto, como escreveu um jurista norte-americano, que em relação a Hiss está mais próximo dos seus inimigos, “nenhum caso teve efeitos de mais longo alcance na moderna política americana (….). O caso catapultou um obscuro deputado da Califórnia, chamado Richard Nixon, para a fama nacional, armou o palco para a notória caçada aos comunistas do senador Joseph McCarthy, e marcou o começo de um movimento político e intelectual conservador que um dia colocaria Ronald Reagan na Casa Branca” (Doug Linder, “The trials of Alger Hiss: a commentary”).
Poderíamos acrescentar, ainda, um subproduto propagandístico: pela primeira vez, no caso Alger Hiss, apareceu em escala industrial aquela tentativa de identificar “comunista” com “espião soviético” que seria o mote imperialista nas décadas seguintes, como se uma coisa fosse sinônimo da outra – e como se o Partido Comunista não fosse, precisamente, o lugar menos indicado para que a inteligência soviética recrutasse seus agentes. Já nos referimos a isso em artigo sobre o casal Rosenberg. Aqui, vale a pena registrar, apenas, que antes do “caso Hiss” essa falsificação estava restrita aos textos de Trotsky e alguns (nem todos) dos seus discípulos.
MONOPÓLIOS
É inteiramente verdadeiro que, em 1948, os EUA, depois de 12 anos de governo Roosevelt, era um país muito diferente de hoje.
O próprio Reagan, quando começou o “caso Hiss”, era democrata, tendo sido um dos principais apoiadores de Roosevelt em Hollywood. Porém, 36 anos depois, republicano, reacionário e presidente, concedeu ao já falecido acusador de Hiss, Whittaker Chambers, a “medalha presidencial da liberdade”, atribuindo sua conversão direitista à leitura do livro de memórias de Chambers, “Witness”.
Tal confissão, sobre um livro que é uma incoercível descarga de paranóia, perversão e mentira, não apenas expõe o minúsculo cérebro de Reagan – o que não seria novidade – e sua pusilanimidade, sempre surfando na onda que menos riscos e mais vantagens lhe trouxesse. Mostra, também, a importância que teve o “caso Hiss” para a direita americana. Ele foi o início de um golpe de Estado, através do qual os monopólios industriais-financeiros, que tinham sido derrotados por Roosevelt desde 1933, açambarcaram outra vez o poder nos EUA. A paralisia quase completa e as concessões do governo Truman desembocaram no esmagamento do Partido Democrata nas eleições de 1952 – usando Eisenhower, os monopólios retomaram o poder nos EUA, consolidando seu domínio sobre o Estado após o assassinato de Kennedy.
Por isso, não é surpreendente que 7 anos após a condecoração por Reagan, no dia 9 de julho de 2001, o staff de George W. Bush na Casa Branca tenha promovido uma homenagem a Chambers, por conta do 40º aniversário de sua morte. A celebração foi no Old Executive Office Building, antiga sede conjunta dos Departamentos de Estado, da Guerra e da Marinha, hoje abrigando o gabinete do vice-presidente e o Conselho de Segurança Nacional. O principal orador foi William Buckley Jr., fundador da publicação fascista “National Review”, na década de 50 autor de um famoso artigo, “O senador McCarthy e seus inimigos”, uma ode cujo conteúdo o leitor certamente não terá dificuldades em imaginar, e destinatário de uma carta de Whittaker Chambers, em que ele diz: “é necessária uma mente corrompida para compreender – realmente compreender – a ameaça do comunismo”.
A reunião foi à portas fechadas, mas, na saída, um dos 100 altos funcionários que estiveram presentes disse ao “The New York Times”: “Existem pessoas aqui na Casa Branca que são fãs e devotos [de Chambers]. Ele permeia nossa filosofia em um amplo sentido” (V., “G.O.P. Devotees Pay Honor to Whittaker Chambers”, TNYT, 10/07/2001).
Bush e Cheney preferiram não comparecer. Talvez porque automaticamente percebam, muito mais do que um outsider como Reagan – e muito mais do que os perspicazes filósofos que lhes prestam serviço na Casa Branca -, que Chambers foi apenas aquilo que se chama um bate-pau, uma espécie de Roberto Jefferson americano: rasteiro instrumento golpista. Por outro lado, Chambers, não importa quantas homenagens façam a ele, já passou para a história como o que realmente era: um canalha.
Duas semanas após a condenação de Hiss, na cidade de Wheeling, Virgínia Ocidental, McCarthy fez o seu discurso sobre a lista de “205 comunistas” que havia descoberto no Departamento de Estado. Dias depois, quando fez o mesmo discurso no Congresso, a “lista de comunistas” havia baixado para 57, e continuou variando ao longo da década, até que McCarthy encontrou o seu fim. Antes de chegar essa bendita hora, no entanto, McCarthy lançou o slogan sobre os “20 anos de traição”, isto é, a difamação do período de Roosevelt – e sua vacilante continuação por Truman -, exatamente o melhor e mais importante período da história dos EUA. Montado nesse slogan, de resto inteiramente nazista, os republicanos – mais exatamente, os Rockefeller, Morgan, DuPont e outros – voltaram ao poder, instalando a sua ditadura sobre o povo norte-americano.
Mas a sórdida campanha golpista somente conseguiu ser deslanchada em grande escala após a condenação de Hiss. Não eram, evidentemente, os sortidos números de McCarthy que davam alguma credibilidade a essa campanha que atirava a pecha de traidores contra os rooseveltianos e qualquer setor progressista dentro dos EUA. Essa credibilidade era, inteiramente, apoiada numa única “prova”: a condenação de Hiss.
2
Desde o início do governo Roosevelt, Alger Hiss havia estado em cargos públicos. Em 1933, logo após a posse do presidente, por indicação do jurista Felix Frankfurter – um dos defensores de Sacco e Vanzetti, nomeado por Roosevelt para a Corte Suprema -, Hiss ocupou um cargo na área agrícola, considerada estratégica para o “New Deal”, a política econômica de combate à profunda crise em que o país vivia desde 1929.
Foi um início de mandato muito difícil. A posse, segundo a legislação da época, era em 4 de março de 1933. Em 15 de fevereiro, quando o presidente eleito estava num carro aberto em Miami, sofreu um atentado – do qual saiu ileso, mas que custou a vida de um dos seus maiores sustentáculos, o democrata Anton Cermak, prefeito de Chicago, que estava no banco traseiro, exatamente atrás de Roosevelt.
O atentado tem características que lembram – não somente pela tentativa em carro aberto – o assassinato de Kennedy. O assassino, Giuseppe Zangara, foi dado como doente mental, agindo solitariamente. Na época falou-se de vinculações dele com Al Capone e a máfia de Chicago – porém, mais para transformar Cermak, odiado por Capone, em alvo principal, subestimando o atentado contra Roosevelt – e que haveria um segundo assassino, sendo Zangara apenas um elemento diversionista.
Porém, o mais estranho é a rapidez espantosa com que Zangara foi julgado, condenado e executado. Cermak morreu, em consequência dos ferimentos, somente no dia 6 de março. No dia 20 – portanto, 14 dias depois da morte do prefeito de Chicago, um mês e cinco dias após o atentado e 16 dias após a posse de Roosevelt – ele foi executado na cadeira elétrica.
SMEDLEY BUTLER
Em julho do mesmo ano de 1933 começaria a conspiração que tomaria o nome de “business plot” – uma tentativa de golpe para instalar uma ditadura fascista nos EUA, denunciada pelo general Smedley Butler, o mais popular dos militares norte-americanos, a quem os golpistas tentaram envolver. A primeira parte do plano era a fundação de uma organização fascista de veteranos de guerra para empreender uma “marcha sobre Washington” nos mesmos moldes da marcha de Mussolini e seus camisas-pretas sobre Roma. Butler, um republicano, duas vezes condecorado com a “medalha de honra do Congresso”, era o líder dos veteranos de guerra, brutalmente espoliados pela crise e pelo descaso do governo Hoover.
Devido à tentativa posterior de desmoralização de Butler – iniciada pelo “The New York Times” e pela revista “Time”, do magnata Henry Luce -, que perdura até hoje (V. p. ex., o tratamento que recebeu na mídia e nos meios acadêmicos norte-americanos o livro de Jules Archer, “The Plot To Seize The White House”, de 1973, apesar dos 40 anos passados até então), o assunto merece um artigo à parte, que nos esforçaremos para, em breve, entregar aos leitores do HP.
Por ora, vale registrar:
1) a conclusão da comissão do Congresso que ouviu o general Butler: “[a comissão] recebeu evidências mostrando que algumas pessoas fizeram uma tentativa de estabelecer um governo fascista neste país. (….) É impossível por em questão que essas tentativas foram discutidas, planejadas e deveriam ser colocadas em execução quando e se os apoiadores financeiros julgassem conveniente. (….) A comissão conseguiu comprovar todas as declarações pertinentes feitas pelo general Butler, com exceção da direta declaração sugerindo a criação da organização [fascista]. Isto, entretanto, foi corroborado pela correspondência de MacGuire [um corretor de Wall Street] com seu chefe, Robert Sterling Clark [um nababo de Wall Street e herdeiro da Singer], de Nova Iorque, quando MacGuire estava fora do país estudando as várias formas de organizações de veteranos de caráter fascista”.
2) estavam envolvidos os magnatas do maior banco dos EUA, o J.P. Morgan – que, por ato de Roosevelt para conter a especulação, foi dividido em três, mas que controlava, por exemplo, o monopólio do aço, a US Steel, a General Eletric e a maior parte da indústria bélica. Além do Morgan, estava envolvido o National City Bank de Nova Iorque, hoje Citigroup, banco fundado pelo irmão mais novo de John D. Rockefeller, que, além da óbvia ligação com o cartel do petróleo, controlava o monopólio do cobre, a Anaconda. Foi informado ao general Butler, como se fosse uma grande vantagem, que seus discursos passariam a ser escritos por John W. Davies, advogado do Morgan.
Além desses, Irénée du Pont, o herdeiro do monopólio químico e bélico DuPont, aparece no relato das testemunhas (sobre a participação central de du Pont, ver o relato de Gerald Colby, jamais desmentido, em seu livro de 1984, “DuPont Dynasty”). A DuPont já era, naquela época, um gigantesco mastodonte da área de explosivos. Quase 20 anos antes, na I Guerra Mundial, havia sido a empresa com maiores lucros entre os fornecedores das forças armadas dos EUA: US$ 250 milhões – o equivalente, em dólares de 2006, a US$ 3,4 bilhões. Note-se que os EUA só entraram nessa guerra um ano antes dela terminar. (E a quantia citada não se refere a vendas ou faturamento, mas lucros – para a atualização do dólar, cf. Officer e Williamson, “Purchasing Power of Money in the United States from 1774 to 2006”, 2007).
Além de Butler, prestaram depoimento no Congresso, confirmando a denúncia, o comandante James Van Zandt, também líder dos veteranos de guerra, o capitão Samuel Glazier e o repórter Paul Comly French, do “Philadelphia Herald”. French havia conquistado a confiança de Butler por tê-lo entrevistado e publicado corretamente os seus pontos de vista sobre a situação dos veteranos. Meses antes do depoimento no Congresso, o general procurou o repórter, lhe relatando o complô. Butler previa a reação dos monopólios de imprensa quando revelasse a intentona. Assim, French se aproximou dos conspiradores, confirmando as informações de Butler e, posteriormente, respaldando seu testemunho. Em seguida, seus artigos sobre o assunto abririam uma brecha na cruzada dos monopólios de imprensa contra Butler.
Para bancar o golpe, Butler teria à sua disposição armas fornecidas pela Remington Arms (uma indústria bélica controlada pelo Morgan) e, inicialmente, US$ 3 milhões (para que o leitor tenha uma idéia do que isso significava: o dólar de 1933 tinha um poder de compra 15,56 vezes superior ao de 2006 – cf. Officer e Williamson, “Purchasing Power of Money in the United States from 1774 to 2006”, 2007).
O acima mencionado MacGuire colocou para o general um problema sério: o J.P. Morgan preferia, para liderar o golpe, o general Douglas MacArthur, na época chefe de estado-maior do exército. Há nisso uma lógica (embora Butler não tenha se referido a ela): MacArthur tinha sido casado com a herdeira de um dos principais homens do Morgan, o magnata Edward Stotesbury. Além disso, nomeado por Hoover para o estado-maior, não somente era republicano, como Butler, mas odiava Roosevelt.
Em MacArthur o abuso de autoridade era uma segunda natureza – senão a primeira – como seria mais de uma vez demonstrado na guerra contra o Japão e na agressão à Coréia, onde, em meio a um desastre militar iminente, sua carreira no exército acabou, após ser demitido por Truman. Mas, seria um estridente porta-voz do fascismo norte-americano na década de 50, considerando-se eleito para a Casa Branca. Porém, os monopólios preferiram o algo mais sensato Eisenhower para candidato em 1952.
Em 1933, MacArthur teria sido uma escolha mais lógica do que Butler para cabecilha do golpe, exceto pelo fato de que, se o plano era manipular a insatisfação dos veteranos, MacArthur era, de longe, a figura mais odiada por eles: em 1932, quando dezenas de milhares de veteranos desempregados, e suas famílias, estavam acampados em Washington para reivindicar do governo Hoover a antecipação do pagamento dos bônus a que, por lei, tinham direito, MacArthur ordenou um ataque contra eles com bombas de gás, tanques, um regimento de infantaria com baionetas caladas e outro de cavalaria com sabres desembainhados – este comandado por George S. Patton, cuja histeria não era menor, pelo contrário, do que demonstrou na II Guerra.
Houve vários mortos e feridos, inclusive um bebê de 3 meses, duas outras crianças mortas por asfixia e um garoto que ficou cego. Cerca de 1000 pessoas, inclusive os motoristas das ambulâncias que tentavam socorrer as vítimas, foram atingidas. Até mesmo um dos subordinados de MacArthur, Dwight Eisenhower, que já naquela época não era um esteio dos interesses populares, protestou contra a agressão aos veteranos e famílias.
De resto, a ação era ilegal, e não somente porque a Constituição dos EUA só permitia a ação das forças armadas dentro do seu território se o Congresso autorizasse, mas porque desrespeitava uma ordem do próprio Hoover – que não fez nada quando sua ordem foi desrespeitada, nem quando MacArthur declarou que os veteranos eram “comunistas” que mereciam o que tinham ganho. A agressão teve conseqüências políticas importantes: Butler, até então um presidenciável do Partido Republicano, resolveu apoiar o democrata Roosevelt contra Hoover nas eleições – e, com ele, a massa de veteranos e membros na ativa das forças armadas.
3) respondendo a dúvidas de Butler, MacGuire disse a ele: “… o povo americano engolirá [o golpe]. Nós controlamos os jornais” (além do depoimento de Butler, v. Jules Archer, “The Plot to Seize The White House”, 1973).
Posteriormente, a cruzada dos jornais contra Smedley Butler, pintando-o como louco e à tentativa de golpe como delírio, abafando as conclusões da comissão do Congresso, forneceriam um muito forte indício de que MacGuire não estava apenas desonerando uma bravata. Em relação a isso, o secretário do Interior de Roosevelt, Harold Ickes – por sinal, um republicano – acrescentou, em 1934, um dado significativo: 82% dos jornais dos EUA eram monopólios, com um ínfimo número de proprietários. Poderia ser acrescentado que as ligações desse punhado de monopolistas da imprensa (Hearst, Luce e assemelhados) com seus colegas dos bancos e grandes empresas (Morgan, Rockefeller, Dupont, etc.) eram mais do que estreitas. Na verdade, eram a mesma coisa.
4) um pouco depois da publicação das atas da comissão, um jornalista, John Spivak, pesquisando nos arquivos do Congresso, deparou-se acidentalmente com o original dessas atas. Para sua surpresa, elas eram diferentes das que tinham sido publicadas: nas últimas tinham sido omitidos extensos trechos, exatamente os que mencionavam a participação e os interesses do Morgan, da DuPont, dos Rockefellers e de alguns outros sócios da empreitada. Spivak comunicou o achado a Butler, que denunciou a fraude. Em janeiro de 1935, Spivak publicou na revista “New Masses” uma reportagem sobre a conspiração e a adulteração das atas – “Wall Street’s Fascist Conspiracy Testimony that the Dickstein Committee Suppressed”.
CRISE
Alger Hiss demorou um pouco até aceitar seu primeiro cargo no governo Roosevelt, em 1933. Seu escritório de advocacia tinha começado a decolar e o cargo no governo representaria uma renúncia a ganhos financeiros maiores. No entanto, depois de receber um telegrama de Felix Frankfurter ressaltando o estado de “urgência nacional” que o país vivia, assumiu o cargo de procurador da AAA (Agricultural Adjustment Administration). Não era um cargo burocrático. Um dos colegas de Hiss na procuradoria da AAA era uma das principais personalidades do Partido Democrata, Adlai Stevenson, futuro governador de Illinois e candidato à Presidência. A missão dos procuradores da AAA era desobstruir o caminho que Roosevelt, no início de seu governo, considerava o decisivo para a superação da crise.
Na véspera da posse do novo presidente, além dos 15 milhões de trabalhadores desempregados (mais de 50% da força de trabalho dos EUA), com suas famílias amontoadas em improvisadas favelas (chamadas de “Hoovervilles”, em alusão ao desastroso governo Hoover) que ocupavam inclusive o centro das cidades – até o Central Park, em Nova Iorque -, os bancos haviam entrado em colapso. Em 38 estados eles, simplesmente, tinham quebrado e fechado as portas. Em síntese, num país onde não havia, como não há, bancos estatais, o sistema bancário tinha deixado de existir.
Porém, ao mesmo tempo em que eram tomadas medidas de emergência, era necessário atacar o que o governo considerava as causas da crise. Antes da eleição, sob a influência do economista agrícola Rexford Tugwell, os conselheiros de Roosevelt, coordenados por Raymond Moley e Adolf Berle Jr. (que em 1932 ainda não era o elemento dos Rockefellers que chegou ao Brasil em 1945 como embaixador), formularam a idéia de que o detonador da explosão da economia havia sido a crise na agricultura. Em suma, “a produtividade estava em descompasso com a capacidade de consumir dos agricultores e operários”.
Essa interpretação foi levada ao povo por Roosevelt em um de seus mais famosos discursos, o “Forgotten Man speech” (“discurso do Homem Esquecido”), pronunciado via rádio, em 7 de abril de 1932, pelo então governador de Nova Iorque: “Dizem que Napoleão perdeu a batalha de Waterloo porque esqueceu sua infantaria – ele se fixou demasiado na mais espetacular, porém menos substancial cavalaria. O atual governo em Washington fornece um paralelo próximo. Tem esquecido, ou não quer lembrar, a infantaria de nosso exército econômico. Estes infelizes tempos clamam pela elaboração de planos que sejam baseados nas esquecidas, não organizadas, mas indispensáveis unidades da força econômica, por planos que sejam elaborados de baixo para cima, e não de cima para baixo, que coloquem sua fé, uma vez mais, no homem esquecido na base da pirâmide econômica”.
Após condenar “ilusões de mágica econômica, para as quais se voltam, em tempos como estes, os que não pensam”, Roosevelt continuou: “Uma cura econômica real deve ter como objetivo matar a bactéria no sistema, ao invés de limitar-se ao tratamento de sintomas externos. Em que medida os pensadores superficiais percebem, por exemplo, que aproximadamente metade de nossa população, 50 ou 60 milhões de pessoas, ganham sua vida na lavoura ou em cidades pequenas cuja existência depende imediatamente dos pequenos estabelecimentos agrícolas? Hoje, essas pessoas estão perdendo o seu poder aquisitivo. Por quê? Elas estão recebendo pelos produtos agrícolas menos do que o custo para cultivá-los. O resultado dessa perda de poder aquisitivo é que muitas outras milhões de pessoas, engajadas na indústria, nas cidades, não podem vender produtos industriais para a metade rural da nação. Isso leva a que, para cada trabalhador da cidade, seu próprio emprego esteja diretamente amarrado ao dólar dos agricultores. Nenhuma nação metade falida pode aguentar-se por muito tempo. A Main Street, a Broadway, as fábricas, as minas fecharão se metade dos compradores estão quebrados” [N.A.: “Main Street” (“Rua Principal”) e “Broadway” (“Via Larga”) são uma alusão às ruas comerciais nas cidades americanas].
Portanto, o problema que, no início de seu primeiro mandato, Roosevelt e sua equipe viam como fundamental era impedir que os preços dos produtos agrícolas ao produtor continuassem a desabar e, ao contrário, aumentassem. Mas isso não poderia ser feito à custa dos trabalhadores das cidades, onde a fome grassava aos milhões. A política do governo foi, então, a de estabelecer cotas de produção para cada agricultor e comprar seus produtos, criando grandes estoques públicos, para que o impacto do aumento nos preços pagos ao produtor não atingisse os consumidores, aumentando ainda mais a fome.
ENFRENTANDO OS MONOPÓLIOS
Para executar esse plano, considerado uma heresia econômica pelos adoradores do “mercado”, os porta-vozes dos monopólios que dominaram o governo anterior, Roosevelt nomeou Henry Wallace – seu futuro vice-presidente – para a pasta da Agricultura e fundou a Agricultural Adjustment Administration (AAA). Naturalmente, o principal obstáculo era político – e judicial. As grandes companhias agrícolas e os grandes proprietários de terra bloqueavam as medidas com ações nos tribunais. Daí, em 1933, o convite a Alger Hiss para integrar a AAA.
Um ano depois, Hiss foi enviado pelo governo para assessorar a comissão presidida pelo senador Gerald Nye, que revia os contratos da indústria bélica com o Estado. Na época, 1934, apenas um ano após a tomada do poder por Hitler na Alemanha, a posição do governo, por princípio não-intervencionista, era a de tentar evitar a eclosão da guerra e, se ela eclodisse, manter a neutralidade dos EUA.
Os contratos da indústria bélica, a exemplo da já mencionada DuPont, haviam sido um escândalo durante a I Guerra Mundial. Muitos anos depois, numa entrevista, Hiss contaria: “Eu lembro uma carta particular que apareceu nas audiências, na qual um representante local de uma das companhias americanas de munições queixava-se de que o Departamento de Estado estava ‘fomentando a paz’. Nós sempre tínhamos pensado na palavra ‘fomentando’ como sendo usada para a guerra, não para algo desejável, como a paz” (entrevista a Judah e Alice Graubart para “Decade of Destiny”, 1978).
Certamente, sua ação na comissão Nye granjeou para Hiss a hostilidade do cartel bélico. Não podia ser de outra forma, considerando que um dos objetivos da comissão era acabar com a imoralidade dos altos lucros de guerra. Nas suas palavras, “nesse esforço, [a comissão] foi apoiada pela Legião Americana e outras entidades de veteranos que sentiam que era injusto os homens de negócio auferirem grandes lucros, enquanto do soldado individual era esperado que desistisse de um emprego, no qual podia estar recebendo um salário crescente, para ir arriscar-se a ser ferido ou morto”.
Em meio às audiências, “fui abordado por um dos advogados da DuPont, que me disse: ‘o que quer que você esteja ganhando aqui, você poderia ganhar mais. (….) Seus talentos poderiam ser úteis’”. Hiss não aceitou a oferta de emprego: “Eu nunca duvidei de que era uma tentativa de subornar-me”.
3
Em uma das gravações da Casa Branca reveladas após o escândalo de Watergate, Nixon, prestes a ser expelido do cargo, e querendo paralisar as investigações no Congresso, diz a Kissinger: “[Uma comissão do Congresso] destrói o caráter de um homem em público, e [em um] segundo, se um documento é encontrado; você sabe, eles levarão a julgamento o pobre coitado… Nós fizemos isso com Hiss”.
Na verdade, isso eles não conseguiram fazer. Porém, a trajetória de Hiss, longe de conceder-lhe imunidade, foi exatamente o que fez com que fosse a vítima escolhida. Certamente havia Chambers e sua fixação doentia em destruir Hiss – mas ninguém havia dado a menor atenção às suas tentativas anteriores. O próprio Adolf Berle Jr., a quem Chambers havia denunciado Hiss em 1939, e que fez um depoimento pusilânime na comissão de Nixon, ao ser questionado por Chester Lane, advogado de Hiss, sobre a contradição entre esse depoimento e suas notas da época, arquivadas no Departamento de Estado, relatou o encontro do seguinte modo: “Chambers (….) foi incapaz, ao ser questionado, de sustentar qualquer tópico e, em geral, tinha a aparência de um maluco [“crackpot”]. Começou a se referir a várias pessoas, inclusive aos irmãos Hiss [Alger e seu irmão Donald, também colaborador do governo Roosevelt] como comunistas, mas ao longo da conversa sua certeza desfaleceu, e admitiu que o que ele realmente queria dizer era apenas que essas pessoas eram da espécie que geralmente o Partido Comunista tentava atrair para o ponto de vista comunista”.
Observe o leitor que no relato de Berle não há menção ao “grupo comunista clandestino” que 9 anos depois Chambers afirmou que participara, até 1938, juntamente com Hiss. Também não há menção a atividades de espionagem – que, aliás, Chambers negaria em todos os interrogatórios, de agosto a novembro de 1948, quando, então, subitamente, apareceu com a história, explicando que antes havia negado porque queria “proteger” (!!??) Hiss.
DE MALUCO A ESTRELA DA MÍDIA
Apesar disso, se em 1939 Chambers era apenas um maluco, em 1948 transformou-se na estrela da mídia e no herói da canalha reacionária. Em 1939, depois dos fracassos iniciais, não havia condições para o golpe de Estado. Em 1948, com Roosevelt morto, com um presidente democrata que se mostrou vacilante desde o primeiro momento, e com o Partido Democrata dividido entre o Norte e o Sul, as condições eram outras.
A escolha de Alger Hiss como alvo era devida, portanto, justamente à sua trajetória. Eram as mudanças da época de Roosevelt – e os homens que as fizeram – que os golpistas pretendiam varrer dos EUA. Nesse sentido, Hiss, ao contrário das aparências, era o alvo ideal.
Porque Alger Hiss era – e foi até a morte, em 1996, aos 92 anos – um típico homem da época de Roosevelt e adepto de sua política econômica anti-monopolista, o “New Deal”, com sua vontade de que os EUA, ainda que um país capitalista, fosse diferente, sua identificação com as camadas mais desfavorecidas do povo, sua rejeição à política imperialista, sua aversão à espoliação pelos monopólios financeiros e, porque não dizer também, sua ingenuidade diante da mídia & dos capangas desses mesmos monopólios.
Era essa época que o fascismo “macartista” queria apagar da História dos EUA. Para isso, muito mais do que para caçar comunistas – para não falar em espiões verdadeiros -, McCarthy, Nixon, Chambers e outras figuras dessa cepa foram usadas pelos monopólios financeiros e açulados por sua mídia. Nas palavras do próprio Alger Hiss, três décadas depois: “Eu diria que o New Deal não terminou realmente até que a Guerra Fria começou, e essa foi uma das funções da Guerra Fria e do macartismo – desacreditar o New Deal. Nunca tive nenhuma dúvida de que o objetivo do macartismo era atacar Roosevelt indiretamente. Ele era popular demais, mesmo depois de morto, para ser atacado diretamente. Se o New Deal podia ser atacado, se Yalta e suas outras políticas podiam ser atacadas, então isso era um meio de remover a marca que, com aquelas políticas, Roosevelt havia deixado. Nunca duvidei de que uma das tarefas do macartismo era diminuir a simpatia por Roosevelt, a simpatia pelo New Deal, a simpatia pelas Nações Unidas” (entrevista a Judah e Alice Graubart para o livro “Decade of Destiny”, 1978).
Havia outro fator na escolha de Hiss: contra ele os inimigos de Roosevelt tinham à disposição um psicopata. Posteriormente esse fato foi bem estabelecido (V., p, ex., o livro do psicanalista Meyer Zeligs, “Friendship and fratricide: an analysis of Whittaker Chambers and Alger Hiss”, 1967). Porém, as condições mentais de Chambers já eram bastante claras na época. A começar pelo nome: sintomaticamente, ele havia fabricado “Whittaker Chambers” – ou “David Whittaker”, como também se apresentava – a partir do sobrenome de solteira da mãe, escondendo o nome verdadeiro, Jay Vivian Chambers.
Durante o julgamento de Hiss, um psiquiatra, Carl Binger, forneceu um parecer muito preciso sobre sua personalidade – até mesmo em relação ao seu homossexualismo, comprovado muitos anos depois, com a liberação de duas declarações de Chambers em poder do FBI, uma delas manuscrita. Se, ou como, J. Edgard Hoover usou essas declarações, não é sabido. Mas é preciso destacar (mais ainda porque, na época, Binger foi achincalhado no tribunal e nos jornais) que o parecer psiquiátrico foi um triunfo profissional, mais ainda considerando que seu autor não conhecia a horrenda história familiar de Chambers – filho de pai também homossexual e de uma mãe permanentemente entregue ao devaneio, a avó psicótica e um irmão suicida.
Não transcreveremos, por motivos óbvios, a íntegra dessas declarações de Whittaker Chambers ao FBI. Reproduzimos somente o seguinte trecho: “Eu disse antes que estou destruindo a mim mesmo. Isto não é por amor à auto-destruição, mas porque somente se nós estamos conscientemente preparados para destruir a nós próprios, na luta, podemos combater a coisa, pode a coisa que nós estamos combatendo ser destruída” (grifos nossos).
ELEIÇÕES
Apesar das concessões feitas pelo sucessor e último vice-presidente de Roosevelt, Harry Truman, os monopólios industriais-financeiros não conseguiram retomar o poder durante a sua presidência. Mas avançaram o suficiente para fazê-lo em seguida. Esses monopólios, como destacaram Sweezy e Baran, haviam sido derrotados nas eleições de 1933, com a vitória de Roosevelt. Em meio à profunda crise iniciada em 1929, seu candidato, o então presidente Herbert Hoover, havia sido triturado: num eleitorado de menos de 40 milhões de votantes, Roosevelt conquistou uma diferença de 7 milhões e a maioria absoluta dos votos populares (57,4%). Ganhou em todos os estados, com exceção de seis – o Maine, a Pennsylvania e os pequeninos New Hampshire, Vermont, Connecticut e Delaware. A consequência – pois as eleições para presidente nos EUA são indiretas – foi o resultado no colégio eleitoral: 59 votos para Hoover e 472 para Roosevelt.
Por pouco Franklin Delano Roosevelt deixara de ser o candidato do Partido Democrata: na Convenção de Chicago, após três votações, não conseguira os dois terços necessários à indicação como candidato, devido à oposição da ala direita – sobretudo os políticos do sudoeste dos EUA, a que se somavam a oposição do centro-oeste (região do estratégico estado de Ohio) e a de setores de seu próprio estado, Nova Iorque, onde entrara em conflito com a famosa Tammany Hall, como era conhecida, desde o século XIX, a máquina partidária democrata da maior cidade dos EUA. Somente um acordo com os democratas do sul, que indicaram John Garner, do Texas, como vice-presidente, permitiu que Roosevelt fosse o candidato, algo muito semelhante ao que aconteceria, quase 30 anos depois, na indicação de Kennedy e Johnson.
Mas, depois de 12 anos que mudaram o país, Roosevelt não conseguira exercer seu quarto mandato, para o qual fora eleito em 1944. O grande presidente faleceu em abril de 1945. Era o que a reação esperava para assaltar o poder.
O “caso Alger Hiss” começou, não por acaso, no mesmo ano, 1948, em que, contra todas as expectativas – isto é, contra todas as pesquisas e contra praticamente toda a mídia, que chegou a noticiar a vitória de seu adversário – Harry Truman venceu o candidato do Partido Republicano, Thomas Dewey.
Não é possível saber, evidentemente, se a histeria contra Hiss teria tomado a dimensão que tomou, caso Dewey houvesse vencido. É até possível que fosse maior. Mas a acusação de espionagem só apareceu após as eleições. Precisamente, no dia seguinte. Vejamos os principais fatos:
1) em 3 de agosto de 1948, Chambers aparece no “Comitê sobre Atividades Antiamericanas” da Câmara e acusa Hiss de participação num “grupo clandestino comunista”.
2) dois dias depois, o presidente Truman denuncia o Comitê – e os republicanos – por fabricar um “arenque vermelho”, isto é, algo falso para manipular na campanha eleitoral.
3) no mesmo dia, 5 de agosto, Hiss depõe no Comitê, nega as acusações de Chambers e pede uma acareação.
4) ao invés de promover a acareação, o Comitê, em 7 de agosto, patrocina uma sessão secreta de alguns de seus membros, chefiados por Nixon, com Chambers.
5) no dia 16, Alger Hiss depõe outra vez no Comitê e identifica Chambers como alguém que na década de 30 apresentou-se a ele usando o nome “George Crosley” (Chambers negou o uso desse nome até o segundo julgamento de Hiss, em janeiro de 1950, quanto declarou que “era possível” que o tivesse usado; nessa época, a defesa havia conseguido declaração juramentada do editor Samuel Roth, relatando que Chambers, querendo publicar um livro, usou o mesmo falso nome – apesar disso, Roth não foi ouvido como testemunha, pois os advogados de Hiss temiam que a reputação do editor, um pornógrafo que havia cumprido pena por roubo de direitos autorais, pudesse prejudicar a causa de seu cliente. Mas Chambers sabia da declaração do editor, pois havia um espião (aí, sim) infiltrado na defesa, o que só seria descoberto em 1975, quando Hiss conseguiu na Justiça a liberação de parte dos arquivos do FBI).
6) no dia seguinte, 17, frente a frente com Chambers, Hiss o identifica como “George Crosley” e os inquisidores reagem agressivamente. A sessão é suspensa.
7) no dia 25 de agosto, pela primeira vez, a televisão entra no Congresso dos EUA, transmitindo uma acareação em que Hiss, só, enfrenta Chambers e todo o Comitê.
8) o Comitê divulga, a 27 de agosto, um “relatório parcial”, qualificando o depoimento de Hiss como “vago e evasivo” e o de Chambers como “sincero e enfático”.
9) em 14 de outubro de 1948, Chambers declara diante de um “grand jury” que não sabia de “ninguém envolvido em espionagem”.
10) no dia 4 de novembro de 1948, o democrata Truman, contra toda a mídia e todas as pesquisas, derrota o republicano Dewey.
11) no dia seguinte às eleições, 5 de novembro de 1948, Chambers declara que Hiss lhe passava documentos secretos do Departamento de Estado.
12) a 17 de novembro, Chambers aparece com papéis, que segundo ele estavam escondidos no banheiro da casa de um parente seu. Os papéis são cópias de documentos, datilografados numa velha máquina Woodstock, mesma marca de uma máquina de escrever que pertenceu a Hiss e sua esposa, Priscilla – em seguida, como Ethel Rosenberg alguns anos depois, acusada de haver datilografado documentos secretos para serem enviados a Moscou.
13) em 2 de dezembro, segundo Chambers e Nixon, eles retiraram, de dentro de uma abóbora oca, outros papéis e alguns filmes não revelados, que Hiss teria passado em 1938 para serem remetidos a Moscou.
Sobre o valor dos papéis com que Chambers, de repente, apareceu, Nixon já nos esclareceu a esse respeito. Há ainda algumas questões do depoimento de Chambers que mais adiante abordaremos.
Mas é possível perceber que a derrota do candidato que os monopólios financeiros e bélicos apoiavam fez com que estes passassem da estratégia principalmente eleitoral à tentativa de golpe de Estado. A forma que tomou esse golpe de Estado foi, precisamente, o “macartismo”.
Diante de um presidente que, apesar de vitorioso na reeleição, optou por uma malfadada política de concessões, os tubarões e piranhas queriam mais sangue. Tal processo havia começado ainda antes do fim da II Guerra – o próprio Truman era a concessão que Roosevelt foi forçado a fazer, em 1944, à direita do Partido Democrata, substituindo o então vice-presidente, Henry Wallace.
Assim, 166 assessores da Casa Branca – ou seja, de Truman – foram derrubados sob a acusação de “corrupção”, essa bandeira sempiterna do fascismo. Seu secretário de Defesa, Louis Johnson, foi expelido do cargo sob acusações de haver deixado os EUA “desarmado”, ao promover cortes nas despesas bélicas. O sucessor de Johnson seria também derrubado, após um infame discurso do senador Joseph McCarthy, acusando-o de prejudicar “os interesses da América” – e note-se que esse sucessor era George C. Marshall, um dos cinco “generais de exército” (cargo, na hierarquia militar norte-americana, equivalente a marechal) de toda a história dos EUA, comandante do Estado-maior durante a II Guerra Mundial, organizador do desembarque na Normandia (para a chefia do qual escolheu Dwight Eisenhower) e, como secretário de Estado, autor de um vasto plano de reconstrução da Europa Ocidental em prol do domínio norte-americano e da contenção aos comunistas, que leva o seu nome. Marshall levava tão em consideração – e com tão bom senso – os interesses do establishment dos EUA que tinha se demitido do Departamento de Estado por achar que o reconhecimento de Israel, em 1949, era um desastre para esses interesses. Muito melhor era substituir os britânicos no mundo árabe. Porém, verdade seja dita, Marshall não era um fascista.
“FAIR DEAL”
O programa de reformas internas de Truman, o “Fair Deal”, foi simplesmente bloqueado no Congresso – tanto as medidas de integração racial, quanto as de promoção de moradia, saúde, educação, criação de empregos, previdência e assistência social para os mais pobres. Somente um pequeno aumento dos benefícios para os desempregados foi aprovado, durante todo o governo.
Truman acabou por usar “ordens executivas” (o equivalente norte-americano a decretos-lei) para proibir a discriminação racial no exército – mas não na Marinha, nem entre os “marines”, que estavam em oposição aberta ao governo.
O veto de Truman ao “Taft-Hartley Act” – que proibia, de várias maneiras, os sindicatos de empreender luta sindical verdadeira – foi derrubado na Câmara e no Senado. Apesar de suas poucas luzes de político paroquiano do Missouri, Truman foi exato ao afirmar que o “Taft-Hartley Act” era (e é, pois não foi revogado) uma “lei do trabalho escravo”.
As concessões de Truman, que não foram poucas – duas bombas atômicas no Japão, a fundação da CIA em 1949, a agressão à Coréia, entre outras – não serviram para aplacar a sede dos monopólios norte-americanos. Eles queriam o poder total. E isso eles ainda não tinham. Daí a perseguição aos rooseveltianos e outros democratas – e a ostensiva recepção a MacArthur, depois que Truman o demitiu do comando na Coréia, por ter se comportado como sempre: desrespeitando as ordens do presidente e envolvendo os EUA num desastre militar que custaria mais de 50 mil mortos norte-americanos.
4
Após a tomada do poder por Yeltsin na Rússia, Alger Hiss dirigiu um requerimento ao então supervisor dos arquivos soviéticos, Dmitri Volkogonov, pedindo a liberação de quaisquer documentos referentes ao seu caso. Os leitores mais antigos do HP certamente já leram o nome de Volkogonov em nossas páginas. Trata-se de um anti-comunista de tipo especial: o tipo misto – charlatão e doentio ao mesmo tempo. Não é um sujeito com pretensões à sutileza. Sua obsessão na vida é confirmar todas as calúnias, injúrias e difamações do imperialismo – incluídas as de Goebbels, Hitler e outros dessa estatura – contra o comunismo e os comunistas, sempre arguindo supostos documentos que ele, ou não cita, ou cita erradamente, ou dá a eles uma interpretação completamente tresloucada. Faz parte, também, da categoria dos “biógrafos” milagrosos que, sem precisar dos ensinamentos de Alan Kardec, conseguem penetrar na mente dos biografados e saber o que, há mais de meio século, eles não disseram mas estavam pensando. (V., entre milhares de exemplos, o capítulo intitulado “O intelecto de Stalin”, em sua suposta biografia de Stalin).
Apesar dessas credenciais, Volkogonov nada encontrou sobre Hiss. Emitiu, então, no final de 1992, uma declaração segundo a qual, “nem um único documento, numa grande quantidade de materiais que foi estudada, dá substância à alegação de que o Sr. A. Hiss colaborou com os serviços de inteligência da União Soviética”. Numa entrevista a John Lowenthal, Volkogonov afirmou que a acusação de espionagem à Hiss era “completamente sem base”. Disse mais, talvez entusiasmado por estar falando com um americano: “diga ao Sr. Hiss que pode tirar esse pesado fardo do seu coração”.
Obviamente, logo em seguida choveram outros americanos no escritório de Volkogonov, em Moscou, incluindo vários emissários diretos de Nixon (que escreveu uma carta pessoal a Volkogonov, até hoje, por alguma razão, mantida secreta, assim como a carta de John H. Taylor, presidente da “Richard Nixon Library” – o museu da presidência Nixon).
Foi então que Volkogonov emitiu uma nova declaração, segundo a qual os documentos soviéticos não provavam que Hiss não fosse um espião… Também disse que Lowenthal o havia “impelido a dizer coisas das quais não estava plenamente convencido” e que a pesquisa sobre Hiss nos arquivos da URSS tinha “durado apenas dois dias” (o que era uma mentira em relação a essa pesquisa, mas expõe outra coisa que é verdade: trata-se de uma demonstração do fenomenal rigor histórico de Volkogonov, confessando que considera admissível emitir declarações definitivas – ou mesmo que não fossem – após “dois dias” de pesquisa em arquivos de 70 anos de história soviética).
Na época, Lowenthal, uma rara combinação de professor de Direito e cineasta (é autor do documentário “The Trials of Alger Hiss”, 1980), perguntou publicamente a Volkogonov se ele tinha se “retratado” (“recanted”) em relação às suas declarações anteriores – e Volkogonov preferiu silenciar.
Hoje, Volkogonov já teve 15 anos para pesquisar – e não apareceu ainda nenhum documento dos arquivos soviéticos que implicasse Hiss como espião da URSS. Observe-se que o silêncio de Volkogonov é verdadeiramente notável, em se tratando de uma figura capaz de atribuir às suas supostas fontes o contrário do que elas afirmaram (v., por ex., em “Operações Especiais”, 1994, página 101 da 1ª ed. port., os comentários de Pavel Sudoplatov, entrevistado por Volkogonov para sua “biografia” de Stalin. Note o leitor que a íntegra dos comentários de Sudoplatov não estão à disposição, apenas os que estão em suas memórias publicadas, compiladas por um casal de agentes da CIA – ou, talvez, de coisa pior: o marido, Jerrold Schecter, chefe da sucursal da “Time” em Moscou e colaborador do “Washington Times” – o jornal fascistóide do reverendo Moon que era o favorito de Reagan – foi, além de secretário-adjunto de imprensa da Casa Branca, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA).
CHAMBERS
Na verdade, até hoje não há prova não apenas de que Hiss fosse “espião soviético” ou membro do Partido Comunista dos EUA (PCEUA – em inglês, CPUSA). Em relação a Chambers, sem falar na ridícula história de que teria sido escolhido como intermediário entre Hiss e a inteligência soviética – e de que teria sido tão eficiente que acabou substituindo seu chefe como cabeça da espionagem soviética nos EUA -, também não existe prova, nem ao menos, de que tivesse sido alguma vez integrante do PCEUA.
A nós, brasileiros, acostumados ao mais democrático sistema getulista que instituiu a Justiça Eleitoral, causa estranheza essa afirmação. Porém, não há nada nos EUA que registre publicamente as filiações partidárias, ou que regule os partidos, e, aliás, nem as eleições – dependentes, inclusive a eleição presidencial, das regras de cada município (condado). Mas, seja como for, Chambers não disse que fazia parte do equivalente norte-americano aos diretórios partidários do PCEUA. Desde o princípio, disse que tinha feito parte de um “grupo clandestino” do partido – aliás, até mais de um. Algo, portanto, impossível de verificar a partir das filiações do partido.
Estranhamente, na época em que, segundo seu relato posterior, teria sido “comunista”, durante algum tempo ele foi um frenético admirador do ex-presidente Calvin Coolidge, ou seja, do que havia de mais à direita e mais anti-comunista no Partido Republicano. Sua justificativa para esse fervente apoio era o modo com que Coolidge, quando governador de Massachusetts, havia lidado com a tentativa dos policiais de Boston de formar um sindicato – proibindo a entidade e demitindo toda a polícia, substituída pela Guarda Nacional “até a formação de uma nova força policial”. Uma posição incompatível não somente com militância comunista, mas com qualquer militância democrática.
Porém, em se tratando de um psicopata, não se pode afirmar que ele não possa ter, em algum momento, cortejado ou mesmo entrado no PCEUA. O romance de Lionel Trilling, “The Middle of the Journey”, publicado em 1947, um ano antes das acusações a Hiss, onde Chambers, colega do autor na Universidade de Columbia, foi o modelo para o personagem Gifford Maxim, parece indicar que ele realmente foi membro do PCEUA. Há apenas um problema: é difícil, senão impossível, no retrato que Trilling faz de Chambers, distinguir a verdade da encenação. O personagem Gifford Maxim parece sempre estar representando, a começar pela melodramática declaração de ruptura com o PC, feita ao personagem principal do romance. Talvez esse retrato de Chambers como um canastrão seja o que há de mais bem sucedido no livro de Trilling. No entanto, o autor não coloca a possibilidade de uma pantomina, sempre tratando a canastrice como indiscutível verdade.
Trilling é considerado, com Edmund Wilson, o maior crítico literário dos EUA no século XX. Realmente, em seus dois principais livros de ensaios (traduzidos na década de 60 para o português com os títulos “Literatura e Sociedade” e “O Eu Romântico”) há algumas observações sagazes sobre Tolstoy, Twain, Wordsworth, a relação da literatura com Freud e sobre o realismo, que são importantes. É a isso que ele deve o seu prestígio atual.
Porém, não foi somente isso o que Trilling fez na vida. Já antes da II Guerra, ele se juntou àquela espécie de “esquerda” anti-comunista que fez do anti-stalinismo o seu credo, tendo por órgão oficial a “Partisan Review”, uma revista cujo programa era opor-se à “New Masses”, a revista de Michael Gold – autor de “Judeus Sem Dinheiro” e principal nome do realismo socialista nos EUA. O prefácio de Trilling ao livro de Orwell sobre a Guerra Civil Espanhola (“Homage to Catalonia”) é provavelmente o besteirol mais estúpido que um intelectual com alguma contribuição verdadeira – não estamos, aqui, falando dos Orwell ou dos Chambers – já escreveu. E, em 1947, às vésperas da ofensiva fascista nos EUA, seu romance considera que a principal ameaça aos intelectuais norte-americanos é a influência do marxismo e dos comunistas. O que seria apenas a ante-sala do comportamento de Trilling na vida acadêmica norte-americana durante o macartismo (V. Ellen W. Scherecker, “No Ivory Tower: McCarthyism and the Universities”, 1986, e o artigo de Russel J. Reising, “Lionel Trilling, The Liberal Imagination, and the Emergence of the Cultural Discourse of Anti-Stalinism”, Boundary 2, 1993).
Mesmo assim, poderíamos dizer que Trilling mostrou-se, às vezes, um crítico literário excepcional. Infelizmente, era um romancista medíocre, uma combinação que não é rara em críticos que resolvem escrever romances e contrabandeiam a discussão intelectual própria dos ensaios para dentro deles, o que é, muitas vezes, a morte do romance. Porém, não é suficiente apontar questões de forma: a “discussão intelectual” que Trilling contrabandeia para dentro de seu romance são aqueles lugares-comuns do anti-comunismo que hoje fazem um vivente morrer de tédio.
Mas há uma observação interessante sobre o conhecimento que Trilling tinha de Chambers, feita por um dos biógrafos oficiais do último (há vários biógrafos oficiais de Chambers, pelo menos um a cada descoberta de uma fraude no processo de Hiss): Trilling, quando estava em Columbia, mantinha-se o mais distante de Chambers quanto possível – e, esclarece o mesmo biógrafo, não por causa das supostas convicções comunistas de Chambers, mas por causa do que ele chama pelo cândido nome de “pranks”, ou seja, “traquinagens” (Cf., se o leitor tiver a paciência, o premiadíssimo, pela mídia, “Whittaker Chambers: A Biography”, 1997, de Sam Tanenhaus).
IMPOSTOR
Portanto, é possível que Chambers tenha sido membro do PCEUA – ou por doença, ou por infiltração, ou pelos dois.
Observamos ao leitor que a hipótese de infiltração não pode ser comprovada com o material que está disponível atualmente, e não foi, até onde sabemos, levantada antes. O que se sabe com certeza é que, durante a década de 30, Chambers era um impostor compulsivo. Inventava dezenas de papéis, usando vários nomes – entre eles o de “George Crosley”, com o qual se aproximou de Hiss. Como este último apontou numa entrevista ao programa de televisão “Day and Night”, um dos papéis de Chambers nessa época era o de um admirador dos nazistas.
Porém, em 1939, Chambers foi adotado por Henry Luce na redação de sua revista, a “Time”, onde tornou-se um bate-pau, perseguindo, delatando e demitindo colegas, alterando matérias em nome do combate ao “perigo comunista” e outras atividades afins. Chambers jamais foi “editor da Time”, como foi apresentado quando apareceu na comissão de Nixon. Era um cão de fila de Luce, tão sem medida que foi obrigado, em meio à revolta dos colegas, a se demitir alguns meses depois de suas acusações a Hiss. Afinal, Luce não podia fazer uma revista somente com Chambers na redação…
Mas, segundo Chambers, ele teria sido recrutado como espião por Max Bedacht, um dos fundadores do PCEUA, seu dirigente e um de seus teóricos, tradutor de Engels, primeiro editor da revista do partido e secretário-geral da International Workers Order (IWO), uma entidade operária de assistência médica, previdenciária e promoção cultural, ligada à central sindical CIO. Bedacht seria o chefe da espionagem soviética no país.
É difícil encontrar chefe de espionagem mais inadequado – ou, melhor, mais absurdo – para os soviéticos do que Bedacht, um comunista famoso, perseguido e vigiado desde 1919, quando da fundação do partido. Nem mesmo Chambers acusou os soviéticos de serem imbecis. Muito pelo contrário.
Porém, no mesmo ano, 1948, apenas alguns meses antes do primeiro depoimento de Chambers à comissão de Nixon, Bedacht tinha deixado de ser dirigente do PCEUA. Na luta política que se seguiu à substituição de Earl Browder por William Foster na secretaria geral, Bedacht havia sido expulso do partido (posteriormente, foi reintegrado). Também já não era o principal dirigente da IWO, que, apesar de seus 300 mil associados, tinha sido, em 1947, declarada “organização subversiva” pelo procurador-geral dos EUA.
É inevitável a conclusão de que Chambers escolheu bem o seu suposto recrutador. Se é que foi ele que o fez, o que, como veremos em seguida, é duvidoso. A situação de Bedacht era do tipo que o aparato repressivo da reação adora se aproveitar para parir traidores. No entanto, eles não estavam, agora, lidando com algum Lacerda – ou com algum Chambers.
Em 1967, Bedacht reuniu as suas memórias, “On the path of life: memoirs of your father” (as memórias de Bedacht são dirigidas aos filhos. Daí o título, “No caminho da vida: memórias de seu pai”). No capítulo 25, ele analisa, ponto por ponto, o livro de Chambers, “Witness”. É impossível deixar de concordar que a leitura de Chambers foi para ele um “suplício”, e que o texto de “Witness” é “mais histérico do que histórico”.
Bedacht nota que o encontro em 1932, no qual teria “recrutado” Chambers para a espionagem, não poderia ter sido, como está em “Witness”, em sua sala de secretário geral da IWO, pela simples razão de que em 1932 ele ainda não havia sido eleito para a secretaria geral da IWO. Nota que também não poderia ter sido – como também disse Chambers – em sua sala na sede do PCEUA, porque ele não tinha sala na sede do PCEUA. E nota que Chambers – talvez por falta de assistência do FBI quando escreveu o livro – não sabe o endereço da sede nem da IWO nem do PCEUA.
É impossível, por razões de espaço, reproduzir toda a demolição que Bedacht faz do livro de Chambers. Nos contentaremos, aqui, com mais duas questões. Em 1938, como já nos referimos, Chambers procurou Adolf Berle para acusar Hiss. Já sabemos, pelo relato de Berle, como foi esse encontro.
Resta dizer que o encontro com Berle foi articulado por Isaac Don Levine, um editor ferrenhamente anti-comunista. Mas, por que Levine encaminhou Chambers a Berle? Como Levine contou depois ao psicanalista Meyer Zeligs, Chambers tentara vender a ele uma lista de “comunistas” com os quais, dizia, estivera em contato antes de sair do PCEUA. Em vez de gastar seu dinheiro comprando a lista, Levine encaminhou Chambers a Berle, que trabalhava no Departamento de Estado, para que fizesse a ele suas revelações.
O que Bedacht observa é que na lista que Chambers queria vender a Levine – posteriormente divulgada como prova de que há muito o acusador de Hiss estava alertando o governo contra os comunistas – falta o seu nome, Max Bedacht, exatamente o suposto chefe da espionagem, suposto recrutador e suposto chefe de Chambers. Em suma, falta aquela que, 10 anos depois, Chambers relataria como a figura principal do esquema…
Ainda mais importante que isso, Bedacht tem uma explicação para a escolha de seu nome por Chambers: depois de excluído do PCEUA, “foi então”, escreve Bedacht, “que a Gestapo [Bedacht chama assim ao FBI] considerou-me um possível recruta para o estábulo de Áugias dos perjuradores treinados de Mr. J. E. Hoover. Eles atiraram o laço sobre mim. Os inquisidores do Congresso até mesmo ofereceram um encontro secreto, à portas fechadas, para dar-me a oportunidade de destilar meu esperado veneno, por vingança contra aqueles que me expulsaram. Meu passado não prometia automaticamente bons resultados de uma direta abordagem. Daí, meu nome foi costurado no fantástico depoimento de Chambers. Ele foi ordenado a mentir. A primeira vez que tomei conhecimento de algumas das mentiras de Chambers foi quando, citado diante dos ‘grand juries’ no final de 1948 e em 1949, perguntaram-me sobre um misterioso Mr. Ulrich [nome que, segundo Chambers, ele usava quando se encontrava com Bedacht]. Eu nunca tinha ouvido esse nome antes. Deram-me mil e uma chances de desforrar-me dos que me tinham expulsado. Mas quando eu honestamente disse à inquisição política do Congresso que esses personagens fictícios eram-me desconhecidos, e que minha expulsão do partido não era problema deles, e que não afetava ou mudava meus princípios de combatente revolucionário pela causa da classe operária, então a Gestapo percebeu que tinha calculado mal. Mas eu já estava na história de Chambers”.
5
Em agosto de 1975, um homem de 70 anos – faria 71 em novembro – comemorou com os amigos e os filhos a sua reintegração à “Massachusetts bar”, o correspondente à Ordem dos Advogados no Estado de Massachusetts. A decisão era inédita por várias razões. Uma delas, significativa, é que a “Massachusetts bar” e a Justiça – a quem cabia, e coube a decisão final, com parecer favorável da entidade – resolveram dispensar a declaração de culpa e arrependimento que se exigia para a reintegração de membros expulsos. Em outras palavras, não reconheceram mais que Alger Hiss havia cometido algum delito no passado – era uma autocrítica da decisão tomada 25 anos antes.
Não era uma vitória pequena. Quando saiu da prisão, em novembro de 1954, impedido de advogar, ele, ex-diretor da “Harvard Law Review”, a mais famosa revista jurídica dos EUA, empregou-se numa fábrica de produtos para cabelo feminino; depois, durante 15 anos, seria vendedor de artigos de papelaria, ganhando por comissão. O que significava uma queda vertical e vertiginosa em seus rendimentos, em relação ao período anterior à prisão, quando, recém egresso da administração pública, assumira um cargo na Fundação Carnegie, com salário somente inferior ao de seu chefe, John Foster Dulles – o futuro secretário de Estado do governo Eisenhower e irmão do organizador e primeiro diretor da CIA, Allen Dulles.
Sua esposa não resistiu à tensão. Também acusada de ser espiã, embora nunca tenha sido processada, nem ao menos, como o marido, por negar que fosse espiã, com o orçamento doméstico em crise e tendo que suportar a provocação constante daquela espécie de débeis mentais que sempre são arrastados pelo fascismo ou pela mídia, Priscilla separou-se de Alger Hiss cinco anos após o marido sair da prisão. Então, aquele homem passou a viver só, em apartamentos alugados no Greenwich Village, o bairro boêmio de Nova Iorque. Seus bens haviam sido consumidos na luta incessante.
No entanto, sua energia – e, mais importante, sua lucidez – estava intacta. Assim, ele se dispôs a continuar lutando.
NIXON
Não era fácil. Desde 1952, seu inquisidor, Richard Nixon, era o vice-presidente dos EUA, sendo reeleito em 1956. Nixon era, também, fora de dúvida, e até por falta de alternativa, o futuro candidato a presidente do Partido Republicano para suceder Eisenhower. Era o franco favorito para as eleições de 1960, pois os democratas não pareciam ter candidato viável. Pouca gente, até as eleições primárias, acreditava nas chances, ou mesmo sabia da existência, de um senador pelo Estado de Massachusetts, John Fitzgerald Kennedy. Mesmo depois da escolha de Kennedy como candidato, o favorito ainda era Nixon. Porém, Kennedy venceu. A margem exígua (112 mil votos para um total de 68 milhões de votantes) que conquistou na eleição popular, mesmo tendo arrasado Nixon no primeiro debate televisado de uma eleição presidencial, dá uma medida da intensidade da disputa.
Porém, Alger Hiss não esperou a situação melhorar. Em 1957, publicou o primeiro de seus livros “No Tribunal da Opinião Pública” (“In the Court of Public Opinion”). O livro é arrasador em relação ao processo, às acusações de Chambers e à conduta de Nixon. No entanto, somente muito depois apareceram resenhas sobre ele com algum grau de isenção – se é que é possível quantificar uma qualidade como a isenção. (Para uma análise comparada dos livros de Hiss, Chambers e Nixon, v. o artigo de David Levin, “In the Court of Historical Criticism: Alger Hiss’s Narrative”, publicado em 1976 na Virginia Quarterly Review).
WATERGATE
Em 1974, como consequência da pressão popular após o escândalo de Watergate, foi modificada pelo Congresso a “Lei de Liberdade de Informação” (“Freedom of Information Act” – FOIA), que desde sua aprovação, em 1966, havia se revelado um blefe. É verdade que mesmo com as modificações de 1974, que facilitam a requisição de documentos antes secretos, ela ainda permite que as agências de repressão dos EUA borrem ou apaguem trechos dos documentos liberados. Ressaltamos isso apenas porque, de uns tempos para cá, têm aparecido na mídia alguns entusiasmados rapazes e moças que gostam de brandir a FOIA como a prova incontestável de que os EUA são uma grande democracia…
Naturalmente, o que é liberado pela Justiça e pelas agências de repressão depende, também, da correlação política de forças a cada momento. Em 1975, quando Hiss solicitou a liberação dos documentos secretos relativos ao seu caso, Nixon havia renunciado apenas alguns meses antes (agosto de 1974) para evitar o impeachment, e havia se tornado publicamente – inclusive dentro do establishment – em algo pior do que um leproso. A memória do falecido (1972) J. Edgard Hoover já era mais imunda do que os esgotos de Washington. E, ainda que isso não tenha a mesma importância dos fatos anteriores, Whittaker Chambers também havia morrido, em 1961, uma morte estranha, só divulgada três dias depois de acontecida, e suas viúvas, da espécie de William Bucley Jr., estavam em defensiva depois que o sinistro baú de crimes da CIA foi aberto publicamente no Congresso.
Em meio a essa situação, foram liberadas 40 mil páginas de documentos secretos sobre o “caso Hiss”.
Soube-se, então, entre outras coisas, que:
1) No julgamento que condenou Hiss, o perito do FBI mentiu (ou seja, cometeu perjúrio para condenar o réu por perjúrio) ao afirmar que era impossível que as cópias de documentos, supostamente datilografados por Priscilla Hiss, pudessem ter sido confeccionadas em uma máquina forjada. Na época, o FBI já desenvolvera recursos técnicos para fabricar uma máquina a partir das características de um documento. A máquina de escrever foi a principal “prova material” do processo. Todo o resto era baseado apenas na palavra de Chambers.
[Um ano depois, em seu livro de memórias (“Blind Ambition: The White House Years”), um dos principais assessores de Nixon na Casa Branca, John Dean, relatou que o chefe dos assessores, Charles Colson, contara que Nixon lhe tinha dito, sobre a máquina de escrever do processo: “nós construímos (built) uma no caso Hiss”. Posteriormente, Colson negou, Dean manteve a afirmação, e Colson, apesar de ter-se transformado em guru de uma seita evangélica, não o processou.]
2) O FBI sabia que o número de série da máquina de escrever não conferia com a suposta data de fabricação, e tomou todas as providências – o que era, e é, ilegal – para esconder o fato de Hiss e seus defensores. Em outras palavras, o FBI sabia que a máquina apresentada no julgamento não era a que havia pertencido a Priscilla e Alger Hiss.
3) O investigador contratado pela defesa de Hiss era um espião do FBI, que relatava minuciosamente a estratégia da defesa para os agentes de Hoover.
4) Os promotores haviam, também ilegalmente, escondido relatórios de vários anos – desde as primeiras tentativas feitas por Chambers para comprometê-lo – da vigilância e investigação do FBI sobre Hiss, com transcrições de seus telefonemas e de sua correspondência, além de observações de agentes que o seguiram durante o período, que concluíram que não havia “qualquer indício” de que as acusações de Chambers fossem verdadeiras.
5) Dos três rolos de microfilme, que, segundo Chambers, estavam dentro da malfadada abóbora junto com papéis, em um deles não havia nada. Os outros dois eram a filmagem de documentos sobre extintores de incêndio, botes salva-vidas e outros assuntos palpitantes, que poderiam ser conseguidos com uma consulta ao “Bureau of Standards” (o correspondente norte-americano ao Instituto de Pesos e Medidas).
Não nos deteremos em examinar detalhadamente os dois julgamentos de Hiss. Com o que já foi dito, seu conteúdo parece-nos que está claro. Resta apenas acrescentar que o primeiro julgamento, em maio/julho de 1949, não condenou Hiss, mas, nos EUA, na falta de unanimidade do júri, o réu não é declarado culpado (“guilty”), mas também não é declarado “não culpado” (“not guilty” – a “inocência” não existe no Direito norte-americano, caudatário do Direito medieval anglo-saxônico, embora existam na língua inglesa as palavras “inocence” e “innocent”).
A culpa do fracasso foi lançada sobre o juiz, Samuel H. Kaufman, truculentamente atacado por Nixon por ter excluído uma testemunha paga pelo FBI. No segundo julgamento, em janeiro de 1950, foi escolhido a dedo o juiz – que permitiu um festival de barbaridades que só seriam superadas no julgamento do casal Rosenberg.
Porém, as primeiras vitórias de Hiss foram conquistadas antes que Nixon fosse enviado para o sepulcro político. Já então as acusações a Hiss tinham se tornado insustentáveis. Em 1972, mesmo ano da esmagadora reeleição de Nixon, a “Lei Hiss” (“Hiss Act”) foi declarada inconstitucional. Era uma lei cuja única finalidade era proibir um único homem, Alger Hiss, de receber aposentadoria por seu trabalho no governo federal. A sentença foi proferida por um juiz, Roger Robb, que tinha sido nomeado para o Tribunal de Recursos dos EUA pelo próprio Nixon. Apesar das toneladas de papel consumidas para manter as acusações a Hiss, cada vez menos gente acreditava nelas.
Whittaker Chambers, numa carta a William Bucley Jr., escreveu que a campanha contra Hiss tinha que ser permanente, diária, senão as pessoas acabariam por acreditar na sua inocência. Com exceção do próprio Hiss, ele era o sujeito mais autorizado para falar da inocência de sua vítima – e a temer as conseqüências, se outros acreditassem nela.
“PROJETO VENONA”
Em 1995, a direita norte-americana tentou o seu grande lance para cobrir a fossa onde o fascismo dos anos 50 a tinha mergulhado. Como já citamos, neste artigo, e em um sobre o assassinato dos Rosenberg, o nome desse lance foi “Projeto Venona”.
Numa reunião onde estavam os cabeças da CIA, do FBI e da NSA, com a presença maciça da mídia, foi revelada uma série de documentos que seriam produto da decodificação de cabogramas da embaixada soviética nos EUA para Moscou entre 1941 e 1948, quando, segundo disseram, os soviéticos deixaram de usar os códigos que tinham sido quebrados.
O objetivo da revelação desses papéis, nenhum dos chefes das agências repressivas o escondeu: mostrar que aqueles que foram perseguidos, condenados e, no caso dos Rosenberg, assassinados, eram culpados.
Em relação aos Rosenberg, o “Venona” começou a ser desmoralizado em seu próprio lançamento: o terceiro réu do processo que os condenou à morte, Morton Sobell, que saíra da prisão de Alcatraz em 1969, conseguiu entrar na reunião. Quando alguém apontou o texto de um cabograma como prova de que ele seria um espião soviético, Sobell levantou-se e, para surpresa geral, perguntou como aquilo era possível, uma vez que a suposta referência era a um cidadão que não tinha uma das pernas e, disse Sobell, “eu ainda estou com as minhas duas”.
Sobre Hiss, apesar de nem o sagaz Volkogonov haver encontrado nada sobre ele nos arquivos soviéticos, os arquitetos do “Venona” apontaram dois textos, com datas de 5 e 30 de março de 1945, onde há referência a um certo “Ales”, que seria, segundo um perito do FBI “provavelmente Alger Hiss”. Uma interessante maneira de concluir alguma coisa: há certas coisas onde não cabe um “provavelmente”. Não se diz – pelo menos não em público – que fulano é “provavelmente” um pedófilo, da mesma forma que não se diz que beltrano é “provavelmente” um traidor (pois esta é a acusação a Hiss). Ou o sujeito é, ou não é – e, se não há certeza, fica-se calado até que haja essa certeza.
Mas qual a base para que se acuse Hiss de ser “provavelmente” o citado “Ales”? Segundo a interpretação do mencionado perito do FBI, a decodificação indicaria que “Ales” compareceu à conferência de Yalta e de lá teria ido a Moscou para receber os cumprimentos do então vice-ministro das Relações Exteriores soviético, Andrei Vyshinsky, por seu bom trabalho como espião. Alger Hiss esteve em Yalta e depois foi a Moscou, acompanhando o secretário de Estado, Edward Stettinius. Logo…
O problema não é que alguma coisa não encaixa nessa história, leitor. O problema é que nada encaixa nela.
Vejamos:
1) No suposto texto do cabograma de 5 de março é dito que “Ales” está no México. Mas Hiss estava, naquela data, e já havia duas semanas, em Washington.
2) O outro texto apresentado pelo FBI, NSA e CIA, não diz que “Ales” esteve em Yalta. O que o texto diz é que ele estaria em Moscou na mesma época da conferência de Yalta. Mas Hiss estava lá, na conferência, e não em Moscou.
3) Mas, por hipótese, se “Ales” tivesse participado de Yalta, por que necessitaria ir a Moscou receber cumprimentos de Vyshinsky, se este era um dos delegados soviéticos em Yalta?
4) Se, ao contrário, não estava em Yalta, mas em Moscou, como poderia receber os cumprimentos de Vyshinsky, que estava em Yalta?
5) Por que “Ales” e os soviéticos achariam necessário que um espião fosse receber cumprimentos do vice-ministro do Exterior soviético, um dos mais conhecidos dirigentes do PCUS? Ou Vyshinsky foi colocado aqui por outra razão: por ser um dos mas difamados dirigentes soviéticos, após ter atuado nos processos de Moscou, na década de 30? Não seria a primeira vez que os propagandistas imperialistas acreditariam na própria propaganda, que desenhava sempre um perfil sinistro de Vyshinsky.
6) Alger Hiss nunca esteve em cargo algum que lhe desse acesso a informações militares. No entanto, segundo o cabograma, “Ales” era um agente do GRU, isto é, da inteligência militar soviética.
7) Hiss nunca foi acusado de chefiar uma rede de espiões, mas de fazer parte de uma, até 1938 chefiada pelo seu acusador, Whittaker Chambers. No entanto, no segundo cabograma, “Ales” é chefe de uma rede, tendo contato direto com os soviéticos desde 1935.
8) Por que os soviéticos escolheriam, para codinome de seu agente, algo tão próximo de seu nome verdadeiro? Conhecemos outros nomes e codinomes da inteligência soviética. Nenhum tem essa característica, de resto bastante idiota. Por exemplo, o nome verdadeiro do coronel soviético Rudolf Abel, preso nos EUA em 1957, era William Fischer (nascera na Inglaterra, onde seus pais estavam exilados antes da Revolução de 1917).
9) Um dos cabogramas tem como autor um oficial do MGB (Ministério da Segurança do Estado da URSS). No entanto, em 1945, o MGB não existia ainda. O erro foi atribuído à pressa. No entanto, John Lowenthal conseguiu de um agente da CIA (o “Venona” excluiu a CIA, somente a incluindo quando da preparação do lançamento público) as duas versões anteriores. Nelas, não há menção ao MGB. Ou seja, a última versão foi redigida por alguém que não sabia que o MGB não existia em 1945. Mas, o que mais, além disso, foi modificado, incluído ou cortado?
9) O segundo cabograma começa com uma referência aos remetentes de outro cabograma, que também foi decodificado. No entanto, esse último foi declarado secreto. Por quê?
10) Além disso, “Ales”, segundo o texto do segundo cabograma, era espião desde 1935. Em 1938, Chambers rompeu com o PCEUA e juntou-se à canalha mais reacionária possível dentro dos EUA. A inteligência soviética, vendo exposto e em perigo um agente altamente colocado no governo norte-americano, como seria o caso de Hiss, não tomou nenhuma providência?
Há mais um elemento. Em outro cabograma, este de 1943, aparece o nome de Hiss. Não o de “Ales”, mas o de Hiss. Os soviéticos não teriam tomado nem o cuidado elementar de inventar um pseudônimo. Mais estranho ainda: uma vez descoberto o texto em russo do cabograma, através da decodificação, o nome de Hiss aparece em inglês, em caracteres latinos, ao invés de caracteres cirilícos, como é o alfabeto russo. Não se trata de um problema na hora de preparar a versão para o público. Há uma nota, explicando que assim está no cabograma. Para completar, Hiss é identificado no cabograma como ocupante de um cargo no Departamento de Estado. Tudo indica que os soviéticos estavam fartos de tanta informação. Para evitar uma indigestão, tudo fizeram para entregar seu agente… O mesmo, por sinal, que nessa época estava sendo seguido, escutado e vigiado pelo FBI, sem que nada tenha sido constatado.
HOMENAGEM
No dia 27 de novembro de 1954, Alger Hiss saiu de sua cela, caminhando em direção à grade que dividia o corredor. Tinha sido o seu último dia na penitenciária de Lewisburg, na Pennsylvania. De repente ele ouviu o rumor, e logo o estrondo, dos aplausos. Todos os presos estavam de pé, saudando-o, e à medida que caminhava os aplausos aumentavam. Quando chegou na área externa da prisão, os detentos postaram-se nas janelas, aplaudindo-o mais e mais, e só parou de ouvir os aplausos quando estava fora da prisão. Na História dos EUA, somente outro preso havia recebido essa homenagem de seus involuntários colegas: o líder sindical Eugene Debs, ao sair da penitenciária de Atlanta, em 1921.
Encontrou, então, Priscilla e o filho, Tony. Tinham sido 44 meses atrás daquelas grades. Há duas semanas, completara 50 anos. Durante esse tempo, jogara baseball, ajudara com seu conhecimento jurídico outros presos e, nas suas palavras, “aprendera e crescera”.
Alguém lhe perguntou como tinha sido esse período. Ele sorriu e disse: “três anos na cadeia são um bom corretivo para três anos em Harvard”. E foi para casa.