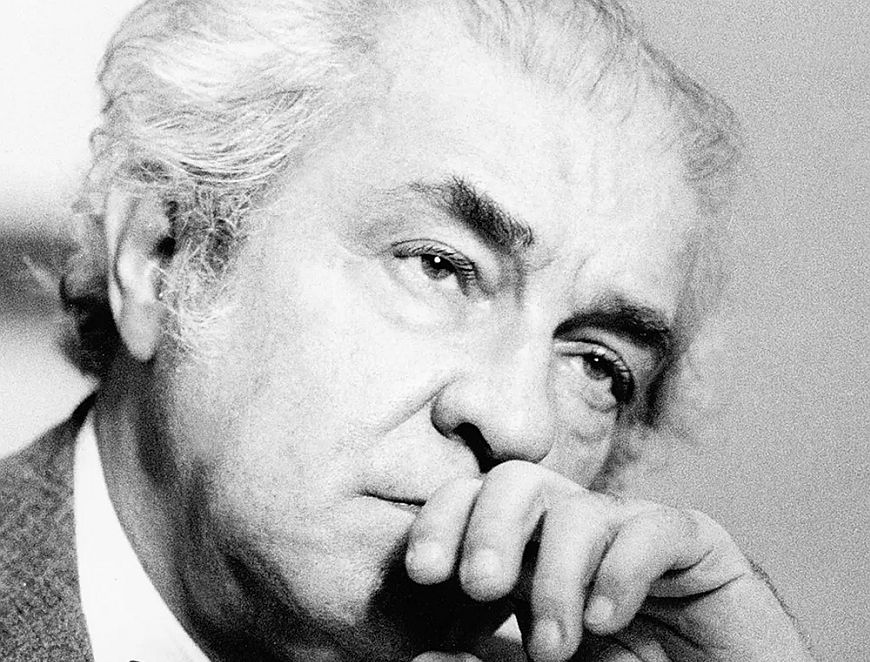CARLOS LOPES
Para Werner
Existe uma história – provavelmente uma lenda – na literatura brasileira que demonstra efetivamente as relações entre os criadores e as regras que alguns gramáticos quiseram impor à arte de escrever.
Conta-se que Machado de Assis, ao visitar a casa de um amigo, entrou inadvertidamente no quarto do filho da família, um estudante, onde encontrou um grosso volume de gramática. Folheando-o, sentiu vergonha de nada saber e nada compreender daquelas regras – logo ele, reconhecidamente o maior escritor da língua neste lado do Atlântico.
Não se sabe o que há de verdade nessa história. Mas o fato dela ter sobrevivido, insistentemente, após tantos anos, concede significação ao relato, mesmo que não seja verdadeiro ou inteiramente verdadeiro.
Se nos é permitido um testemunho pessoal, devo dizer que sou inteiramente solidário com o Machado da lenda – não necessariamente com o Machado real. Lembro-me quando meu pai comprou, para educar os filhos, a Gramática Expositiva, de Eduardo Carlos Pereira. Nunca vi livro mais maçante e incompreensível. Meu pai, carpinteiro naval do Arsenal de Marinha, que escrevia um português pouco culto tanto gramaticalmente quanto ortograficamente, queria que os filhos não tivessem as mesmas dificuldades com a língua, que ele, migrante nordestino no Rio de Janeiro, tinha.
A bem dizer, ele conseguiu. Mas não devido à Gramática Expositiva, de Eduardo Carlos Pereira, que, ele não sabia, fora publicada no longínquo ano de 1907 (e eu somente soube disso por um artigo, relativamente recente, do professor Evanildo Bechara).
O livro de Eduardo Carlos Pereira foi a causa, pelo menos em mim, de uma tremenda alergia à gramática. Anos depois, no ginásio do Colégio Pedro II, eu tremia somente de ouvir a expressão “adjunto adnominal”. Aliás, até hoje não sei o que é um “adjunto adnominal”…
O pior é que durante dois anos, no Pedro II, estive sob uma professora que concedia extraordinária importância à gramática. Nem sei como consegui passar de ano duas vezes. Aliás, sei: eu era um bom redator. As provas de redação me salvaram. Hoje me parece esquisito que ninguém notasse a contradição entre alguém ser um bom redator e um péssimo conhecedor de gramática. Mas ainda bem. Caso contrário, eu teria sido reprovado.
Ao ler Como Não Aprender Inglês, de Michael A. Jacobs, tive uma surpresa diante da afirmação do autor de que os alunos ingleses e americanos não estudam gramática, como fazemos no Brasil – a gramática, nos países anglo-saxônicos, diz Jacobs, é implícita no estudo da língua, isto é, dos escritores que formam a língua inglesa.
Muito lógico. Mas, então, como apareceu essa compulsão brasileira pelo estudo da gramática, análise sintática, regência e outras torturas?
Até onde é possível perceber, até os fins do século XIX – ou, talvez, até a metade do século XIX – a severidade gramatical não existia no Brasil. Aquele que consultar os escritos de Caxias, notará que o grande general se preocupava pouco quer com a gramática, quer com a ortografia.
Da mesma forma, outros luminares do Império.
Nas últimas décadas do século XIX surgem os gramáticos e seus tratados. A que processo histórico isso corresponde, é coisa para outro artigo. Mas tem algo a ver com uma sociedade que abandonava o escravismo e ingressava, ainda que a duras penas, no capitalismo, ainda que dependente e subordinado.
Essa nova sociedade que então se esboçava tinha que construir também a sua literatura – e, naturalmente, a sua linguagem, que não era meramente uma continuação da anterior.
Nenhuma das duas foi um sucesso: o naturalismo não conseguiu se firmar, com exceção de três romances de Aluísio Azevedo (v. HP 06/06/2023, Aluísio Azevedo, o romance nacional e a fossa da escravidão), um romance de Adolfo Caminha (Bom-Crioulo, 1895) e alguns acrescentam um romance de Raul Pompeia (O Ateneu, 1888).
O interessante é que, como observou um gramático mais lúcido – e, ainda mais, amigo nosso -, os gramáticos, em geral, são péssimos escritores.
Não sei se isso é verdade na maior parte dos casos, mas em se tratando da literatura de ficção, parece ser verdade. Alguém se lembra de algum grande romancista ou contista brasileiro preocupado com a “regência”?
O exemplo que aquele gramático lúcido e amigo fornecia era o de Júlio Ribeiro, autor de um desastre literário chamado A Carne (1888) e também da famosa (na época) Grammatica Portugueza (1881).
Na geração dos nossos bisavós, A Carne fazia sucesso como livro pornográfico que não declarava a sua categoria. Na verdade, era fraco até como livro pornográfico. O ato sexual entre Lenita e Barbosa é coisa somente capaz de excitar os adolescentes de três gerações atrás. Mas a grande atração do livro era o disfarce de obra-prima do naturalismo. Assim, nossas bisavós podiam comprá-lo e lê-lo, sem que sentissem culpa por estarem usufruindo uma obra pornográfica.
Isso durou até janeiro de 1941, quando Álvaro Lins, numa análise magistral, demonstrou que A Carne, simplesmente, não fazia parte da literatura.
Hoje, Júlio Ribeiro, mineiro de Sabará, é mais lembrado por ter criado a bandeira de São Paulo – que pretendia fosse a do Brasil.
Entretanto, o seu romance é uma boa demonstração da tese do gramático que citamos – trata-se de Napoleão Seretta Neto, autor de Latência Sintática: a excessiva preocupação com as regras gramaticais (e o português tem mais de mil regras gramaticais) é uma camisa de força para quem pretenda criar.
Assim também acham os criadores, ainda que inconscientemente, como o Machado da história que citamos no início deste artigo.
Ou o Monteiro Lobato de Emília no País da Gramática (1934) e do conto O colocador de pronomes, incluído em Negrinha (1920).
Este conto, um dos mais magníficos da nossa literatura, tem um início que define a posição dos homens de letras frente aos gramáticos:
“Aldrovando Cantagalo veio ao mundo em virtude dum erro de gramática.
“Durante sessenta anos de vida terrena pererecou como um peru em cima da gramática.
“E morreu, afinal, vítima dum novo erro de gramática.
“Mártir da gramática, fique este documento da sua vida como pedra angular para uma futura e bem merecida canonização.”
Nem falemos dos modernistas de 1922, ou dos romancistas da década de 30, inclusive do mais castiço deles – Graciliano Ramos -, ou de nomes posteriores, como Guimarães Rosa.
Nenhum deles era fanático pelas regras gramaticais, o que não quer dizer que as ignorassem.
Porém, há exceções entre os gramáticos.
Uma delas – e das mais brilhantes – é Aurélio Buarque de Holanda. Veja-se o seu estudo, na segunda edição de Contos Gauchescos e Lendas do Sul, de J. Simões Lopes Neto (Editora Globo, 4ª reimpressão, 1961).
Esta excepcional edição crítica, com introduções de Augusto Meyer e Aurélio Buarque de Holanda, chegou às minhas mãos por presente do amigo Werner Rempel, vereador, médico e erudito de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
Quando escreveu Linguagem e estilo de Simões Lopes Neto (1949), Aurélio já escrevera Linguagem e estilo de Machado de Assis (1940) e Linguagem e estilo de Eça de Queirós (1945). Mas o ensaio sobre a obra de Simões Lopes Neto – um autor algo subestimado na literatura nacional – é sensivelmente superior.
Vejamos, por exemplo, o que diz Aurélio sobre o início de um período com a palavra porém, como fizemos acima:
“Há quem se tenha levantado contra semelhante uso. Porém injustamente, sem a menor razão: a prática de todos os autores, dos mais antigos aos mais modernos, e a língua falada, fulminam a condenação.
“Parece-me ocioso gastar muito espaço e tempo com o assunto; consulte-se a Réplica, onde Rui Barbosa, contrariando a fantasia de Cândido de Figueiredo, de que não é ‘bem portuguesa’ a colocação do porém no começo de uma oração, cita ou indica cerca de centena e meia de exemplos dos melhores autores, de D. Duarte a Alexandre Herculano.
“Podem ser aqui indicados alguns outros autores, e respectivos lugares, em que se vê a construção injustificadamente repelida: Joam Roiz de Castel Branco, in Cancioneiro Geral de Garcia de Resende, III, 122; Azurara, Crônica do Descobrimento e Conquista de Guiné, 3, 38, 70, 80; Afonso de Albuquerque, Cartas para El-Rei D. Manuel, p. 37; Rodrigues Lobo, Corte na Aldeia, p. 93; Poesias, pp. 39, 96; Éclogas, pp. 11, 37, 84, 119; D. Francisco Manuel de Melo, Apólogos, p. 400; Cartas Familiares, p. 166; Frei Antônio das Chagas, Cartas Espirituais, pp. 30, 95; João Francisco Lisboa, Obras, III, 19; Gonçalves Dias, Obras Poéticas, II, 14.
“E quem quiser abonações de bons autores fora do mundo fechado dos clássicos, poderá ir a Antero de Quental (“Porém o coração, feito valente”, do soneto Solemnia Verba), a Guimarães Passos (“Porém, ó minha vívida quimera”, do conhecidíssimo Teu Lenço), ao Campo de Flores, de João de Deus, ao Diário, de Miguel Torga, e a numerosos outros poetas e prosadores.”
Não é um primor de clareza, ao mesmo tempo que um colosso de cultura e conhecimento dos autores da língua?
Ao mesmo tempo, não existe, em Aurélio, nada daquela gana, tão presente no citado Cândido Figueiredo, de querer que seus preconceitos predominem como norma racional da gramática portuguesa.
Mais adiante, referindo-se à colocação dos pronomes, escreve Aurélio Buarque de Holanda:
“Muito já se tem escrito a respeito da colocação dos pronomes, tanto em Portugal como no Brasil. Filólogos nossos, dos maiores – entre eles um Said Ali, um João Ribeiro – mostraram que, não existindo aqui as razões de ordem fonética determinantes da topologia pronominal lusitana, é natural se respeite a nossa tendência na matéria. Tendência tão respeitável quanto a portuguesa.
“Estudando o assunto, lembra Said Ali que em Portugal os pronomes são átonos, mal se ouvindo, de tão abafado, o e final em me, te, se, enquanto no Brasil é costume dar certa acentuação ao pronome quando anteposto ao verbo, pronunciando-se, mais ou menos, mi, ti, si. ‘Em Portugal’ – diz ele – ‘fala-se mais depressa, a ligação das palavras é fato muito comum; no Brasil pronuncia-se mais pausada e mais claramente. Em suma, a fonética brasileira é em geral diversa da fonética lusitana’. Declara não ser errada a nossa maneira de colocar os pronomes, ‘forçosamente diversa da de Portugal’; ‘salvo’ – acrescenta – ‘se a gramática, depois de anunciar que observa e registra fatos, depois de reconhecer que os fenômenos linguísticos têm o seu histórico, a sua evolução, ainda se julga com o direito de atirar, ciosa e receosa da mutabilidade, por cima do nosso idioma, a túnica de Néssus das regras arbitrárias e inflexíveis’. Salientando que, por influência do meio, o nosso falar é, e há de ser, em muitos pontos, diverso da linguagem lusitana, escreve ainda: ‘Muitas são já as diferenças atuais, que passam despercebidas por não haver um estudo feito neste sentido. Não é caso para eternamente nos julgarmos inferiores aos nossos ‘maiores’. De raciocínio em raciocínio chegaríamos ao absurdo de considerar extraordinário conhecedor da nossa língua, e mais profundo do que o mais culto brasileiro, o camponês analfabeto que, tendo tido a fortuna de nascer na Beira ou em Trás-os-Montes, pronuncia átonos os pronomes e, consequentemente, os coloca bem à portuguesa.’ E insiste em que é tão correta em Portugal a regularidade lusitana quanto é correta no Brasil a liberdade de colocação, já ‘sancionada na linguagem literária pelos escritores brasileiros’.
“E essa mesma regularidade lusitana – como o próprio Said Ali demonstra, fazendo-o também Sousa da Silveira – não passa de uma tendência, muito forte, é certo, porém muitas vezes violada pelos próprios lusitanos.”
Aqui, Aurélio demonstra, sem nenhum traço de exibicionismo, o seu conhecimento dos próprios gramáticos, filólogos e linguistas brasileiros e portugueses. Estranhamente – talvez fosse melhor escrever, “magicamente” – ele os torna compreensíveis para ignorantes como aquele que fabrica este texto.
Não entraremos em casos mais complicados. Por exemplo, até hoje não sabemos por que alguém necessita saber o que é “regência” (verbal ou nominal) para escrever bem. Por isso, não entraremos no assunto.
Quanto à colocação, é perfeitamente justo o que Aurélio observa em uma nota de pé de página:
“Parece-me dispensável citar exemplos de autores brasileiros, tão conhecida e proclamada é a nossa tendência para colocar ‘mal’ os pronomes. Mesmo em nossos dias, quando já se acham tão divulgadas as ‘leis’ lusitanas neste sentido, às quais tantos se apegam com unhas e dentes, não faltam, entre os maiores escritores, alguns que conscientemente as desrespeitam. É o caso de um Gilberto Freire – para não falar dos extremados, como sejam Mário de Andrade, Antônio de Alcântara Machado e alguns outros. Os estudiosos da língua, os professores, até esses nem sempre levam a sério as tais leis.”
E, em seguida, cita, como exemplos, João Ribeiro (A Língua Nacional) e Antenor Nascentes (O Idioma Nacional).
A conclusão é, então, modelar, clara e sintética:
“As regras que se tem procurado formular a respeito de colocação de pronomes são em boa parte tão sujeitas a exceções que se pode dizer não existem. Muitos dos autores advertem que as conjunções porque (causal) e que (integrante e consecutiva) não ‘atraem’ obrigatoriamente o pronome, sobretudo se entre a conjunção e este se acha intercalada uma ou mais palavras. Entre as palavras com as quais, para Sousa da Silveira, ‘é, gramaticalmente, arbitrária a próclise ou a ênclise, estão os indefinidos cada, tudo (e consequentemente todo, toda, todos, todas), o advérbio de lugar aqui (e, portanto, ali, acolá, etc.)’. Antenor Nascentes vai mais longe: ‘Os pronomes pessoais oblíquos colocam-se onde o escritor quiser, antes ou depois do verbo.’ ‘Não há colocações erradas, exceto as que raiarem pelo absurdo. Há colocações elegantes ou deselegantes, conforme o critério de cada um.’ E Silva Ramos, sempre tão lúcido, assim se refere ao assunto: ‘Estou convencido de que existem dois únicos princípios iniludíveis, em que não podem deixar de estar de acordo o Brasil e Portugal: 1.º – É necessário que aqueles elementos [os pronomes átonos] se achem dispostos por maneira que não resulte obscuridade no sentido. 2.º – Quando figurarem na oração os dois pronomes direto e indireto, devem vir ambos sempre conjugados, antecedendo este àquele deste modo: mo, to, lho, no-lo, vo-lo.’ E acrescenta que em tudo mais a colocação depende ‘exclusivamente da modulação da frase, muito diferente no português de aquém e no de além-mar’.”
Em seguida, há uma estocada em Figueiredo e outros gramáticos “normativos”. Para o autor alagoano, o problema não é gramatical:
“A rigor, a questão da colocação de pronomes tem de ser estudada antes como questão de estilo que de gramática. A esta não compete senão apontar as tendências para o uso mais frequente da próclise ou da ênclise nestes ou naqueles casos; e não formular regras que, pretendendo simplificar o assunto, vêm a torná-lo – com as numerosas exceções colhidas no uso dos bons autores, muitas delas dignas de serem interpretadas psicologicamente – vêm a torná-lo muito mais complicado.”
Concentramo-nos, aqui, na colocação, pois até hoje constitui um dos cavalos de batalha da língua portuguesa.
Mas o ensaio de Aurélio Buarque de Holanda sobre Simões Lopes Neto é vasto, vai muito além disso – e, além da edição do livro do último, que citamos, foi também publicado na coletânea da Academia Brasileira de Letras de textos do primeiro, intitulada Linguagem e Estilo de Machado de Assis, Eça de Queirós e Simões Lopes Neto (Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, ABL, 2007, pref. Evanildo Cavalcante Bechara).
Aurélio foi um homem de letras que não se deixou amarrar pelas limitações gramaticais. É, portanto, uma exceção à consideração acima feita quando avaliamos a obra de Júlio Ribeiro. Quem quiser comprová-lo, basta ler O Chapéu de Meu Pai (1974).
Mas não foi por isso que escolhemos a gramática por assunto deste artigo.
A questão que nos parece pertinente é que a língua, como já disse alguém, é o veículo do pensamento. A gramática – apesar da tentativa de Chomsky de estabelecer uma gramática generativa transformacional – é fundamentalmente normativa, ou seja, pretende estabelecer normas sobre a língua escrita e falada (ou seja, estabelecer uma linguagem).
Evidentemente, precisamos de normas, inclusive sobre a língua, como condição para viver em sociedade – até porque não existe outro modo do ser humano viver.
Mas essas normas não podem ser uma prisão que empobreçam a própria vida, impeçam nosso progresso e algemem o nosso pensamento, cujo veículo, já dissemos, é a língua.
Quando isso acontece, precisamos mudar as normas. Inclusive as gramaticais.