CARLOS LOPES
[O texto que reproduzimos nesta página, devido ao bicentenário da nossa Independência, foi originalmente publicado em setembro de 2017, dividido em 17 capítulos. A edição atual reúne esses capítulos. Foram feitas pequenas correções, todas não essenciais. Para os que preferirem a antiga edição, acrescentamos, abaixo da íntegra do texto, links para os vários capítulos da edição anterior.
Há muitas lendas, em geral subestimando a importância histórica de nossa Independência. Este ensaio é uma tentativa de restituir essa importância. Amesquinhar o nosso passado tem sido uma das formas mais cruéis de amesquinhar a nossa nação e o nosso povo – sempre em proveito de dominações externas e seus agentes internos. Reconstituir os acontecimentos em sua grandeza é, com certeza, uma tarefa que se impõe a todos aqueles que querem um Brasil livre, desenvolvido, justo. (CL)]
Para Nelson Francisco
1
Era no tempo do rei.
Esta frase, que inicia uma das obras fundadoras de nossa literatura – “Memórias de um Sargento de Milícias”, de Manuel Antônio de Almeida – tem um significado além do tempo, considerado em sua dimensão meramente cronológica.
Era uma outra realidade. A época de D. João VI – aquele que, depois, José Bonifácio chamaria de “João Burro” – era quase outro mundo.
Nas memórias de Antonio de Menezes Vasconcellos de Drummond, um dos mais próximos entre os amigos dos Andradas – fundador, com França Miranda, de “O Tamoyo”, jornal que expressava o ponto de vista do partido andradino – pode-se ler:
“Em 13 de Maio de 1810, em galardão de meus bons serviços e consideração por meu pai, me fez o sr. D. João 6º mercê do hábito da ordem de Cristo, com 12 mil réis de Tença” (cf. Annotações de A. M. V. de Drummond à sua biographia, Annaes da Bibliotheca Nacional, Vol. XIII, 1890, p. 7).
Não é uma ideia óbvia, para os homens e mulheres de hoje, que a concessão do “hábito da ordem de Cristo” fosse também uma questão econômica ou financeira – isto é, que implicasse em uma renda (“tença”), aliás, vitalícia.
Mas assim era. Reparemos, além disso, que, em 1810, quando D. João concedeu a Drummond a renda que era consequência do “hábito de Cristo”, Drummond tinha, apenas, 16 anos.
Era algo bastante parecido com as sobrevivências do parasitismo feudal na Itália, referidas por Gramsci em “Americanismo e fordismo”, um dos ensaios que rascunhou no cárcere.
A diferença é que não eram “sobrevivências” do feudalismo português, mas o próprio.
PORTO SEGURO
O conhecimento, ainda que sumário, do que era o Brasil antes da Independência é decisivo para uma avaliação – que não seja estapafúrdia – da obra dos homens e mulheres daquela época.
O governo de D. João VI é descrito, por uma certa historiografia, como um período benfazejo e progressista. A origem dessa tradição está em Varnhagen, o historiador oficial do segundo reinado.
Depois nomeado visconde de Porto Seguro, Francisco Adolfo de Varnhagen, nascido em Sorocaba, era um áulico da corte de D. Pedro II, assim como Silva Lisboa – nomeado visconde de Cairu – foi um áulico da corte de D. Pedro I (e também da corte de D. João VI).
O impressionante é que, apesar do seu reacionarismo, nem Silva Lisboa nem Varnhagen – como acentuou Capistrano de Abreu – eram mediocridades. Ao menos, não eram mediocridades completas. Talvez porque a monarquia, pelo menos até 1864 – quando a economia escravagista entrou definitivamente em agonia -, não era, ainda, um obstáculo absoluto ao crescimento do país. Assim, entre seus áulicos podia haver quem não fosse uma nulidade. Pelo menos, alguns.
Varnhagen detestava revoluções – assim como detestava índios, negros e… os Andradas. Nenhum outro historiador conseguiu (ou conseguiria) descrever a nomeação de José Bonifácio, após o “Fico”, para o Ministério do então príncipe regente D. Pedro, desse modo:
“A 16 de janeiro [de 1822] formou o príncipe um novo ministério, com quem pudesse marchar, em virtude da nova face que havia tomado a política do país. Confiando os negócios da fazenda a Caetano Pinto de Miranda Montenegro, capitão general de Pernambuco ao estalar a revolução de 1817, os do reino ao mineralogista José Bonifácio d’Andrada, que regressara da Europa antes de aí se proclamar a constituição, e os da guerra ao marechal Joaquim de Oliveira Álvares, que se distinguira nas campanhas contra Artigas, conservou na pasta da marinha a Manuel Antônio Farinha. Faltam-nos documentos suficientes para julgarmos, desde já e de um modo definitivo, cada um destes novos ministros: – e por outro lado nem o cremos mui essencial, no pouco tempo que ainda temos que historiar, durante o qual os próprios sucessos e a estrela do príncipe os vão guiar, da mesma sorte que os arrastariam, se eles quisessem opor-se-lhes” (Varnhagen, Historia Geral do Brazil, T. 2, Laemmert, Rio, 1857, p. 429, grifo nosso).
Isto foi publicado 35 anos depois dos acontecimentos de 1822!
Em outro texto, depois de escrever que José Bonifácio era dado a “falar demasiado”, exemplifica o que disse com o seu único encontro com Bonifácio, quando tinha cinco anos de idade:
“Esta qualidade [falar demasiado], tenho eu ainda mui presente desde a meninice, quando, em abril de 1821, pela única vez, vi ao mesmo José Bonifácio em nossa casa no Ipanema. Era o dia do batizado de uma irmã minha (Gabriela): eu fui incumbido da ‘derrama dos confeitos’, e ainda tenho nos ouvidos a voz rouquenha do mesmo José Bonifácio, acompanhada de alguns borrifos e perdigotos, que me amedrontaram, e não mais lhe apareci, apesar de estar nosso hóspede” (cf. Varnhagen, História da Independência do Brasil, RIHGB, vol. 173, 1938, p. 155, nota).
No entanto, Varnhagen tinha algum juízo, como, entre outras coisas, mostra a sua recusa ao pedido de Pedro II para que defendesse “A Confederação dos Tamoios” – poema de outro áulico, Gonçalves de Magalhães, depois visconde do Araguaia – contra a demolidora análise de José de Alencar.
Enfim, ele reconhece o papel de José Bonifácio – mas à sua maneira, ressaltando defeitos, supostos ou verdadeiros, até quando se refere ao que ele mesmo reconhece como positivo:
“A entrada principalmente de José Bonifácio no Ministério veio a dar-lhe mais unidade, o que foi de grande consequência para a marcha que seguiram os negócios. O seu grande saber, o seu gênio intrépido, o seu caráter pertinaz, que quase chegava a raiar em defeito, contribuíram a fixar a volubilidade do príncipe. E o conhecimento especial, que a estada de tantos anos em Portugal lhe dera desse país, dos seus recursos, do forte e fraco dos seus habitantes e especialmente dos que dirigiram a política em 1821 e 1822, a este respeito principalmente, nenhum outro Brasileiro de então lhe levava a palma. Cegava-o por vezes, como a seus irmãos, o muito orgulho – a falta de prudência e o excesso da ambição, bem que acompanhada de muita instrução e natural bonomia; mas a sua vivacidade e o seu gênio entusiasta o levaram a falar demasiado e a ser de ordinário pouco discreto e pouco reservado, como estadista. Tal foi o juízo que dele deixaram os agentes diplomáticos que o trataram quando ministro dos negócios do Reino e Estrangeiros, um dos quais, aliás muito seu amigo, transcreveu muitas bravatas, que declamou em um círculo de muitos, no beija-mão de 13 de maio de 1821, nem duvidou conceituá-lo de excessivamente ligeiro, acrescentando que era homem de espírito, mas de uma tal vivacidade e imaginação tal, que o poderiam arrastar além dos limites devidos e pô-lo até por fim em colisão, por falta de bom acordo com o príncipe regente, dotado igualmente das mesmas qualidades. Entretanto, cumpre confessar que parte dos seus defeitos na crise que atravessava o Brasil, foram qualidades recomendáveis, conforme também sucedeu com respeito ao chefe do Estado, o príncipe-regente e fundador do Império. Em todo caso, era então José Bonifácio um zeloso monarquista, muito amigo não só do país, como do príncipe, de quem era o mais fiel servidor, e que chegou a depositar no mesmo José Bonifácio tanta confiança e a admirá-lo tanto, que até foi acusado de o haver imitado em alguns dos seus defeitos, começando pelo da pouca gravidade e falta de decoro e recato nas palavras, que em José Bonifácio chegavam a raiar em desbocamento, e não era muito que, na flor da mocidade, o príncipe, ouvindo-as na boca de um sábio, chegasse a querer até nisto imitá-lo” (idem, pp. 155-156, grifos nossos).
É verdade que José Bonifácio não era um homem de linguagem recatada. Inclusive em algumas composições poéticas. Como nota Tobias Monteiro em “A Elaboração da Independência”, ele não compôs apenas a Ode aos Baianos, seu poema mais conhecido – ou os outros que também foram reunidos em “Poesias de Américo Elysio”. Além disso, por exemplo, escreveu sobre Carvalho e Melo, visconde da Cachoeira e ministro das Relações Exteriores de 1823 a 1825, um puxa-saco assíduo ao beija-mão do imperador: “Sátiro já decrépito, que sabe/ Por obras a arte inteira do Vieira,/ E quer por isso agora ser ministro,/ Um pontapé lhe deu e o cu voltando/ Este risonho o lambeu três vezes”.
Já quase setuagenário, quando soube dos regentes escolhidos pela Câmara para substituir o ex-imperador na menoridade de seu filho, comentou: “Dois são camelos e um é velhaco”. O que, é claro, logo foi parar nas páginas dos jornais, sobretudo no jornal de Evaristo da Veiga, Aurora Fluminense (cf. Octávio Tarquínio de Sousa, História dos Fundadores do Império do Brasil, vol. I – “José Bonifácio”, 2ª ed., J. Olympio Ed., Rio, 1957, p. 332).
Talvez o incômodo de Varnhagen com o “desbocamento” de José Bonifácio fosse mais com a categoria de indivíduos a quem ele o aplicava, que com a linguagem chula às vezes usada pelo Velho do Rocio. Os áulicos, em geral, preferem linguagem macia.
No texto de Varnhagen que por último citamos, é evidente que ele mirava outro objetivo, além dos historiográficos: para D. Pedro II, separado do pai aos cinco anos de idade, atribuir os defeitos – fantasiosos ou reais – de seu pai à influência de José Bonifácio, devia, no mínimo, ser algo consolador.
Não sabemos se era assim. José Bonifácio fora tutor de Pedro II por quase três anos – mas sempre em conflito com Mariana Verna Magalhães, a quem o imperador considerava uma segunda mãe.
Se a atribuição de defeitos a José Bonifácio tinha esse efeito sobre Pedro II, realmente, não sabemos. Entretanto, quase com certeza, Varnhagen achava que era assim.
REVOLUÇÃO
Varnhagen é um historiador importante, mas não por suas opiniões políticas, e sim pela quantidade de material histórico que reuniu em suas obras. Um caso semelhante, embora de menor envergadura – mas contemporâneo de Varnhagen -, é o de Mello Moraes, autor de “História do Brasil-Reino e Brasil-Império” (1871) e de “A Independência e o Império do Brasil” (1877).
Como disse Octávio Tarquínio de Sousa – autor da melhor biografia de José Bonifácio – é difícil, provavelmente impossível, apesar da sua pouca solidez em muitos aspectos, conhecer o processo da Independência sem ler o que Mello Moraes escreveu. Moraes conheceu pessoalmente muitos dos participantes – então, já velhos – e sua capacidade de pesquisa está longe de ser desprezível.
Mas que é irritante ler certos trechos de Mello Moraes, lá isso é. Por exemplo:
“José Bonifácio (…) veio de Lisboa para São Paulo em setembro de 1819, e era oposto à independência do Brasil, pelas vantagens que recebia do Erário real. Antônio Carlos, como conhecia o modo de pensar do seu irmão José Bonifácio, constantemente lhe escrevia de Lisboa, para que se empenhasse pela independência da Pátria, e que, portanto, a aderiu forçado e não por sentimentos espontâneos à causa do Brasil” (cf. A. J. de Mello Moraes, A Independência e o Império do Brasil, 1ª Typ. Pop. do Globo, 1877, p. 71).
Ou, então:
“José Bonifácio logo que tomou posse do Ministério em janeiro de 1821, criou um partido seu, denominado Andradista, e circulou-se de gente muito ordinária, para instrumento de suas paixões; com o fim de praticarem crimes e horrores; e muito concorreu por um manifesto, justificando o procedimento do Brasil contra as loucuras das cortes portuguesas.” (idem, p. 72).
Um desses “horrores” (ou “crimes”) é, provavelmente, a Independência do Brasil.
O problema, aqui, não é apenas de opinião política.
Em ambos os trechos, Mello Moraes, em função de sua opinião política, falsifica os fatos.
Não é somente que, em sua vida, tanto pública quanto particular, José Bonifácio sempre foi um desprendido em questões de dinheiro e de honrarias – e raras vezes, já idoso, houve folga em seu orçamento familiar, se é que houve alguma, apesar de sua origem abastada.
Até o segundo semestre de 1821, como demonstrou Oliveira Lima em “O Movimento da Independência” (1922), os ânimos no Brasil eram todos a favor da Revolução Liberal do Porto – portanto, a favor da continuidade do Reino Unido ao de Portugal e Algarves. Até que as Cortes – o parlamento que tomou o poder em Lisboa – encetaram a recolonização do Brasil, uma das políticas mais estúpidas já empreendidas por qualquer revolução.
O resultado, ao final, foi a separação do Brasil, e, depois, a queda dos liberais e da revolução, com a dissolução das Cortes, após a “Vilafrancada” – o golpe de Estado chefiado por D. Miguel, em maio de 1823, que restaurou o absolutismo em Portugal.
Quando aconteceu a “Vilafrancada”, o Brasil, com a participação decisiva dos Andradas, já proclamara a Independência havia oito meses.
REPRESSÃO
Voltemos, depois desse pequeno passeio historiográfico, ao tempo do rei descrito nas memórias de Vasconcellos de Drummond:
“Fui com efeito denunciado de pedreiro livre [maçom] por José Anselmo Corrêa, pai do atual visconde de Seisal, atual ministro de Portugal em Bruxelas, e eu não era, não fui e ainda hoje não sou pedreiro livre!
“A denúncia fez grande impressão no ânimo d’el-rei e de Tomás Antônio [de Vila Nova Portugal – o ministro favorito de D. João VI], porque ambos me tinham em bom conceito.
“José Albano Fragoso, juiz da Inconfidência, com quem eu tinha estreitas relações de amizade, foi encarregado por Tomás Antônio de se prevalecer desta estreita amizade para descobrir a verdade e desviar-me de maus conselhos. José Albano Fragoso, no desempenho desta comissão, conduziu-se tão indignamente que muito contribuiu para agravar as circunstâncias em que então me achei. Sabia muito bem que eu não era pedreiro livre, que a denúncia era falsa, e comigo lamentava que o governo se achasse em circunstâncias de autorizar espiões para macular reputações.
“O ser pedreiro livre era então um crime. Mas a Tomás Antônio dizia ele o contrário do que sabia e conversava comigo. Não me acusava diretamente, nem confirmava a denúncia, mas com palavras misteriosas sustentava a suspeita, ora menos, ora mais fortemente, e emitia a opinião de ser eu mandado para fora do Brasil. Esta opinião calou no ânimo de Tomás Antônio, que se decidiu por ela. S. Exª declarou-me enfim que me preparasse para ir no paquete para Londres, afim de servir na Embaixada, sem me dizer em que posto.
“Respondi que voluntariamente não partia, que eu era inocente e que os inocentes não pediam perdão nem aceitavam a comiseração de quem quer que fosse. Que se me julgava criminoso mandasse pôr-me em processo, e que se me julgava inocente não consentisse que se abusasse da sua boa fé, nem que o fizessem instrumento da perseguição de um moço que no princípio da sua carreira tinha já dado boas provas da sua honra e da sua probidade.
“Esta resposta fez abalo no ânimo de Tomás Antônio, e como eu me achasse então moralmente doente com os desgostos que me causava a perseguição, conviemos em ir para Santa Catarina mudar de ares, com seis meses de licença.
“Da denúncia ao dia de minha partida decorreram muitos meses, mais de um ano, e neste longo intervalo a minha saúde sofreu muito. José Albano abusava da minha amizade, atraiçoava a verdade e mentia ao ministro, e tudo para quê? Sem vergonha o não digo. Queria desconceituar-me ou perder-me para ficar um lugar vago na chancelaria-mor que ele solicitava para seu enteado Manoel Plácido da Cunha Valle!” (cf. Annotações de A. M. V. de Drummond à sua biographia, Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, Volume XIII, 1890, pp. 8-9).
Assim eram os tempos do rei.
2
Preso por sua participação na Revolução Pernambucana de 1817, Antonio Carlos de Andrada, no calabouço, esperava a execução – nove líderes da revolução já haviam sido enforcados, e, quatro, fuzilados, além dos que morreram sob tortura ou pelas condições hediondas do cárcere.
Foi então que Antonio Carlos escreveu um poema, um soneto: “Sagrada emanação da divindade/ Aqui, do cadafalso eu te saúdo,/ Nem com tormentos, com reveses mudo:/ Fui teu votário, e sou, ó Liberdade!// Pode a vida brutal ferocidade/ Arrancar-me em tormento mais agudo:/ Mas das fúrias do déspota sanhudo/ Zomba d’alma a nativa dignidade.// Livre nasci, vivi, e livre espero/ Encerrar-me na fria sepultura/ Onde império não tem mando severo;// Nem da morte a medonha catadura/ Incutir pode horror num peito fero,/ Que aos fracos somente a morte é dura”.
Antonio Carlos permaneceria na cadeia por quatro anos. Somente em 1821, quase às vésperas da Independência, ele e outros líderes de 1817 seriam soltos.
Um dos companheiros do Andrada – na Revolução e na cadeia – iria relatar, depois, o que foi aquela prisão. Amontoados no brigue “Mercúrio”, os líderes da Revolução foram transportados para Salvador:
“A morte é cordialmente apetecida, quando a vida é um contínuo martírio.
“Antes do desembarque foram todos acorrentados, à exceção de Domingos José Martins, que tinha vindo na mesma embarcação, José Luiz de Mendonça, o Padre Mestre Miguel Joaquim de Almeida e Castro, o Doutor Caldas e o Deão de Olinda, que algemados caminhavam separados indicando de antemão a sorte, que sobre eles já se havia lançado.
“Estava em armas toda a guarnição da cidade, e parte marchou com tochas acesas para conduzir os desembarcados à cadeia, onde, entrando, pareceu-lhes entrar no Inferno, e que todas as legiões de demônios preparavam-se para recebê-los. A luz opaca de um velho candieiro, que apenas mostrava o ingresso daquela medonha caverna, refletindo sobre os diversos objetos em roda, prestava-lhes mais lúgubre aspecto; o estrondo das portas ferradas, que abriam-se, e fechavam-se ao mesmo tempo, o rumor das correntes, que preparavam-se como mais pesadas para troca das que foram trazidas de bordo da embarcação; os gemidos mandados da enxovia pelos escravos aí detidos, e que todos os dias eram barbaramente açoitados; o empestado fedor da nojenta cloaca amalgamado com o fumo, que exalavam os cornos, em que trabalhavam alguns dos velhos encarcerados mais diligentes; tudo concorria para alterar a guarnição, já assaz debilitada pelos atos violentos anteriormente praticados” (Muniz Tavares, “História da Revolução de Pernambuco em 1817”, 2ª ed., 1884, pp. 212-214).
CRISE
A Revolução Pernambucana de 1817 marca o esgotamento da suserania portuguesa sobre o Brasil – mesmo com a corte ainda no Rio de Janeiro.
O “Reino Unido” ao de Portugal e Algarves, estabelecido oficialmente em dezembro de 1815 – com a sede do reino instalada no Brasil desde 1808 -, já era insuficiente para o nosso país, que, economicamente, extrapolara os limites dessa união. Em resumo, o próprio Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves passara, mesmo com o rei morando aqui, a ser um entrave para o nosso crescimento. É esse esgotamento que a Revolução de 1817 sinaliza, apenas um ano e três meses após a oficialização do Reino Unido.
Porém, quais eram esses limites da união com Portugal? O Brasil ultrapassara o estatuto de colônia. Que limites, então, constrangiam o país, no quadro do “Reino Unido”?
Aqueles decorrentes do agravamento da submissão de Portugal à Inglaterra, aceitos pelo governo de D. João VI em 1810, especialmente através do Tratado de Comércio e Navegação.
A posterior tentativa de recolonização do Brasil, depois da Revolução do Porto (1820), é, consciente ou inconscientemente, uma tentativa portuguesa de se adequar à submissão aos ingleses, ainda que seus promotores tenham sido os liberais, que se mostravam tão arrogantes com D. João VI e D. Pedro. Porém, em seus planos de reconstrução (“regeneração”) de Portugal, a recolonização do Brasil somente assumia tanta importância porque afastavam a priori a possibilidade de romper com a dependência econômica com os ingleses, ainda que atacassem a submissão a eles nos aspectos politicamente mais escandalosos (o melhor exemplo é a demissão de Beresford, após a revolução de 1820: com anuência da Coroa, que tinha por sede o Rio de Janeiro, os ingleses, através do general William Beresford, governaram diretamente Portugal, como se fosse uma sua colônia, de 1809 até 1820 – não somente após a invasão francesa, mas por 10 anos após o fracasso da última tentativa francesa de ocupar Portugal).
Certamente, pela via da recolonização do Brasil, jamais os liberais portugueses iam conseguir, como não conseguiram, reconstruir e regenerar o seu país. Pela simples razão de que esta política levava ao resultado oposto, ao implicar na manutenção da dependência à Inglaterra.
Esse novo patamar de submissão, a partir de 1810, levou a um desastre econômico precisamente naquela parte do Brasil que passara, com a ascensão do algodão como principal mercadoria exportável – obviamente, para a Inglaterra -, a ter o papel-chave em nossa economia.
A crise em Pernambuco – e a Revolução republicana de 1817 – foi um sinal agudo e doloroso de que a submissão econômica do Brasil à Inglaterra, via Portugal, já era insuportável.
Vinte e dois dias após a eclosão da revolta em Pernambuco, o encarregado de negócios do governo francês no Rio de Janeiro, Jean-Baptiste Maler – um homem que entrava em pânico ao ouvir a palavra “revolução”, que lhe sugeria a visão da guilhotina e cabeças cortadas – procurou explicá-la aos seus chefes em Paris:
“… o território (…) extremamente produtivo em algodão, é estéril em comestíveis e gêneros de primeira necessidade, de sorte que o pão para os ricos e a mandioca para a classe indigente vinha de fora e era comprada por preços muito elevados. Ávidos especuladores monopolizavam os carregamentos que chegavam e os revendiam a retalho ao público da maneira a mais arbitrária. Os clamores e as queixas gerais despertaram enfim o indolente Montenegro [governador de Pernambuco], que encarregou o brigadeiro do exército Salazar de tomar algumas medidas para conter o monopólio e reprimir a desordem. Mas, este oficial-general, não tendo podido satisfazer a esperança e os votos do público, cometeu-se ainda o injusto dislate de propor às tropas dar-lhes as rações de pão em espécie e de lhes abonar 16 soldos por cada saco de mandioca, cujo preço no mercado era de 50 soldos” (cit. in Oliveira Lima, “D. João VI no Brasil”, 2º vol., 1908, pp. 787-788).
O francês, nota Oliveira Lima, errava nas causas: “a razão da escassez de comestíveis de primeira necessidade é que Maler falsamente atribuía à improdutividade do terreno da costa e matas para essa cultura. [John] Luccock acertadamente a fornece ao falar também na carestia dos mantimentos, da farinha nomeadamente, porque pagando o algodão melhor, na província se não cultivavam bastante gêneros alimentícios, como mandioca e feijão. Por outro lado a capital consumia abundantes provisões de boca, provocando sua importação, e a guerra do Sul [a invasão da Banda Oriental, o futuro Uruguai, pelos portugueses] com seus repetidos fornecimentos estava fazendo encarecer todos os gêneros. Para cúmulo a estação de 1816 fora muito seca no Norte, portanto escassas as safras” (idem, p. 788, grifos nossos).
[NOTA: John Luccock, comerciante inglês que residiu por 10 anos no Brasil, em 1820 publicou um livro importante sobre o nosso país entre 1808 e 1818: “Notes on Rio de Janeiro and the Southern Parts of Brazil”.]
Mas, continuemos com a análise de Oliveira Lima sobre as causas da Revolução de 1817:
“Destas circunstâncias combinadas derivou-se neste ponto o sofrimento do povo pernambucano, quando os plantadores e comissários andavam em maré de fortuna com o aumento, que chegou a 500 por cento, do preço do algodão por motivo da guerra recente, de 1812 e 1813, dos Estados Unidos contra a Inglaterra, da extinção em 1815 do bloqueio continental e da perspectiva de mais largas exportações de tecidos da Inglaterra para os velhos mercados europeus os novos mercados latinos do Novo Mundo, tornando-se indispensável a matéria prima, para cujo suprimento não chegava a produção norte-americana” (grifo nosso).
Em suma, a agricultura para exportação, com a elevação dos preços do algodão destinado às fábricas inglesas e a consequente concentração da mão de obra escrava nessa cultura, arrasara com a agricultura destinada ao consumo interno. O resultado do aumento das exportações foi um aumento das importações – com o encarecimento e escassez dos alimentos – para o consumo da população livre e escrava.
TRATADO
Esse labirinto comercial era, claramente, uma consequência da ultra-submissão portuguesa, oficializada pelo tratado de 1810.
Possivelmente, a maior unanimidade – se é possível falar em “maior” quando se trata de algo unânime – já conseguida entre os historiadores que trataram do Brasil, está na avaliação desse tratado comercial com a Inglaterra.
Até mesmo Calógeras, em geral propenso a simpatizar com o lado direito – isto é, antinacional – do espectro ideológico, afirma que “os tratados de 19 de fevereiro de 1810” foram um “triunfo diplomático e financeiro para as praças exportadoras da Grã-Bretanha” porque “entregavam à Inglaterra, contra o próprio Portugal, o comércio privilegiado do Brasil” (J. Pandiá Calógeras, “A Política Exterior do Império”, Vol. 1, RIHGB, 1927, p. 342, grifo nosso).
Assim ele resume as cláusulas do Tratado de 1810:
“… as alfandegas cobrariam, não mais 24%, como mandava a carta régia de Abertura dos portos, de 28 de Janeiro de 1808, mas 15%, quando as próprias importações de Portugal eram oneradas com 16%. A base das cobranças era ad-valorem, provado o preço pelas faturas. Óbvia, a facilidade do contrabando por meio de declarações inexatas. Para julgar os pleitos entre ingleses e nacionais, continuava instituído um juiz conservador dos ingleses. Duraria eternamente o tratado comercial, só podendo ser revisto e modificado por aprazimento mútuo, e decorridos quinze anos de sua vigência. As demais cláusulas sobre reciprocidade e sobre regimes de exceção só tinham valor e alcance para os mercadores de Londres, e deixavam praticamente aos portugueses sem proteção” (idem, p. 344, grifos nossos).
Oliveira Lima – historiador (e também diplomata) que examinou o período joanino com simpatia – resume:
“No domínio comercial o ato mais importante e de mais graves consequências do reinado americano de Dom João VI foi o tratado de 1810, arrancado à condescendência anglófila de D. Rodrigo de Souza Coutinho [depois, conde de Linhares] ao cabo de dois anos de laboriosas conversações e tenazes esforços por parte do representante britânico. Era Lord Strangford um desses diplomatas (…) que a Inglaterra costuma exportar para certos países; que têm mais de protetores do que de negociadores, e que impõem com mais brutalidade do que persuasão o reconhecimento egoísta dos interesses dos seus concidadãos e da sua nação. (…) [a Inglaterra] deixara de ocultar seus fins, que já se podiam qualificar de francamente imperialistas” (Oliveira Lima, op. cit., p. 374).
Strangford era um troglodita. Há um episódio que bem o demonstra: a abertura dos portos do Brasil, em 1808, não “aproveitava então à marinha mercante portuguesa, sim à inglesa, e foi realmente decretada muito para compensar das suas perdas os aliados do Reino, senhores do mar e únicos para quem naquela data tinha valor a concessão, a qual contrabalançou de algum modo o prejuízo resultante dos portos peninsulares trancados [pela invasão de Napoleão] ao seu comércio. A pior consequência da medida foi de todo modo para Portugal porquanto, não sendo país manufatureiro e consumindo relativamente pouco dos gêneros coloniais, o que excluía um intercâmbio regular, vivia economicamente das comissões, dos fretes e do lucro do entreposto para os outros países” (idem, p. 192).
Porém, os ingleses não ficaram satisfeitos. Em um ofício para Londres, Strangford relata que “exprimindo-lhe D. João a esperança de ter satisfeito ao Governo de S.M.B. [Sua Majestade Britânica] a abertura dos portos ao comércio do mundo, [Strangford] responde ‘que esta medida não podia deixar de causar bom efeito na Inglaterra mas necessariamente produziria maior satisfação se tivesse sido autorizada a admissão de navios e manufaturas britânicas em condições mais vantajosas que as concedidas aos navios e mercadorias de outras nações estrangeiras’.” (cf. Tobias Monteiro, “A Elaboração da Independência”, ed. cit., p. 74).
Entretanto, é forçoso reconhecer, como escreveu, ainda em 1810, Hipólito da Costa, que o problema do tratado de 1810 esteve menos na selvageria de Strangford que na subserviência do futuro conde de Linhares – e, acrescentamos, de D. João.
A síntese de Oliveira Lima – um dos três principais historiadores de nossa Independência, ao lado de Tobias Monteiro e Octávio Tarquínio de Souza – é mais essencial que a de Calógeras:
“O tratado de 1810 foi franca e inequivocamente favorável à Grã-Bretanha (…). … quaisquer favores concedidos o seriam em detrimento do futuro eventual das indústrias brasileiras, pois, sendo ainda muito pouco conhecidos no próprio Brasil os produtos naturais da terra, impossível se tornava dizer se muitos deles não se prestariam a fins industriais. (…) Nunca todavia ficou tão marcada esta relação de dependência [de Portugal em relação à Inglaterra] como no tratado de 1810”.
O livro de Oliveira Lima sobre o período de D. João é de 1908. No entanto, há trechos que revelam problemas e preocupações bastante atuais:
“… deve-se registrar a grande devastação das matas do litoral por efeito da permissão, dada aos ingleses no tratado, de nelas cortarem madeiras de construção para as suas embarcações. A madeira carregada para a Inglaterra o foi não somente para uso nos estaleiros, como para todas as aplicações possíveis no país de destino e noutros países”.
Em seguida, o historiador pernambucano descreve a estagnação econômica do Brasil sob o regime do tratado de 1810 e considera:
“Ao passo que os gêneros coloniais entraram a baixar depois da paz geral [1814/1815], mercê da crescente produção de Cuba e dos Estados Unidos, fazendo as exportações destas terras temível concorrência ao nosso algodão, ao nosso açúcar e ao nosso fumo, (…) as pobres manufaturas do Reino viram-se afastadas em proveito das superiores manufaturas britânicas, pela redução que às últimas fora concedida. Igualmente, exerceu essa redução pernicioso efeito sobre certas indústrias e culturas incipientes no reino ultramarino, tais como da seda, do anil, da cochonilha, do cânhamo, do trigo, dos tecidos de algodão, dos curtumes e das salinas, que a metrópole anteriormente impedira e que à sombra da franquia de 1808 tinham começado a medrar sob bons auspícios. (…) não podia o tratado com a Inglaterra deixar de representar para Portugal uma capitulação e para o Brasil uma inferioridade” (cf. Oliveira Lima, op. cit., pp. 375-383).
3
Na época de sua assinatura, o tratado comercial de Portugal com a Inglaterra foi minuciosamente analisado, e denunciado, no “Correio Brasiliense”, por Hipólito José da Costa.
Depois de frisar que a tradução em português do tratado – o original fora escrito em inglês – continha várias incorreções, sempre em desfavor de Portugal, escreve Hipólito, em julho de 1810:
“… entrando um pouco mais no espírito, e disposições do tratado, reduzimos os defeitos que nele achamos:
“1º) à falta de reciprocidade, que tanto se pretende inculcar;
“2º) à superioridade de condição que os ingleses vão a gozar no Brasil, comparados os seus direitos com os de um natural do país, mesmo vivendo lá no Brasil;
“3º) à influência deste tratado, em retardar e impedir a prosperidade do nascente Império do Brasil;
“4º) à humilhação da dignidade nacional portuguesa, pelas confissões, e admissões, em que se compromete o caráter da nação” (cf. Correio Brasiliense, Vol. V, Nº 27, p. 189, grifo nosso).
Em seguida, Hipólito procede ao exame do tratado, artigo por artigo, a começar pelo seu caráter perpétuo, estabelecido no primeiro dispositivo. Três anos depois, respondendo a um jornal que defendera o tratado, foi ainda mais enfático:
“Desde que lançamos os olhos pela primeira vez naquele instrumento miserável, nos persuadimos da tendência, que tinha, não só a arruinar o comércio dos portugueses, mas a atacar as fontes da opulência da Nação”.
Ele vai, então, mirar no negociador português, o conde de Linhares:
“A situação deste ministro, em Londres, era então a mais favorável para negociar com o Ministério inglês; principalmente depois que se fez em Portugal o levantamento contra os franceses. Tinha o ministro português em Londres a casa sempre cheia de negociantes ingleses, que lhe pediam permissão para ir com suas mercancias ao Brasil; oficiais militares, que lhe requeriam ir servir na guerra em Portugal; cartas do Ministro de Estado [da Inglaterra], que lhe rogavam atendesse às representações do comércio quase arruinado e olhando para o Brasil como para sua última âncora da esperança.
“Agora que partido tirou o ministro português de todas estas vantagens?
“Encheu-se de vento; adquiriu um tom soberbo e desprezador de seus compatriotas, quando até então era uma triste figurinha; lançou as linhas ao péssimo tratado de comércio de onde lhe havia de provir o ser conde; (…) por mais extravagantes que fossem as proposições de Lord Strangford ao governo português, não podem os portugueses queixar-se dele, porque cumpria com o seu ofício; e quem é o culpado é o negociador português, que lhas concedeu”.
TERREMOTO
A crise e a explosão em Pernambuco mostrou como Hipólito estava certo.
O livro mais importante sobre a Revolução Pernambucana é “História da Revolução de Pernambuco em 1817”, escrito por um dos principais líderes revolucionários, Francisco Muniz Tavares, que, depois de quatro anos no cárcere, após a Revolução do Porto, foi deputado brasileiro às Cortes de Lisboa, e, após a Independência, deputado na Constituinte de 1823, deputado geral no 2º Império, vice-presidente de Pernambuco e membro do conselho de D. Pedro II.
Por toda a vida, Muniz Tavares, que era padre, foi um defensor da Revolução de 1817 (em “D. João VI no Brasil”, Oliveira Lima chamou a Revolução Pernambucana de 1817 de “revolução de padres” – nada menos que 51 padres estiveram entre os revolucionários).
O livro de Muniz Tavares, publicado em 1840, entre outras coisas, como nota o prefaciador de sua segunda edição (1884), o historiador paraibano Maximiano Lopes Machado, destrói a depreciação da Revolução de Pernambuco por Varnhagen – e também pelo conselheiro Pereira da Silva, na sua História da Fundação do Império Brasileiro (v. o tomo IV da obra de Pereira da Silva, Garnier, Rio, 1865, pp. 129-133 e 137-202).
No livro de Muniz Tavares encontra-se o melhor retrato de Antonio Carlos de Andrada durante a Revolução Pernambucana. Quando a revolução estourou, Antonio Carlos, ouvidor e corregedor em Olinda, estava no interior, procedendo à uma “correição” – uma visita de inspeção.
No dia 29 de março de 1817, ele escreveu a seu irmão mais novo, Martim Francisco:
“Martim – Já saberás a estas horas o sucesso de Pernambuco. No dia 6 do corrente, estando eu de correição, levantou Pernambuco a bandeira da independência e o conseguiu, tendo nisto grande parte a fraqueza do general Caetano Pinto. Fui chamado pelo novo governo e cheguei no dia 9, e tenho assistido à mor parte dos conselhos. Este sucesso tem sido muito aplaudido por todo o povo: eu tenho, porém, um grande desgosto com ele, que é o nos vermos separados, talvez para sempre. O destino assim o quer; que remédio! Particulares e autoridades, tudo tem reconhecido o novo governo, e a forma republicana. Participa à nossa mãe estas notícias; tem, porém, cuidado em tranquilizá-la a meu respeito. Tu bem sabes quanto jeito é preciso, para que estas novas a não acabem, visto a sua grande idade”.
A essa carta, Antonio Carlos acrescentou um post-scriptum:
“P. S. Acabo de vir do conselho, assombrado de ver a imensa tropa que baixa do interior: há mais de 6.000 homens de tropa regular, o que com as milícias e ordenanças formará um exército de 30.000. O sistema de administração da justiça está se reformando, as ouvidorias vão abaixo, eu… perdendo o meu lugar, além do risco de perder o ofício que tenho em S. Paulo. Sinto, mas tenho paciência. Dá-me notícias tuas.”
Quinze dias depois, Antonio Carlos escreveu ao seu irmão mais velho, José Bonifácio, que estava na Europa (José Bonifácio somente voltaria ao Brasil em 1819):
“Meu bom irmão e amigo.
“Tendo recebido a última carta tua em véspera de correição não respondi logo, guardando para quando viesse, mas como fui chamado antes de findar a correição agora o faço.
“… a sorte que é minha adversa, faz gorar todas as minhas ideias. Eis-me de novo sem meios certos de subsistência.
“A revolução de Pernambuco destruiu o meu lugar, e, isto tendo eu só um ano de ocupá-lo, e não tendo podido nesse tempo fazer mais do que desempenhar-me. Foi um sucesso assombroso: cinco ou seis homens destroem num instante um governo estabelecido e todas as autoridades se lhes sujeitam sem duvidar. Eu fui chamado pelo novo governo provisório e fui tratado com o maior respeito e distinção pedindo-se-me que tivesse assento entre eles, e assistisse às suas deliberações para os aconselhar, o que agora tenho feito. As tropas mostram zelo e todas têm jurado defender a causa da liberdade e não se sujeitarem mais ao poder real; se alguns ânimos vacilam, o geral é aferrado à nova ordem.
“Vai a ser convocada a assembleia constituinte e interinamente há um governo de cinco membros, e um conselho de governo. Foram destruídos os juízes de fora e ouvidores, e ficou tudo devolvido aos juízes ordinários, e para última instância a um colégio superior de justiça. Tem-se abolido alguns impostos dos mais onerosos, e trabalha-se muito em porem-se num pé de defesa respeitável.
“Eis-me, portanto, separado dos meus, visto os dous partidos em que nos achamos alistados, o que me custa.
“A lista civil tem sido mal paga, que é o mesmo que dizer-te que estou pobre.
“Adeus.
“Recomenda-me à tua família e recebe o coração de teu irmão e amigo,
“Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva.
Pernambuco, 14 de Abril de 1817.”
Diz o prefaciador da segunda edição do livro de Muniz Tavares, em sua excelente introdução, que Antonio Carlos “redigiu as leis orgânicas da república e constituiu-se (…) a mola real do governo”.
AÇÃO
Geralmente os historiadores consideram John Armitage, que viveu no Brasil entre 1828 e 1835 – quando escreveu sua História do Brasil – um autor bem informado. Provavelmente, têm razão, porque Armitage conheceu pessoalmente boa parte dos líderes políticos, e, por sua atividade comercial, parte importante da economia brasileira da época.
Diz Armitage, sobre o segundo irmão Andrada, que “foi preso como cúmplice, e mandado à Bahia, onde esteve encarcerado quatro anos, tempo que empregou em ensinar a alguns dos seus companheiros a retórica, línguas estrangeiras, e elementos de jurisprudência” (J. Armitage, História do Brasil, 2ª ed. bras., S. Paulo, 1914, p. 30).
Esse resumo é razoável, porém, muito incompleto.
Antonio Carlos foi autor da Constituição (“Lei Orgânica”) da Revolução de 1817. Na coleção da Biblioteca Nacional, encontra-se o seu ofício, enviando o projeto à Câmara de Olinda. Ele assina esse ofício como “O Patriota Ouvidor e Corregedor Antônio Carlos Ribeiro Andrada Machado e Silva” (cf. BN, Documentos Históricos, Revolução de 1817, vol. CIV, Rio, 1954, pp. 95-96).
Uma das testemunhas da Revolução Pernambucana de 1817, o francês Louis-François de Tollenare, depois de evocar os líderes do movimento, escreve:
“Estas oito personagens não manifestam, entretanto, nenhum mérito assaz transcendente, nem nada de muito próprio a fazer rodar com vigor o carro da revolução; só se excetua a atividade ardente do sr. Domingos José Martins. Todos, aliás, cedem perante o antigo ouvidor de Olinda, o sr. Antonio Carlos, hoje conselheiro de estado.
“Eis um personagem que alia a um espírito vasto, uma concepção viva, uma dialética sutil e persuasiva, um caráter firme e uma vontade determinada. Se o sr. Antonio Carlos fosse militar seria homem a assenhorear-se de todos os poderes da república. Tal qual é, a sua habilidade é ainda assaz grande para fazer sombra aos seus colegas”. Em nota, o autor acrescenta que “desenhei-lhe a fisionomia moral com cores demasiado pálidas” (cf. Tollenare, “Notas Dominicais 1816, 1817, 1818”, trad. Alfredo de Carvalho, 1905, p. 194).
Mais adiante, quando as tropas portuguesas avançavam em direção a Pernambuco, diz Tollenare: “Os Srs. Martins e Antonio Carlos são os únicos que mostram firmeza; todos os outros discursam, mas parecem muito desconcertados” (idem, p. 214).
PRISÃO
Em vários textos sobre a Revolução Pernambucana há referência à autoria de Antonio Carlos no documento-síntese do movimento, que tinha o longo título de “Preciso dos sucessos que tiveram lugar em Pernambuco, desde a faustíssima e gloriosíssima Revolução operada felizmente na Praça do Recife, aos seis do corrente mês de março, em que o generoso esforço de nossos bravos patriotas exterminou daquela parte do Brasil o monstro infernal da tirania real”.
Neste caso, porém, devido a peculiaridades de estilo, achamos mais justificada a conclusão de Nelson Werneck Sodré, de que esse documento é da autoria de José Luís de Mendonça (cf. Nelson Werneck Sodré, “História da Imprensa no Brasil”, 4ª ed., Mauad Editora, 1999, p. 37).
No trecho de Armitage que transcrevemos, porém, o que parece mais subestimado são as condições da prisão de Antonio Carlos. Nisso, um autor que não é simpático aos Andradas – nem à Revolução de 1817 – é mais exato quando, ao falar da saída dos Andradas do governo de Pedro I, lembra:
“Não podiam intimidá-lo [a Antonio Carlos] as vicissitudes da oposição, pois já tinha arrostado as mais horríveis, (…) onde o levara a cumplicidade na revolução de 1817. Aí propuseram-lhe suplicar perdão a El-Rei, ao que respondeu só dobrar o joelho diante de Deus. Ele guardava ainda muito viva a lembrança da afronta sofrida nas ruas do Recife, quando em mangas de camisa, quase descalço, passava algemado, insultado pela canalha, caminho da prisão, e sentia tocar-lhe o rosto um gato morto, arremessado por um caixeiro português. Poucos anos bastaram para fazê-lo esquecer ou perdoar o castigo imposto pelas autoridades do Rei e mantido pelo próprio Rei; mas ficou-lhe na alma o fel das injúrias, provindas dos que em sua pessoa insultavam a condição de brasileiro” (cf. Tobias Monteiro, “A Elaboração da Independência”, 2ª ed., Itatiaia, pp. 683-684).
Sobre a via-crúcis em Recife, existe uma testemunha que estava entre os presos – o padre Muniz Tavares:
“Dos Conselheiros [do governo revolucionário] o Desembargador Antonio Carlos foi o único que resolveu-se a acompanhar os que se retiravam, determinado a expor a vida pela causa, que com predileção abraçara. Os demais tinham-se ocultado em suas casas, uns esperando com estoicismo as afrontas, e a morte, outros meditando engenhoso subterfúgio para evitá-la” (cf. Muniz Tavares, op. cit., p. CCXLI).
“… O Pedroso, e José Mariano, tinham sido agarrados na fuga, e transportados à cadeia do Recife. O Desembargador Antonio Carlos, ou por aversão ao esconderijo, ou por desconfiança da fidelidade da pessoa, em cuja casa abrigara-se, voluntariamente tinha ido recolher-se à cadeia de Igarassu, donde o remeteram para a fortaleza das Cinco Pontas.
“A estes três indivíduos conjuntamente com o Padre Mestre Fr. Joaquim Caneca, contra os quais a raiva dos Realistas era mais acesa, em vez das cordas coube a distinção de pesada corrente de ferro ao pescoço.
“Com a cabeça descoberta aqueles quatro indivíduos precediam a marcha dos outros, que em fila caminhavam rodeados por um forte destacamento; (…). O pranto das esposas, dos filhos, dos parentes desses presos, era o canto de glória, que ouviram com deleite os promotores do espetáculo.
“Depois de correrem assim as principais ruas do Recife, chegaram ao brigue Mercúrio, destinado para transportá-los. Nesta embarcação estava ainda reservado para aqueles patriotas duríssimo tratamento. Foram todos encerrados no fundo do porão: grilhões aos pés substituíram as cordas, que nos braços traziam; uma gargalheira atando estreitamente o pescoço de cada um, com as duas pontas cravadas no pavimento, obrigava a todos a permanecerem deitados sem outro leito fora das alcatroadas tábuas do mesmo porão. Três sentinelas armadas de baionetas, e chibata, velavam continuamente, proibindo não só a comunicação da palavra, como o desafogo dos gemidos. A sede aumentada pela qualidade do alimento salgado, que era exclusivamente subministrado, não podia ser saciada senão por uma só medida d’água em todo o dia; como se aquelas três sentinelas não bastassem para a rigorosa vigilância, de hora em hora vinha um inspetor, que diligentemente examinava se os ferros tinham sido limados. O sono, refrigério dos aflitos, era de tal modo disputado por aqueles desumanos algozes. Leitor, aprende como são tratados os vassalos de um Rei absoluto” (idem, pp. 209-211).
O padre Muniz Tavares era um dos presos que desembarcaram em Salvador:
“Quando no Porto da Bahia deu fundo o brigue Mercúrio, os desapiedados guardas comunicaram essas notícias aos presos, que ali vinham, augurando-lhes igual sorte. Cada um assim pensou, e especialmente os quatro, que antes de embarcarem-se em Pernambuco tinham sido com distinção mais oprobriosa assinalados; um dentre estes, o Desembargador Antonio Carlos, sem perder a coragem, que lhe era congênita, voltou-se ao autor desta história, que lhe estava ao lado, e disse-lhe: ‘Amigo, os meus dias são contados; tomai este relógio de ouro: vós talvez tornareis à vossa pátria. Quando realizar-se essa fortuna, que cordialmente vos desejo, tratai de remetê-lo a meu irmão, o coronel Martim Francisco, dizendo-lhe que é tudo quanto me resta; que ele o receba, e conserve como penhor do extremoso amor que lhe consagro’.
“A hora do desembarque, e a condução dos presos à cadeia, foi conforme ao que antecedentemente tinha-se praticado com os primeiros desembarcados. (…) Muito mais duro tratamento foi reservado a Pedroso, José Mariano e Antonio Carlos: estes, logo que chegaram à cadeia, foram separados e metidos cada um em estreito segredo, um verdadeiro sepulcro, no qual não penetrava-se sem luz em todo o decurso do dia; e como se não bastasse um tal suplício para os privar da vida lentamente, os despiram dos vestidos, que sobre o corpo traziam, e inteiramente nus ali os deixaram com grilhões aos pés, e corrente ao pescoço. Aquela separação aumentou a consternação dos demais companheiros, que creram como certo serem os três separados conduzidos imediatamente ao patíbulo. Tudo era envolvido em mistério, tudo terror” (idem, 215-217).
4
Estamos nos detendo, com alguma ênfase, na Revolução Pernambucana de 1817, porque foi um acontecimento decisivo para a nossa Independência – não somente pelo seu significado sócio-econômico e pela sua importância nacional já na época da eclosão do movimento (é significativo que, além dos pernambucanos e da expansão revolucionária na Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, foi notável a participação de homens que nasceram em outras partes do Brasil, como Domingos Martins, que era capixaba, ou Antonio Carlos, que era paulista; em 1845, por sinal, em sua última atividade política, Antonio Carlos foi eleito senador por Pernambuco).
Ocorre, além disso, que a Independência foi marcada pela participação de homens que, em 1817, estavam nas fileiras da revolução republicana, e, mesmo aqueles que não estiveram lá, foram profundamente marcados por essa revolução – e pela repressão sanguinária da Coroa portuguesa (o melhor livro sobre os líderes da revolução e sobre as vítimas da repressão continua sendo “Os Mártires Pernambucanos Vítimas da Liberdade nas Duas Revoluções Ensaiadas em 1710 e 1817”, escrito em 1823 pelo padre Joaquim Dias Martins – portanto, logo após a Independência – e publicado postumamente em 1853).
Existe, também, uma dimensão internacional, estudada pelo embaixador Gonçalo de Barros Carvalho e Mello Mourão em “A Revolução de 1817 e a História do Brasil – um estudo de história diplomática”. Sobre esse aspecto, no qual não nos estenderemos, apenas uma observação: em seu livro, o padre Dias Martins afirma que, em Londres, Domingos Martins conheceu e tornou-se amigo do grande revolucionário venezuelano Francisco de Miranda, que participara da Guerra da Independência dos EUA, fora um dos comandantes do exército francês durante a Grande Revolução, e seria o principal dirigente, contra os colonizadores espanhóis, da revolução venezuelana de 1810-1812. Tanto Miranda quanto Martins eram maçons (cf. Dias Martins, “Os Mártires Pernambucanos”, Typ. de F. C. de Lemos e Silva, 1853, p. 258).
Atalhemos, então, nossa abordagem da Revolução de 1817. Há outra testemunha (“ocular”, como se dizia antigamente) da Revolução Pernambucana de 1817, que deixou o seu depoimento, e não pode deixar de ser mencionada: o general – do exército de Bolívar, mas cuja patente foi reconhecida pelo Império – Abreu e Lima.
ORATÓRIO
O então capitão de artilharia José Inácio de Abreu e Lima, em 1817, servia ao exército português na Bahia quando seu pai – o Padre Roma – foi preso ao chegar àquela província. Quase trinta anos depois, no primeiro tomo de sua obra sobre a História do Brasil, o general Abreu e Lima, que acompanhou o pai até o seu martírio, relataria os acontecimentos:
“A revolução estende-se à Paraíba e ao Rio Grande do Norte, onde se estabeleceram governos provisórios à imitação do de Pernambuco; porém o Ceará tardava em responder ao brado, que já tinha ecoado naquelas duas províncias; e para acelerar o golpe foi enviado um agente secreto, o padre José Martiniano de Alencar, hoje Senador do Império, que por ser filho da mesma província tinha nela importantes relações de família. Com efeito partiu Alencar, e chegando à Vila do Crato, lugar do seu nascimento, deu o primeiro grito, que logo foi sufocado, sendo preso imediatamente com todas as pessoas que lhe eram mais caras. Algumas outras prisões houveram (sic), e com estas medidas cessou o pronunciamento do Ceará” (J.I. de Abreu e Lima, “Compendio de História do Brasil”, Tomo 1, Laemmert, Rio, 1843, pp. 282-283).
O padre José Martiniano de Alencar, irmão do também revolucionário de 1817 Tristão Alencar Araripe – assassinado em 1824, pela repressão à Confederação do Equador -, era o pai do romancista José de Alencar, um dos fundadores de nossa literatura (no século XIX, sob o Império, não eram raros os casos de padres que, apesar do celibato oficialmente adotado pela Igreja Católica, constituíam família – e eram aceitos socialmente, como foi o caso do padre Alencar, que tornou-se senador vitalício por escolha do segundo imperador, ou do padre João Carlos Monteiro, vigário da paróquia de Campos, orador sacro da Capela Imperial, deputado, e que, vivendo com uma escrava – depois alforriada – foi pai do abolicionista José do Patrocínio).
Continua Abreu e Lima:
“No entanto, pela parte do Sul a revolução não tinha dado um passo, e era de onde justamente tudo havia que recear. Um homem houve que, conhecendo a importância de dar mais impulso àquele movimento, se ofereceu para ir às Alagoas [na época, Alagoas era parte de Pernambuco], e dali à Bahia, correndo ele só todo o risco da sua temerária empresa.
“Este cidadão era o Doutor José Ignácio Ribeiro de Abreu e Lima, um dos mais hábeis advogados de Pernambuco, vulgarmente conhecido, depois da sua infausta morte, pela denominação de Padre Roma. Suas relações na parte meridional da província lhe inspiravam grande confiança, e na verdade a sua marcha até às Alagoas foi um constante triunfo; por toda a parte consegue fazer com que os povos e as autoridades se decidam pela revolução; e quando julga oportuno, volta a Maceió, freta uma balsa, e se dirige para a Bahia.
“Abreu e Lima, sem embargo de seus variados conhecimentos, era homem, como todos os seus correligionários, inexperiente dos manejos ocultos das revoltas; sem nenhum disfarce apresentou-se sempre, desde que saiu do Recife, como se fosse o emissário de um governo autorizado. Ainda antes da sua marcha, sabia-se geralmente qual era a sua missão e dela tinha sido informado o Conde dos Arcos na Bahia com muita antecipação; assim foi que ao saltar em terra no lugar da barra, foi logo preso e conduzido à cadeia da cidade.
“Por uma espécie de pressentimento teve ele o bom acordo de lançar à água todos os papéis, que levava consigo, não só proclamações como várias cartas para indivíduos relacionados com os liberais de Pernambuco; mas isto só serviu para alentar na covardia aqueles mesmos, que o deixaram sacrificar sem nenhuma mostra de gratidão. O Conde dos Arcos tinha já em seu poder o corpo de delito, que era a ata da eleição do governo provisório de Pernambuco, na qual seu nome aparecia em segundo lugar. Verificada a identidade da pessoa, foi julgado por uma comissão militar, condenado à morte, e fuzilado no dia 29 de Março no Campo da Pólvora” (op. cit. pp. 283-284).
Neste momento de seu texto histórico, o general Abreu e Lima introduz uma nota pessoal candente, por aquilo que preserva e condensa de nossa História:
“Meu pai foi preso ao anoitecer de 26 de março; no dia seguinte fizeram-se todas as perguntas do costume, confrontação de testemunhas, e nomeou-se a Comissão Militar, que o devia julgar; no dia 28 foi condenado à morte, e passou para o Oratório às três horas da tarde; foi fuzilado às oito da manhã do dia 29.
“No momento em que escrevo estas linhas, assalta-me todo o horror daquela tremenda noite, em que fui quase companheiro da vítima: era eu que parecia o condenado, e não ela. Tenho visto morrer milhares de homens nos campos de batalha, e muito nos suplícios, mas nunca presenciei tanta coragem, tanta abnegação da vida, tanta confiança nos futuros destinos da sua pátria, tanta resignação enfim; era meu pai quem me animava, porque eu parecia inconsolável: uma mão de ferro me arrancava o coração; meu pranto e minha dor comoviam a todos os que se achavam presentes; era mister separar-me então para dar alívio às minhas lágrimas, e me conduziam à outra prisão, donde voltava depois a poder de minhas súplicas, até que foi forçoso arrancarem-me de seus braços para sempre.
“Uma circunstância mais que todas vinha de quando em quando agravar essa espécie de martírio, com que os algozes de meu pai queriam amargurar ainda mais seus últimos instantes: meu irmão Luiz, moço de compleição mui débil e delicada, fora preso em sua companhia, e achava-se metido em um dos imundos calabouços do Oratório chamados segredo. Nu em carne, e estendido sobre a lama, mais parecia um espectro do que ser vivente; coberto de lodo, faziam-no sair algumas vezes para que meu pai o visse: nesse momento terrível para seu coração de pai, parecia comovido, beijava a meu irmão, e como para distrair-se, dirigia a palavra a algum dos sacerdotes, que o acompanhavam. Contudo essa prova tremenda de brutal ferocidade não fez desmentir um só instante sua resignação como filósofo nem como cristão.
“Chegando ao lugar do suplício, fez um pequeno discurso alusivo à sua situação, e desculpando os soldados do ofício de algozes; depois pediu-lhes que atirassem com sangue frio para não martirizá-lo, e levando ambas as mãos algemadas ao peito, fez delas o alvo de seus tiros.
“Durante o Conselho protestou contra a sua competência, defendeu-se sem inculpar ninguém, e negou-se a todas as sugestões, que lhe fizeram, para descobrir o objeto da sua missão; no Oratório ninguém lhe ouviu uma queixa contra pessoa alguma, e no lugar do suplício excedeu em longanimidade a todos quantos o precederam na mesma desgraçada sorte. ‘Os baianos viram como morreu o homem livre; a lição devia ficar-lhes impressa’.” (J.I. de Abreu e Lima, “Compendio de História do Brasil”, Tomo 1, Laemmert, Rio, 1843, pp. 284-285).
EMANCIPADA
Durante a Revolução da Independência, os homens que participaram ou foram tocados – de um modo ou de outro – pela Revolução de 1817, e o banho de sangue que a afogou, parecem fazer o balanço dos erros e acertos, para que os primeiros não se repetissem em 1822.
Nenhum deles formulou a questão dessa maneira – que parece mais própria, sob essa forma, às revoluções do século XX. Mas isso foi verdade, independente da formulação, não apenas para Antônio Carlos de Andrada, Muniz Tavares, e, inclusive, Cipriano Barata – mas também para os que, como o irmão mais velho de Antônio Carlos, José Bonifácio, viram de longe a Revolução de 1817 (no caso de Bonifácio, de Portugal, onde residia desde 1783), e até não concordando com ela, como, explicitamente, Hipólito José da Costa em seu Correio Braziliense.
Numa carta a Pedro de Araújo Lima – o futuro marquês de Olinda – em que demonstra sua irritação com José Bonifácio, Gonçalves Ledo escreveu:
“Fui ao Paço no dia 4 deste [quatro de outubro de 1822] chamado por um recado escrito pelo Imperador, que me ofereceu o título de ‘Marquês da Praia Grande’. O Conselheiro José Bonifácio, sabendo que ainda no ano passado era eu republicano e que agora trabalho por uma monarquia constitucional, sem nobreza outra senão a dos sentimentos, certo teve parte neste convite, que reputo ofensivo à minha dignidade. Imediatamente agradeci a S.M. permitisse recusar o título nobiliárquico, dizendo-lhe que não o merecia, e não desejava. Interveio o Conselheiro com estas palavras: ‘Ora, Sr. Ledo, é um prêmio aos seus serviços no jornal e na Maçonaria, em favor da Independência’. Afirmei que não podia aceitar e que o melhor título para mim seria o de brasileiro patriota e homem de bem, contentando-me com a nobreza do coração…”
Examinaremos, mais à frente, o conflito entre o grupo de Ledo e os Andradas. Aqui, o que queremos frisar é: o que fez um homem como Ledo, republicano ainda em 1821, e maçom, “trabalhar por uma monarquia constitucional” em 1822?
Obviamente, a situação política – mas a esta não estranha a herança de 1817.
Quanto ao Andrada mais velho, José Bonifácio, seu discurso de despedida na Academia de Ciências, em Lisboa, a 24 de junho de 1819, parece conter um reflexo daqueles acontecimentos – pelos quais um de seus irmãos estava (e continuaria, até 1821) preso na Bahia.
Depois de falar da união cultural entre o Brasil e Portugal, disse José Bonifácio aos seus colegas acadêmicos lusitanos: “consola-me igualmente a lembrança de que de vossa parte pagareis a obrigação em que está todo o Portugal para com a filha emancipada, que precisa de pôr casa”.
A “filha emancipada” era, evidentemente, o Brasil. Mas o Brasil não estava “emancipado” – embora fosse elevado a Reino, unido aos de Portugal e Algarves, em dezembro de 1815, depois que, no Congresso de Viena, a questão fora discutida pela Inglaterra, França e demais potências europeias. A iniciativa partiu do representante francês, Talleyrand.
[NOTA: Em seu livro sobre D. João VI, Oliveira Lima atribui essa versão a Mello Moraes – o que geralmente torna duvidosa qualquer versão – e ainda acrescenta: “sem documentos aliás que comprovem sua asserção”. No entanto, o próprio Oliveira Lima, logo em seguida, escreve que “o fato encontra-se realmente assim na correspondência reservada dos plenipotenciários portugueses ao Congresso de Viena” – e acaba por confirmar o que antes colocara em dúvida (cf. Oliveira Lima, D. João VI no Brasil, primeiro volume, Typ. do Jornal do Commercio, Rio, 1908, pp. 519 e segs.). O fato é que a expressão “Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves” apareceu pela primeira vez no “tratado de 8 de abril de 1815, assinado em Viena entre aqueles representantes de Portugal e os da Inglaterra, pelo qual o primeiro desses países se obrigava a aceder a todas as estipulações aceitas pelas grandes potências no tratado de 25 de março do mesmo ano” (cf. Tobias Monteiro, op. cit., p. 349). D. João VI, que estava no Rio de Janeiro, não foi consultado. Mas legalizou a situação oito meses depois, de acordo com o acertado em Viena.]
Voltemos a José Bonifácio: além do que já foi dito, tratar o seu país de origem no feminino – logo ele, um admirador dedicado das mulheres – não parece um acaso, ainda que possa ser inconsciente: a expressão que nos ocorre, ao ler essas palavras, naturalmente, é “nação brasileira”.
Certamente, tal evocação pode ser apenas uma espécie de miragem, causada pelo fato de que nos localizamos, no tempo, quase 200 anos após o discurso de José Bonifácio, quando a “nação brasileira” tem uma história que não tinha naquela época.
Pode ser. Mas o seguinte trecho, do mesmo discurso de despedida, em 1819, não parece casual:
“E que país esse, senhores, para uma nova civilização e novo assento da ciência! Que terra para um grande e vasto Império!” (v. “O Patriarca da Independência – José Bonifácio de Andrade e Silva”, CEN, 1939, p. 14).
5
A questão de que o Brasil poderia constituir, ou constituiria, um “novo império”, tão presente nas ideias de José Bonifácio ainda antes de voltar ao país natal – e também nas ideias de Hipólito José da Costa – torna necessário uma nota de caráter historiográfico sobre a época de D. João VI, ainda que correndo o risco de colocar o carro na frente dos bois – já que não encerramos a questão da dependência lusitana, a base econômica inicial de todo esse período da História.
Hoje, é predominante a revisão, efetuada por Oliveira Lima, essencialmente simpática a D. João VI e ao período em que o Brasil o abrigou.
Esquece-se, com frequência, a outra posição historiográfica, anterior ao livro de Oliveira Lima, publicado em 1908 (“D. João VI no Brasil”).
Esta outra posição é mais ligada ao movimento republicano recém vitorioso no Brasil, e teve em João Ribeiro, com sua “História do Brasil” para o curso superior, de 1900, o seu expoente mais desenvolvido.
João Ribeiro, às vezes, é lembrado como gramático ou filólogo. Ou, mais raramente, como um crítico literário que conseguiu enxergar no romance nordestino algo que ele ainda não realizara – João Ribeiro faleceu em 1934 – ou somente realizara em parte. É verdade que, para apreciar o romance nordestino, ele, nascido em Sergipe, estava mais capacitado que a maioria dos homens de letras da época.
Apesar do esquecimento, que apenas reflete o obscurantismo acadêmico, João Ribeiro foi um dos mais importantes ensaístas daquele período que é conhecido como “República Velha”. Para alguns, como Agripino Grieco – um crítico que não é conhecido pelo elogio fácil – Ribeiro foi o maior ensaísta da História do país até a década de 30 do século XX.
Depois de frisar os avanços que o Brasil conseguiu após a mudança de D. João para o Brasil, Ribeiro escreve:
“Se vindo para o Brasil, D. João VI nos trouxe o inestimável prêmio da autonomia, embora ainda sob as formas do absolutismo, entretanto não havia na mesquinheza do seu espírito dotes suficientes para criar como logo disse ‘um novo império’. Desmazelado, fútil e colocando vulgares diversões acima dos encargos do governo, ignorante da nova situação que a sua falta de heroísmo lhe criara, tendo preferido servir aos interesses ingleses que coincidiam com a poltroneria própria, a sucumbir com a pátria, aqui chegando no ambiente da América ainda mais olvidou a dignidade de sua posição.
“Foi ele entre nós o que desmoralizou a instituição monárquica, já de si mesmo antipática às aspirações americanas, supondo infiltrar-lhe o alento democrático que já na Europa começava a temperar as realezas rudes e guerreiras de outro tempo. Mas sem capacidade para essa delicada adaptação comprometeu para sempre o prestígio do antigo instituto. As antigas dignidades a que estavam ligados os méritos, os serviços, a responsabilidade ou a virtude, foram logo esbanjadas entre pessoas equívocas e nulas. Tal foi o excesso dessa liberalidade, diz Armitage, que no período da sua administração concedeu mais insígnias honorárias do que todos os soberanos da sua dinastia conjuntamente.
“Honras e dignidades monárquicas, com a perda do sentimento da hierarquia e do mérito, tornaram-se logo ridículos no ridículo dos seus indignos possuidores. Os bajuladores e favoritos, e a numerosa comitiva do rei, aos milhares, sem trabalho aquinhoaram-se em empregos novamente criados, pela prodigalidade insensata da corte, que via nesse improviso dos personagens uma necessidade do seu culto externo. Desde logo, com tão perverso oficialismo que se derramou pelas capitanias, renasceu com estranho vigor a antiga corrupção e a venalidade dos magistrados e funcionários, e parecia-se voltar àquele tempo em que Frei Manoel do Salvador dizia serem quatro caixas de açúcar as bastantes para vergar a vara da justiça. E assim escoavam por um lado as vantagens que por outro tinham vindo da emancipação colonial, e não seria temerário afirmar que apenas os abusos da metrópole haviam mudado agora os seus arraiais para mais perto.
(…)
“Milhares de pessoas alheias e indiferentes à religião ou aos deveres militares eram feitas subitamente cavaleiros de Santiago ou comendadores de Cristo, ofendendo assim o decoro da tradição, menoscabando o espírito das instituições e fazendo grande mal aos próprios agaloados, merceeiros ou rústicos que empavesados com os novos títulos, abandonavam o trabalho útil e por si ou sua descendência encostavam-se ao orçamento.
“Essa nobreza nova, muito mais odiosa e principalmente mais corrupta que a antiga, e que recaía sobretudo nos homens do comércio português, contribuía ainda mais para afundar o sulco de antagonismo entre os portugueses e os nacionais, que começavam a ver na monarquia a velha usurpação tradicional, que nenhuma necessidade aconselhava transplantar para o novo solo. O próprio constitucionalismo parecia-lhes uma nova insídia e preferiam vencer a converter o antigo gentilismo político” (cf. João Ribeiro, “História do Brasil, 2ª edição, Liv. Cruz Coutinho, Rio, 1901, pp. 308-310).
E, logo adiante:
“Se pois os portugueses, tardos e lentos embora, já se preparavam para a democratização da monarquia pelo espírito do constitucionalismo que clareava no horizonte, por outra parte os mamelucos, antiquários das liberdades, apologistas da revolução americana e da convenção francesa, seguiam isoladamente a sua corrente radical. A reforma política dos brancos, dos filhos do reino, surgirá em 1820 com o constitucionalismo europeu; a reforma radical dos nacionais, com todos os matizes da população, fará explosão em 1817; em verdade não sentem estes a necessidade de tornar progressiva a monarquia e de melhorar o alheio instrumento da sua opressão; não hesitam em subverter a ordem para salvar o princípio teórico e igualmente duvidoso acreditando que a filosofia pode criar mais solidamente que a história”.
Valeria a pena, em outro trabalho, abordar a teoria histórica esboçada por João Ribeiro. Aqui, é suficiente citar as suas palavras na introdução à primeira edição de seu livro sobre a História do Brasil: “nas suas feições e fisionomia própria, o Brasil, o que ele é, deriva do colono, do jesuíta e do mameluco, da ação dos índios e dos escravos negros”.
Não era algo óbvio, na época em que essas palavras foram escritas.
Mais de 50 anos depois, em sua importante obra sobre a República (“História da República”, com edições revisadas pelo autor de 1940 a 1954), José Maria Bello iria insistir, ainda, na superioridade dos brancos e na sua maior importância para a História do nosso país, em relação aos negros, índios – e, por consequência, também em relação aos mestiços, mulatos ou mamelucos.
PANOS E VINHOS
O quadro de decadência da monarquia portuguesa tinha uma relação direta com a dependência de Portugal da economia inglesa – com a consequente submissão política que mantinha essa dependência econômica.
Já nos referimos ao agravamento dessa dependência, após os tratados de 1810, mas isso não é suficiente para um quadro, historicamente, mais próximo da realidade. Portanto, é preciso voltar um pouco – ao tratado de Methuen, de 1703 – para uma percepção mais nítida dessa subordinação.
O Tratado de Panos e Vinhos ficou conhecido como Tratado de Methuen porque esse era o nome do embaixador inglês – John Methuen – que distribuiu propinas entre a nobreza lusitana e membros do governo português, para consegui-lo.
Por esse tratado, Portugal escancarou seu território – e o de suas colônias, como o Brasil – aos produtos industrializados ingleses, em troca de uma “abertura” supostamente semelhante (na verdade, totalmente falsa, ilusória, fantasiosa) para os vinhos portugueses no mercado inglês.
Mesmo se os ingleses cumprissem o tratado – o que jamais fizeram, pois até na época de Napoleão, em pleno bloqueio continental, a Inglaterra preferia importar vinhos da França – ele seria um desastre (como, aliás, foi) para os portugueses.
Antes de tudo, porque a diferença de valor entre as importações portuguesas de produtos industrializados (sobretudo tecidos) e as exportações de vinhos para a Inglaterra, colocou o país diante de um déficit comercial crescente, somente coberto pela exploração das riquezas naturais (ouro, sobretudo, e também diamantes) do Brasil e outras colônias.
Assim, a dependência da Inglaterra levou a uma crise quase permanente em Portugal e suas colônias.
PARA TRÁS
O Tratado de Methuen teve o efeito não apenas de travar o desenvolvimento manufatureiro português – e, consequentemente, o brasileiro – mas também o de destruir o início de produção manufatureira que já ocorrera no país. Nas palavras de um autor português do século XIX:
“É necessário notar que, tendo-se estabelecido, como já disse, a primeira fábrica de panos em Portugal em 1681, após desta se estabeleceram outras de hábeis fabricantes estrangeiros, não só de panos, mas de vários gêneros de manufaturas, e em junho de 1684, foi proibida (conforme o projeto do excelente patriota ministro Conde da Ericeira) a importação nos nossos portos, de todas as fazendas de lã estrangeira.
“Com esta sábia e patriótica providência, foram os portugueses tão bem sucedidos e as suas manufaturas de lã aumentaram, e a tal ponto se aperfeiçoaram, que tanto Portugal como o Brasil foram inteiramente supridos pelas fábricas nacionais, sendo as matérias primas desta manufatura lãs portuguesas e espanholas.
“Tal era a situação próspera do fabrico de panos em Portugal; mas esta prosperidade não era possível durar muito tempo: tal tem sido a má estrela, que sempre tem perseguido a infeliz Nação Portuguesa, essa estrela do Norte, ou para falarmos mais claro, essa estrela da Grã-Bretanha, nossa aliada invejosa e cheia de emulação pela nossa prosperidade.
“Ela não se descuidou de fazer com que o tirânico, imbecil e anti-patriota Governo Português, anuísse a suas pretensões, tornando a admitir, pelo sobredito Tratado de Methuen, as fazendas de lã britânica, depois de uma exclusão de 20 anos, e isto a desprezo das instâncias e justas queixas dos nossos fabricantes, cujos estabelecimentos ficaram por isso arruinados!” (cf. Francisco de Assis Castro e Mendonça, “Memória Histórica Acerca da Pérfida e Traiçoeira Amizade Inglesa”, Typ. Faria e Silva, Porto, 1840, pp. 50-51).
A LOUCA
Em janeiro de 1785, quando Maria I, a Louca, proibiu as fábricas no Brasil, era ao regime do Tratado de Methuen que ela estava se submetendo. Este decreto (“alvará”) tem, aliás, uma redação muito interessante, do ponto de vista da história da submissão da monarquia lusitana:
“… sendo-me presente o grande número de fábricas, e manufaturas, que de alguns anos a esta parte se tem difundido em diferentes capitanias do Brasil, com grave prejuízo da cultura, e da lavoura, e da exploração das terras minerais daquele vasto continente; porque havendo nele uma grande e conhecida falta de população, é evidente, que quanto mais se multiplicar o número dos fabricantes, mais diminuirá o dos cultivadores; e menos braços haverá, que se possam empregar no descobrimento, e rompimento de uma grande parte daqueles extensos domínios, que ainda se acha inculta, e desconhecida: nem as sesmarias, que formam outra considerável parte dos mesmos domínios, poderão prosperar, nem florescer por falta do benefício da cultura, não obstante ser esta a essencialíssima condição, com que foram dadas aos proprietários delas.
“E até nas mesmas terras minerais ficará cessando de todo, como já tem consideravelmente diminuído a extração do ouro, e diamantes, tudo procedido da falta de braços, que devendo empregar-se nestes úteis, e vantajosos trabalhos, ao contrário os deixam, e abandonam, ocupando-se em outros totalmente diferentes, como são os das referidas fábricas, e manufaturas.
“… e consistindo a verdadeira, e sólida riqueza nos frutos, e produções da terra, as quais somente se conseguem por meio de colonos, e cultivadores, e não de artistas, e fabricantes: e sendo além disto as produções do Brasil as que fazem todo o fundo, e base, não só das permutações mercantis, mas da navegação, e do comércio entre os meus leais vassalos habitantes destes reinos, e daqueles domínios, que devo animar, e sustentar em comum benefício de uns, e outros, removendo na sua origem os obstáculos, que lhe são prejudiciais, e nocivos.
“… em consideração de tudo o referido: hei por bem ordenar, que todas as fábricas, manufaturas, ou teares de galões, de tecidos, ou de bordados de ouro, e prata. De veludos, brilhantes, cetins, tafetás, ou de outra qualquer qualidade de seda: de belbutes, chitas, bombazinas, fustões, ou de outra qualquer qualidade de fazenda de algodão ou de linho, branca ou de cores: e de panos, baetas, droguetes, saietas ou de outra qualquer qualidade de tecidos de lã; ou dos ditos tecidos sejam fabricados de um só dos referidos gêneros, ou misturados, tecidos uns com os outros; excetuando tão somente aqueles dos ditos teares, e manufaturas, em que se tecem, ou manufaturam fazendas grossas de algodão, que servem para o uso, e vestuário dos negros (…)
“… todas as mais sejam extintas, e abolidas em qualquer parte onde se acharem nos meus domínios do Brasil, debaixo da pena do perdimento, em tresdobro, do valor de cada uma das ditas manufaturas, ou teares, e das fazendas, que nelas, ou neles houver, e que se acharem existentes, dois meses depois da publicação deste; repartindo-se a dita condenação metade a favor do denunciante, se o houver, e a outra metade pelos oficiais, que fizerem a diligência; e não havendo denunciante, tudo pertencerá aos mesmos oficiais”.
No entanto, houve, antes de Dª Maria, a louca, uma tentativa de mudar essa situação. Oliveira Lima chamaria a essa tentativa, muito justamente, de “lampejo pombalino”, em virtude do homem que a empreendeu: o marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Mello, principal ministro de D. José I.
6
Os homens que lideraram a revolução da Independência, a começar por José Bonifácio, formaram-se sob a luz da reforma do marquês de Pombal, que subsistiu, na Universidade de Coimbra, mesmo depois da queda de seu patrono, em 1777, e de sua morte, em 1782.
Alguns desses homens, na geração posterior à de José Bonifácio, formaram em Coimbra uma sociedade republicana, a Gruta, inclusive alguns que seriam, de volta ao Brasil, baluartes indubitáveis da monarquia – como os futuros marquês do Paraná (Honório Hermeto Carneiro Leão), visconde de Uruguai (Paulino José Soares de Souza), visconde de Sepetiba (Aureliano de Souza e Oliveira), visconde de Itaboraí (Joaquim José Rodrigues Torres), visconde de Rio Grande (José de Araújo Ribeiro), conde de Serjimirim (Antonio da Costa Pinto) e até o futuro marquês de Muritiba (Manoel Vieira Tosta), ferrenho porta-voz do escravagismo no Senado do Império (cf. o testemunho de José Pedroso de Albuquerque, um dos membros da Gruta, que foi ministro da Justiça da república farroupilha, in Fernando Luís Osório, “História do General Osório”, 1º vol., G. Leuzinger & Filhos, Rio, 1894, p. 276).
MUDANÇAS
Considerando a carga ideológica acumulada contra o marquês de Pombal nos últimos 250 anos, é preciso explicitar – ou, pelo menos, é útil, para o estudo da nossa Independência – o seu significado histórico.
Em 1882, discursando em homenagem ao centenário do marquês de Pombal, o nosso Rui Barbosa disse que o “defeito real” do estadista português “consistia em ser descompassadamente superior à sociedade a que o nascimento o condenara” (cf. Rui Barbosa, Obras Completas, vol. IX, tomo 2, p. 220).
Lembrou Rui que “em 1772, por um só ato, [Pombal] instituiu 837 cadeiras públicas de instrução primária e secundária” e comentou: “Imaginai, no meio do marasmo nacional daquele tempo, o arrojo inconcebível dessa medida, que inaugurava a escola essencialmente popular, firmando o princípio da gratuidade do ensino”.
“Quatro anos antes”, continuou Rui Barbosa, “principiara esse impulso com a reforma da Universidade de Coimbra. Por toda a superfície da península, a instrução cientifica não existia. Em 1786 um célebre escritor castelhano, comparando as matemáticas à alquimia, ufanava-se da ignorância delas em sua pátria, como sinal irrefragável da sua superioridade sobre as outras nações. Nos meados desse século não havia em toda a Espanha um químico prático. Mais de cento e cinquenta anos depois de Harvey ainda se desconhecia ali a circulação do sangue. A Universidade de Salamanca, em 1771, recusara entrada, pública, desdenhosa e terminantemente, aos descobrimentos de Newton, Gassendi e Descartes, por se não coadunarem com Aristóteles. Em Portugal os estudos universitários vegetavam sob a rotina teológica, do mesmo modo como os colégios eram monopólio das ordens religiosas, e as raras escolas primárias não passavam, digamos assim, de estabelecimentos diocesanos, sob a direção dos clérigos e a inspeção dos bispos” (Rui Barbosa, op. cit., pp. 218-219, grifo nosso).
E, resumindo a reforma pombalina em Coimbra:
“Num breve espaço de tempo, surgiram oitenta cadeiras de ciências, de humanidades, de artes de aplicação; estabeleceu-se um observatório; levantaram-se museus de história natural, de instrumentos químicos, de medicina. (…) Ele [Pombal] discerniu admiravelmente o automatismo da pedagogia jesuítica; empreendeu seriamente libertar a instrução da curatela clerical; reconheceu à ciência a sua dignidade no ensino; aos professores cometeu contra a sua época o absurdo monstruoso de estender foro de fidalguia, e iniciou o pensamento, praticado hoje em grande escala pelos povos mais livres, digno de adoção em todos, de um imposto que constitua o patrimônio inviolável da instrução popular” (Rui Barbosa, idem, pp. 219-220).
Aqui, correndo mais uma vez o risco de alongarmo-nos demasiado em uma citação, se poderá sentir o motivo de todo o ódio que Pombal suscitou entre a sebosa, falida, arrogante – e, ao mesmo tempo, subserviente – aristocracia e seus porta-vozes literários:
“Sua audácia centuplica-se em altanadas criações, uma após outras. Dá para a liberdade da palavra e a emancipação da imprensa o primeiro passo, secularizando a censura, e abolindo o Índice [o Index Librorum Prohibitorum da Igreja Católica]. Leva a ação repressiva das leis ao recesso, até então inviolável, dos conventos, fazendo penetrar a justiça nas enxovias monásticas, antigo receptáculo de perversidades indescritíveis. Extingue, em matéria tributária, as imunidades clericais. Da infinidade de confrarias que, em prejuízo do trabalho e dos costumes públicos, inundavam o reino, deixa apenas quatro. Põe termo peremptoriamente à ignomínia de uma especulação inveterada, que se praticava com as filhas das melhores famílias brasileiras, expatriadas daqui sob o pretexto de educarem-se, para se condenarem na metrópole à torpe clausura dos conventos. Contém o abuso dos legados a estabelecimentos religiosos, monomania geral, que explorava as famílias, nutrindo a ociosidade e o fanatismo. Amplia as leis de amortização. Desfecha golpe fatal na instituição dos morgados. Acaba com a iniquidade da prisão por dívidas contra os devedores de boa-fé. Proclama a nobreza da profissão comercial, para cujo desenvolvimento se esforça, com a sua eficácia habitual, instituindo o ensino dessa especialidade. Inaugura o princípio da concorrência e igualdade de todos os cidadãos perante os cargos do Estado, abolindo o direito consuetudinário, que consagrava a hereditariedade dos empregos” (Rui Barbosa, idem, pp. 220-221).
DIPLOMACIA
Pombal não era homem de encenações ou de medidas ilusórias. Não hesitou em executar o duque de Aveiro, os marqueses de Távora e o conde de Atouguia, em 1759, para quebrar a resistência feudal à sua política (não estamos, aqui, discutindo a culpabilidade pessoal, ou não, dos sentenciados; é evidente que o atentado contra D. José I, pelo qual foram condenados, foi uma forma desesperada de resistência da alta nobreza; mesmo a revisão do processo, após a queda de Pombal, não conseguiu, apesar de todos os esforços da Corte – e da rainha, Dª Maria I – chegar a uma absolvição geral; v. os documentos em “O Processo dos Távoras”, publicado pela Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa, 1921).
Também não hesitou em proibir os “autos de fé” da Inquisição e a condenação à morte por motivos religiosos, em expulsar os jesuítas de Portugal – e do Brasil – e até o Núncio, isto é, o embaixador do Papa (a propósito, em 1768, respondendo ao governo inglês, que se queixava de sua política de estabelecer companhias comerciais de caráter estatal no Pará e no Maranhão, refere-se Pombal aos “sertões habitados por homens brutos, e silvestres, que os jesuítas conservavam na infeliz ignorância de que havia outros homens civis, que andavam vestidos, e calçados. (…) não podia haver agricultura, nem comércio; mas tão somente escravidão, calamidades, e misérias (…). Antes da dita companhia não foram, nem podiam ir ao Maranhão naquelas circunstâncias os 15, ou 16 navios cada ano, como se alega; muito pelo contrário só 3, 4 até 5 pequenas, e insignificantes embarcações iam anual ou bienalmente buscar os cacaus, e mais frutos silvestres, que os jesuítas faziam extrair dos sertões mais remotos pelos índios nus, e descalços, que gemiam debaixo do jugo da sua escravidão; e trazer cabedais, que os mesmos jesuítas portugueses remetiam pelos ditos sertões, a outros jesuítas, espanhóis de muito remotas distâncias” – cf. “Cartas e Outras Obras Selectas do Marquez de Pombal”, Tomo II, 5ª ed., Costa Sanches, Lisboa, 1861, pp. 23-24).
A reforma universitária de Pombal, para eliminar a escolástica medieval que sufocava o ensino português, foi radical: ele demitiu todos os professores – a maior parte eram jesuítas – e admitiu outros (um pequeno resumo da reforma pombalina é o de Eunicélia de Fátima Carneiro da Silva em “Memória sobre a Vida, Obra e o Pensamento Político-Jurídico de José Bonifácio de Andrada e Silva (1783-1823)”, Universidade de Coimbra, 2015; o texto é importante, mesmo que, em sua consideração sobre o “estatismo e regalismo” de Pombal, seja claramente conservador).
Vejamos agora a questão da dependência em relação à Inglaterra, através do que poderia ser um incidente pequeno – em um governo de mais de duas décadas.
Depois que, em mar territorial lusitano, a marinha inglesa atacou navios franceses – que eram, na Guerra dos Sete Anos, inimigos da Inglaterra, mas não de Portugal – escreveu Pombal (na época, conde de Oeiras) a William Pitt, primeiro-ministro da Inglaterra:
“Eu sei que o vosso gabinete tem tomado um império sobre o nosso; mas sei também que já é tempo de o acabar; se meus predecessores tiveram a fraqueza de vos conceder tudo quanto queríeis, eu nunca vos concederei senão o que devo. É esta a minha última resolução; regulai-vos por ela” (cf. “Cartas e Outras Obras Selectas do Marquez de Pombal”, Tomo I, ed. cit., p. 5).
Na carta seguinte para Pitt, diz o futuro marquês de Pombal:
“Eu rogo a v. ex. que me não faça lembrar das condescendências, que o governo português há tido com o governo britânico; elas são tais, que não sei que potência alguma as haja tido semelhantes com outra. Era justo que essa autoridade acabasse alguma vez, e que fizéssemos ver a toda a Europa que tínhamos sacudido um jugo estrangeiro. Não o podemos melhor provar do que pedindo ao vosso governo uma satisfação que por nenhum direito nos deve negar. A França nos consideraria no estado de maior fraqueza se lhe não déssemos alguma razão do estrago que sofreu a sua esquadra em as nossas costas marítimas, onde por todos os princípios se devia julgar em segurança.”
Na terceira carta a Pitt, então, encontra-se o mais nítido – e, convenhamos, dramático – retrato de Portugal após o Tratado de Methuen:
“Vós fazíeis bem pequena figura na Europa, quando nós já a fazíamos mui grande. Vossa ilha apenas formava um pequeno ponto, sobre a carta geográfica, ao passo que Portugal quase a enchia toda com seu nome.
“Nós dominávamos em Ásia, África, e América, e entretanto vós não domináveis senão em uma pobre ilha da Europa: vosso poder era do número daqueles que só podia aspirar aos da segunda ordem; mas por os meios que vos temos dado, pudestes elevar-vos a uma potência da primeira ordem. Vossa fraqueza física vos privava de estender vosso domínio além dos limites da vossa ilha: porque para fazer conquistas vos era necessária uma grande armada; mas para ter uma grande armada é preciso poder-lhe pagar, e vós não tínheis o numerário para isso. Os que tiverem calculado vossas qualidades naturais no tempo da grande revolução da Europa devem ter visto que não tínheis então com que sustentar seis regimentos de infantaria. Nem o mar, que se pode reputar vosso elemento, vos oferecia então maiores recursos: apenas podíeis equipar vinte navios de guerra.
“Há cinquenta anos a esta parte tendes tirado de Portugal mil e quinhentos milhões, soma enorme, e tal, que a história não aponta igual com que uma só nação tenha enriquecido outra. O modo de haver estes tesouros vos tem sido mais favorável ainda, que os mesmos tesouros: porque é por meio das artes [isto é, da produção manufatureira] que a Inglaterra se tem tornado senhora de nossas minas, e nos despoja, regularmente de seu produto.
“Um mês depois que a frota do Brasil chega, já dela não há uma só moeda de ouro em Portugal; grande utilidade para Inglaterra, pois que continuamente aumenta sua riqueza numerária: e a prova é, que a maior parte de seus pagamentos de banco se fazem com o nosso ouro, por efeito de uma estupidez nossa, de que não há exemplo em toda a história universal do mundo econômico.
“Assim permitimos nós, que nos mandeis nosso vestuário, bem como todos os objetos de luxo, que não é pouco considerável; e assim, damos emprego a quinhentos mil vassalos del-rei Jorge, população, que à nossa custa se sustenta na capital de Inglaterra.
“Também são vossos campos os que nos sustentam; e são vossos lavradores os que substituem os nossos, quando em tempos antigos éramos nós quem vos fornecia os mantimentos; mas a razão é que enquanto vós roteáveis vossas terras, deixávamos nós ficar as nossas sem cultura.
“Contudo se nós somos os que vos temos elevado ao maior grau de vossa grandeza, também nós somos os únicos que dele vos podemos derribar. Muito melhor podemos nós passar sem vós, do que vós podeis passar sem nós: uma só lei pode transtornar vosso poder, e diminuir vosso império. Não temos mais do que proibir com pena de morte a saída de nosso ouro, e ele não sairá.
“Verdade é que a isto podeis responder-me que, apesar de todas as proibições, ele sempre sairá, como tem saído, porque vossos navios de guerra têm o privilégio de não serem registrados na sua saída: mas não vos enganeis com isso: se eu fiz com que se degolasse um duque de Aveiro, porque atentou contra a vida del-rei Nosso Senhor, mais facilmente farei enforcar um dos vossos capitães por levar sua efígie contra o determinado por a lei.
“Há tempos em que nas monarquias um só homem pode muito. Vós sabeis que Cromwell, em qualidade de protetor da república inglesa, fez morrer o irmão do embaixador del-rei fidelíssimo: sem ser Cromwell eu me sinto também com poder de imitar o seu exemplo, em qualidade de ministro, protetor de Portugal. Fazei logo o que deveis, que eu não farei tudo quanto posso.
“Em que viria a parar a Grã-Bretanha se por uma vez se lhe cortassem as fontes das riquezas da América? Como pagaria ela suas tropas de terra, e de mar: e como daria a seu soberano os meios de viver com o esplendor de um grande rei? E mais ainda: donde tiraria ela os subsídios com que paga às potências estrangeiras para apoiarem a sua?
“Um milhão de vassalos ingleses perderia em um momento a sua subsistência, se de repente para eles acabasse a mão de obra de que se sustentam; e o reino de Inglaterra passaria por certo a grande estado de miséria, se esta origem de riquezas lhe faltasse. Portugal não precisa mais, do que regular seu sustento: e fazendo assim, a quarta parte da Inglaterra morrerá de fome.
“Bem verdade é, que me podeis dizer que a ordem das coisas não se muda tão facilmente como se diz; e que um sistema estabelecido depois de muitos anos não se muda em uma hora: assim é; porém posso-vos responder, que não deixando eu perder a ocasião oportuna de preparar esta reforma, não me é difícil no entanto estabelecer um plano de economia que conduza ao mesmo fim.
“Há muito tempo que a França nos convida para lhe recebermos suas manufaturas de lã: e se as recebermos, que será das vossas? Também a Barberia [costa dos atuais Marrocos, Argélia, Tunísia e Líbia], que abunda em trigos, no-los pode fornecer por o mesmo preço: e então vereis com extrema mágoa como vossa marinha gradualmente se extingue. Vós, que tão versado sois na política do ministério, sabeis muito bem que a marinha mercante é o viveiro de oficiais e maruja da marinha real; e só com esta, e aquela, tendes feito toda a vossa grandeza.
“A satisfação que vos peço é conforme com o direito das gentes. Sucede todos os dias que os oficiais de mar, e terra, façam por zelo, ou ignorância, o que não deviam fazer; é portanto a nós que pertence o puni-los e fazer emendar, e remediar os danos que eles têm causado. Nem se deve julgar que estas reparações ficam mal ao Estado que as faz: ao contrário, sempre é mais bem estimada aquela nação que de boamente se presta a fazer tudo o que é justo. Da boa opinião dependeu sempre o poder; e a força das nações” (idem, pp. 6-9).
Pode parecer estranho que um governante português dirigisse essas cartas ao primeiro-ministro inglês, não porque faltasse com a verdade, mas pela concepção adocicada e submissa que alguns têm, hoje, do que se chama “diplomacia”.
Pombal, no entanto, durante o reinado de D. João V, fora – durante sete anos – embaixador de Portugal em Londres. Jamais aprendeu inglês, mas conhecia bem a linguagem que a aristocracia inglesa entendia.
Depois desta última carta, a Inglaterra desembarcou em Lisboa um enviado especial – para pedir desculpas pelo ataque à esquadra francesa em mar português.
7
A dependência – melhor seria dizer: a submissão – de Portugal à Inglaterra foi a condição de fundo em que se realizou a Independência do Brasil. O conflito com as Cortes de Lisboa foi, fundamentalmente, um conflito com a dependência portuguesa.
O pronunciamento dos homens da Independência era claro sobre essa questão, ainda que muitas vezes de modo indireto. Por exemplo, escreveu José Bonifácio, já em agosto de 1822 – portanto, antes da proclamação oficial da Independência – nas suas instruções ao nosso representante em Londres, Felisberto Caldeira Brant, o futuro marquês de Barbacena:
“[o comércio da Inglaterra] decerto padeceria se duvidasse em reconhecer a Independência do Brasil, visto que este Reino (à semelhança de Colômbia [presidida por Bolívar], que aliás não tem tantos direitos e recursos) está resolvido a fechar seus portos a qualquer potência que não quiser reconhecer nele o mesmo direito que têm todos os povos de se constituírem em Estados independentes, quando a sua prosperidade e o seu decoro o exigem”.
E, mais adiante:
“… é bem óbvio e evidente que o Brasil não receia as potências europeias, de quem se acha apartado por milhares de léguas, e nem tampouco precisa delas, por ter no seu próprio solo tudo o que lhe é preciso, importando somente das nações estrangeiras objetos pela maior parte de luxo, que estas trazem por próprio interesse seu”.
José Bonifácio recomendou a Caldeira Brant que procurasse em Londres o “benemérito brasileiro Hipólito José da Costa” – o maior crítico dos tratados de 1810 entre Portugal e Inglaterra. José Bonifácio, aliás, convidou Hipólito para o cargo de cônsul geral do Brasil em Londres – que ele aceitou, e para o qual foi nomeado, por D. Pedro I, a 16 de setembro de 1823. Infelizmente, o grande jornalista morrera nove dias antes (v. Carlos Rizzini, “Hipólito da Costa e o Correio Braziliense”, CEN, 1957, pp. 47-48).
Ao encarregado de negócios da Inglaterra e cônsul-geral no Rio de Janeiro, Henry Chamberlain, declarou José Bonifácio:
“O Brasil quer viver em paz e amizade com todas as outras nações, há de tratar igualmente bem a todos os estrangeiros, mas jamais consentirá que eles intervenham nos negócios internos do país. Se houver uma nação que não queira sujeitar-se a esta condição sentiremos muito, mas nem por isso nos havemos de humilhar nem submeter à sua vontade” (cf. “Annotações de A.M.V. de Drummond à sua Biographia”, Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, Vol. XIII (1885-1886), 1890, p. 45).
Não era uma política de continuação da dependência na Independência. Em mensagem ao cônsul dos EUA, anterior às instruções a Brant, em julho de 1822, Bonifácio frisa esse aspecto:
“Meu querido Senhor, o Brasil é uma Nação e como tal ocupará o seu posto, sem ter que esperar ou solicitar o reconhecimento das demais potências. A elas se enviarão os agentes diplomáticos ou ministros. As que nos recebam nessa base e nos tratem de nação a nação continuarão sendo admitidas aos nossos portos e favorecidas em seu comércio. As que se neguem serão excluídas deles” (cit. in Otaciano Nogueira, “O colosso que forjou uma nação“, Plenarium, v. 5, nº 5, out./2008, p. 257).
Não era uma questão nova em seu pensamento. Ainda residindo em Portugal, quatro anos antes da volta ao Brasil, ele havia refletido sobre ela:
“Nação alguma é independente, se precisa de sustento estrangeiro: Nação alguma é rica e poderosa se o terreno onde mora anda inculto e baldio; e se a pouca agricultura que possui depende inteiramente dos esforços e desvelos únicos da classe a mais pobre e menos instruída” (cf. José Bonifácio, “Memória sobre a necessidade e utilidade do plantio de novos bosques em Portugal”, 1815).
Esse último trecho é especialmente importante, por revelar como a questão da soberania nacional e da independência econômica constituíam, bem antes da Independência do Brasil, um problema único para José Bonifácio.
Tal colocação é a mesma que o faz maldizer a suntuosidade, característica de uma estreita faixa da população, consumidora de importações, às custas da maioria:
“… o Brasil tem bens reais, e não precisa de fictícios – não convertamos o supérfluo em necessário, nem demos alimento a ocas vaidades e desejos e gozos pueris.”
É o mesmo espírito que lhe faz escrever, já velho e recolhido à Ilha de Paquetá:
“Os políticos da moda querem que o Brasil se torne Inglaterra ou França; eu quisera que ele não perdesse nunca os seus usos e costumes simples e naturais e antes retrogradasse que se corrompesse.”
INVASÃO
A questão era um consenso – ou quase isso – entre os dois partidos que lideraram a Independência. Temos, a esse respeito, o testemunho de José Clemente Pereira – que, com Gonçalves Ledo, era a figura mais em evidência do grupo que disputava, com os Andradas, a direção do movimento da Independência.
Comentando os tratados comerciais assinados pelo Império com vários países – em especial aquele assinado com a Inglaterra, em 1827, que, essencialmente, prorrogava por 15 anos os privilégios ingleses do tratado com Portugal de 1810 – escreveu José Clemente Pereira:
“Facilitada ao estrangeiro a introdução de todos os gêneros de sua indústria, com a redução dos direitos a 15%, nós vimos logo esta capital inundada de objetos de mero e escandaloso luxo: a sua barateza facilitou-lhes o consumo, a facilidade desta animou novas importações, e em breves dias vimos as nossas ruas povoadas de quinquilharias e modistas estrangeiras, e os nossos homens e senhoras vestidos e penteados à estrangeira, como se vivessem na França ou na Inglaterra, quando só se deviam lembrar de que viviam no Brasil.
“Fácil era de prever os resultados necessários de tudo isto; os bons patriotas os viram logo; e eles foram, com efeito, o desaparecimento de nossa moeda, quando do Brasil se foi esconder nas burras de Londres e de Paris; e assim devia de ser necessariamente, porque, recebendo nós do estrangeiro anualmente 50, por exemplo, nas ofertas que nós importávamos, e não produzindo para lhes dar em paga senão 30, que eles de nós exportavam, o saldo dos 20 devia sair em metais preciosos e porque a mesma operação se tem repetido por tantos anos sucessivos, milagre é que ainda exista alguma moeda de 6$400 ou 4$000.
“Se tais tratados se não tivessem feito, sábias leis teriam podido remediar em alguma parte este mal, proibindo a entrada de certos gêneros de luxo, ou impondo-lhes o pagamento de direito nas alfândegas que fizesse mais dificultosa a sua introdução.
“Embora gêneros de necessidade ou reconhecida utilidade pagassem só 15%, ou ainda menos, mas fazer extensivos estes direitos a fitinhas, rendas, água de Colônia, caixinhas estofadas, flores, penteados, chicotinhos e cabelos de defuntos franceses, licores, bonecragens e trastes de madeira que não duram, tendo nós melhor madeira e de mais duração, é erro que se não pode perdoar e de que até os mesmos estrangeiros se riem, porque nessa não cairiam eles.
“Para que serão boas estas coisas entre nós? Acaso nossas senhoras não vestiam com decência ao tempo em que não tínhamos modistas francesas, suas cabeças não eram mais formosas enquanto seus cabelos naturais não foram substituídos pelos artificiais que ao Brasil lhes vieram dos cemitérios franceses? Seus pés ficavam porventura mais delicados depois que os sapatinhos de Paris, que não chegam a durar um dia, substituíram os que dantes calçavam?
“Não se entenda que queríamos que alguma nação fosse excetuada no pagamento de direitos; o que queríamos era que com nenhuma se tivessem feito tratados de comércio e que os direitos de importação fossem por nossas leis elevados, ou diminuídos a nosso arbítrio, segundo a natureza dos gêneros, a necessidade que deles tivéssemos, ou a utilidade que deles nos adviesse.”
Nesse texto, publicado após sua morte, José Clemente Pereira faz justiça à obra de José Bonifácio e dos Andradas – de quem fora adversário e mesmo inimigo político -, razão pela qual voltaremos a ele mais adiante. Sobre a questão da dependência aos ingleses, ele diz:
“… como tomamos por tarefa aproveitar todas as ocasiões que se nos oferecem de fazer ver que o Augusto Fundador do Império [D. Pedro I] viu sempre as coisas em melhor sentido que alguns de seus ministros, aqui será lugar de publicar que no tempo do Ministério dos Srs. Andradas, ele era de opinião de que se não fizessem tais tratados, decerto porque essa era a opinião dos mesmos senhores, e grande parte das pessoas que se achavam no Paço no dia 12 de outubro de 1822, foram testemunhas das expressões significativas destes sentimentos ouvidos ao Ministério” (grifo nosso).
Portanto, Clemente reconhece a política nacional dos Andradas. Somente em 1827, quando os Andradas estavam exilados na França, o Império assinaria o tratado comercial com a Inglaterra – um tratado anterior, negociado por sir Charles Stuart em 1825, provavelmente com os bons ofícios da Marquesa de Santos, não foi aceito pelo governo inglês.
[NOTA 1: Em comunicação ao governo inglês, Stuart escreveu: “devemos às boas graças do general Brant [Barbacena] e à influência da senhora Domitila de Castro a remoção de um obstáculo que teria feito malograr toda a negociação”. A anotação se refere ao reconhecimento do Brasil por Portugal. Stuart, apesar de inglês – e de ter sido nomeado pelo governo inglês -, chegou ao Brasil como embaixador de Portugal (cf., sobre os préstimos da marquesa, Octávio Tarquínio de Sousa, “História dos Fundadores do Império do Brasil”, Vol. III, 3ª ed., J. Olympio, 1957, p. 638).]
[NOTA 2: Sobre o motivo da recusa do governo inglês a um tratado negociado pelo próprio enviado inglês, nossa opinião – ao contrário daquela exposta por Oliveira Lima – é que a inimizade entre o mandachuva da política inglesa, George Canning, e o enviado ao Brasil, Charles Stuart, foi determinante. Não foi um problema apenas pessoal: a guerra palaciana que envolveu Canning, Castlereagh, e, inclusive, Wellington – de quem Stuart era protegido – é hoje um episódio da história política inglesa (para o ponto de vista de Oliveira Lima, ver seu livro “História Diplomática do Brasil – O Reconhecimento do Império“, Garnier, 1902, sobretudo pp. 260-279).]
MALES
José Clemente Pereira é implacável sob o significado dos tratados aceitos por D. Pedro I, após a queda dos Andradas: a redução das taxas de importação era “a principal origem da introdução de um luxo que nos devora, e da saída dos metais preciosos, cuja falta nos vai precipitando em um abismo (…); e a decantada reciprocidade não existe senão no papel dos tratados, porque nenhum comércio fazemos com o estrangeiro em nossos navios, e portanto é uma guerra e um verdadeiro fantasma, e logro escrito para nos iludir com o estrangeiro, que quis palear suas vantagens, como nossos negociadores se quiseram deixar iludir; mas o povo não se iluda, porque já lá vai o tempo de enganar a homens.
“Ultimamente os tratados só serviram para fixar os direitos na importação; quanto ao mais só ficaram para declarar princípios de direitos das Gentes, que nenhuma Nação desconhece; e quando saíram disto, deram o direito de cidadão brasileiro aos estrangeiros, recebendo em reciprocidade livres direitos para os brasileiros. Ilusória reciprocidade, que nunca existirá para nós, e que muito nos dana; porque as leis policiais da França e Inglaterra – nós que as não temos, ou não executamos as que temos – somos obrigados a fazer boa e efetiva execução desses artigos, não sem grave tropeço da boa administração da Justiça”.
Por fim, Clemente Pereira examina a principal alegação dos defensores desses tratados – a de que as concessões neles aceitas eram o preço do reconhecimento do Brasil como país independente:
“Se nos dissessem que os tratados eram necessários para o reconhecimento da nossa Independência, negaremos essa necessidade (…). Eles necessitavam mais de nós que nós deles. Era isto necessário para dar saída a nossos gêneros. Bem – diminuir os direitos de saída e aumentar os de entrada, a causa será a mesma, com a diferença de ser mais favorável aos nossos lavradores. (…) Tudo recairá sobre o consumidor, mas o lavrador ficou aliviado, porque pagará o imposto só do que vender.
“Mas do modo que a coisa está o Corpo Legislativo vê-se no grande embaraço de dar uma doutrina regular aos impostos, porque não pode carregar os de importação, nem aliviar os de exportação, como todos os principais economistas políticos ensinam, e as necessidades de proteger nossa agricultura e indústria imperiosamente exigem.
“… os tratados foram, na nossa opinião, um mal; (…) e sobre direitos, imponham os estrangeiros, se quiserem; sobre nossos gêneros, esses, imporemos o que quisermos, e veremos quem sai melhor na partida. Eles pouco produzem coisa muito boa de que necessitamos, e destes será protegida a introdução; mas também produzem muitos que nos fazem males, e estes terão dificultosa entrada; o que nós produzirmos, tudo tem consumo pronto no estrangeiro, o caso está em que lhe demos o bom mercado. Pois bem, diminuiremos os direitos de saída, o bom mercado convidará o estrangeiro, e nossos gêneros terão saída”.
MARQUÊS DE POMBAL
Esse espírito e essas ideias dos homens da Independência são profundamente antagônicas à mentalidade dominante em Portugal após a queda do marquês de Pombal, destituído com a morte de D. José I (1777) e a ascensão ao trono de sua filha, Maria Francisca, cognominada Maria I, a Louca.
A nobreza portuguesa mais decadente, reprimida desde a execução do duque de Aveiro e dos Távora, voltou, então, ao poder. E, com ela, a subserviência aos ingleses.
Aliás, a subserviência – aos ingleses ou a qualquer potência estrangeira – parece um traço distintivo dessa aristocracia lusitana, que Pombal, oriundo da pequena nobreza provinciana, detestava – e que, por sua vez, detestava Pombal, a ponto de desfigurar a sua memória ou de mostrar satisfação quando os franceses, ocupando o país, violaram o túmulo do grande homem.
[NOTA: Um produto tardio desse rancor a Pombal é o livro de Camilo Castelo Branco, “Perfil do Marquês de Pombal” (1882); mas também há algo dele no conhecido livro de João Lúcio de Azevedo, “O Marquês de Pombal e a sua Época”, obra, apesar disso, muito importante, pois o autor, ao contrário de Camilo, não confunde fatos com sua opinião política. Há menos desses preconceitos herdados do século XVIII na obra pioneira dos estudos históricos sobre Pombal: v. Francisco Luiz Gomes, “Le marquis de Pombal – esquisse de sa vie publique”, de 1869 (livro escrito e publicado em francês, apesar do autor, nascido em Goa, ser lusitano).]
8
Euclides da Cunha, em seu ensaio “Da Independência à República”, ao escrever sobre José Bonifácio, referiu-se, com seu característico estilo, à “figura anormal desse homem que sobranceou o seu tempo, mercê de uma cultura integral dilatando-lhe o espírito por todas as ordens de conhecimentos, da mineralogia transfigurada por Werner à química recém-instituída por Lavoisier, até as mais transcendentes cogitações de Kant ou de Fichte” (cf. Euclides da Cunha, “À Margem da História”, Lello Brasileira, 1967, p. 185).
Euclides, portanto, caracteriza José Bonifácio como um homem do Iluminismo – membro da mesma plêiade da qual fizeram parte Diderot, Voltaire, Rousseau, d’Alembert, Montesquieu.
José Bonifácio residiu e estudou na França de 1790 a 1792 – em meio à Revolução Francesa.
Daí, a sua anotação posterior:
“Os horrores das revoluções talvez sejam menores que os da matança de São Bartolomeu; e, todavia, esta matança não acabou com o Catolicismo. E por que quererão acabar hoje com as verdades que patenteou e inculcou a Revolução Francesa?”
Ou, também:
“Os que se opõem às reformas por nímio respeito da antiguidade, por que não restabelecem a tortura, a queima dos feiticeiros etc.? Seriam nossos pais culpáveis para com os seus antigos quando adotaram o Cristianismo e destruíram a escravidão na Europa? Não era isto abandonar a antiguidade para ser moderno? E por que não aproveitaremos nós as luzes do nosso tempo para que a nossa posteridade tenha também uma antiguidade que de nós provenha, mas que o deixe de ser logo que o progresso do espírito humano assim o exigir?” (ambas as citações estão na coletânea organizada por Octávio Tarquínio de Sousa, “O Pensamento Vivo de José Bonifácio”, Liv. Martins, 1944).
O HOMEM
Um autor, que não foi um admirador dos Andradas, escreveu sobre as “preciosas qualidades, intelectuais e morais, que se encontravam reunidas em José Bonifácio (…). A sua tenacidade era um contrapeso às vacilações de D. Pedro, cuja iniciativa ele encorajava. Mareschal [o representante da Áustria e da Santa Aliança (Áustria, Prússia e Rússia) no Rio de Janeiro] notou-lhe desde logo essa superioridade sobre o Conde dos Arcos, que procurava adormecer as faculdades do Príncipe para governar livremente. A sua espantosa atividade, a sua extrema viveza causavam admiração ao Ministro austríaco (…). O Almirante Roussin duvidava que existisse no mundo ‘velhinho mais fogoso; aos sessenta e seis anos, nem seu corpo, nem seu espírito um momento sequer estavam em repouso’. (…) Apresentando a eficácia da política seguida no Brasil, em contraste aos desacertos e lentidão da política das Cortes, dizia Borges Carneiro [um dos líderes das Cortes de Lisboa]: ‘Ali, um só homem, José Bonifácio de Andrada e Silva, com a energia do seu caráter, improvisa forças de mar e terra, acha recursos em abundância e os põe pela porta afora com a maior sem-cerimônia possível.’
“Além de grande probidade”, continua esse autor, “(…) a sua cultura intelectual era intensa e punha-o acima de quase todos os brasileiros ilustrados do seu tempo. Era laureado em filosofia e letras; conhecia Shakespeare e Dante tão bem como Camões, as musas francesas tão intimamente quanto as que haviam inspirado a Schiller e Goethe; a toda essa cultura moderna precedia o seu convívio com os clássicos gregos e latinos. Os centros científicos estrangeiros tinham-no em alta conta. A Sociedade de História Natural de Paris publicou-lhe nas respectivas atas a memória acerca dos diamantes do Brasil e as descobertas de novas espécies de minerais. O fato de falar seis línguas e entender onze avultava-lhe os dotes, no meio da gente a quem tal dom pareceria quase sobrenatural.
“José Clemente reconhece que ele era ‘o único homem apontado então para dirigir a revolução’, porque além de ter o favor da popularidade ‘reunia vasto saber, imaginação viva, atividade sem igual e intrepidez remarcável’. São dignas da sua memória as palavras proferidas a seu respeito, poucos anos depois da sua morte, por esse generoso adversário, um dos mais atingidos pela sua cólera: ‘Os serviços desse grande homem nunca poderão ser assaz remunerados; honrou com os seus talentos a sua pátria no país e no estrangeiro, e o seu nome será sempre inseparável da Independência do Brasil, a qual lhe é devida em grande parte’.” (cf. Tobias Monteiro, “A Elaboração da Independência”, Tomo 2, ed. cit., pp. 733-735).
O BRASILEIRO
Essas qualidades de José Bonifácio, no entanto, raramente são reconhecidas como uma condensação de um processo histórico que se desenvolvia, no Brasil, desde a guerra de libertação contra os holandeses. Como nota o mesmo autor:
“Nos fins do século XVIII a maioria dos talentos do Reino [de Portugal] já era de origem brasileira, e a população do Brasil já era a maior e mais rica. Latino [o escritor e político português Latino Coelho] lembra os nomes de Morais, do Dicionário, do poeta Pereira Caldas, do jornalista e publicista Hipólito, de Azeredo Coutinho (bispo de Eivas), do matemático Vilela Barbosa (Marquês de Paranaguá), dos químicos Nogueira da Gama (Marquês de Baependi) e Seabra, do botânico Conceição Veloso, do explorador e zoólogo Alexandre Rodrigues Ferreira, do mineralogista Feijó, de Câmara Bitencourt (companheiro de José Bonifácio na viagem científica pela Europa), dos médicos Melo Franco e Elias da Silveira. No Brasil tinham crescido e floresciam Antônio José [o teatrólogo Antonio José da Silva, executado pela Inquisição em 1739], Basílio da Gama, Santa Rita Durão, Cláudio [Manoel da Costa], Alvarenga Peixoto. Aliás, poderia ainda aumentar aquele rol com outros nomes que então já brilhavam ou começaram a brilhar ao abrir-se o século XIX: o botânico Arruda Câmara, Baltazar Lisboa, o bispo Azeredo Coutinho, Souza Caldas, Aires Casal, Fr. Leandro do Sacramento, Picanço, Silva Lisboa, João Severiano (Queluz), Mariano da Fonseca (Maricá), Fernandes Pinheiro (São Leopoldo), Carneiro de Campos (Caravellas), José Egídio (Santo Amaro), os irmãos Andrada” (op. cit, p. 501).
Havia nesses homens – e, progressivamente, cada vez mais – uma altivez advinda de suas conquistas intelectuais, que identificavam, também progressivamente, com a terra em que nasceram ou cresceram. Portugal tornara-se pequeno demais para eles – não qualquer Portugal, mas o decadente país em que este se tornara, cada vez mais dependente da economia inglesa e mais submisso à política da Inglaterra.
Não espanta, portanto, que o ânimo, as ideias – em suma, o espírito – dos homens da Independência (segundo o testemunho de José Clemente Pereira, inclusive de D. Pedro I durante o ministério dos Andradas, período que vai de janeiro de 1822 a julho de 1823), eram antagônicos à dependência externa do país, especialmente da Inglaterra.
É ostensivo como José Bonifácio tenta uma aproximação com o representante da Santa Aliança, o barão austríaco Phillipe Leopold Wenzel von Mareschal, como contrapeso à influência inglesa, apesar do dogma do príncipe de Metternich, chanceler da Áustria, que consistia em restaurar o absolutismo – ou, o que é a mesma coisa, em combater qualquer monarquia constitucional, para não falar das repúblicas (para Metternich, aliás, não havia muita diferença entre monarquia constitucional e república).
Porém, apesar do reacionarismo quase delirante – mesmo na primeira metade do século XIX – da Santa Aliança, existia uma ponte com a Áustria: a princesa, e, depois, imperatriz Leopoldina era, também, uma arquiduquesa austríaca, isto é, filha do imperador da Áustria, Francisco I.
Dª Leopoldina tornou-se muito amiga de José Bonifácio já no início de 1822 – entre outras razões porque, falando fluentemente alemão, ele era uma das poucas pessoas com as quais, no Rio de Janeiro, a então princesa podia falar no idioma de seu país-natal.
Porém, em público, ela sempre fazia questão de falar português – e até sua correspondência com José Bonifácio foi escrita em português, o que, para ela, devia ser um esforço não pequeno. Apesar disso, como observou Afonso d’Escragnolle Taunay, “para uma estrangeira, e para o tempo, as cartas de dona Leopoldina se apresentam bem escritas, quanto à ortografia e sintaxe portuguesa. O marido, por exemplo, escrevia pior do que ela” (v. “Cartas inéditas da imperatriz Leopoldina a José Bonifácio”, RIHGB, T. 91, Vol. 145, 1922, p. 704).
Aliás, a correspondência de Dª Leopoldina revela uma mulher excepcional para o seu tempo, sobretudo – e antes de tudo – em se tratando de alguém nascida e criada na corte dos Habsburgos, família dinástica que não passou à História por seu brilhantismo.
A imperatriz Leopoldina parece uma exceção – talvez por sua identificação com um projeto de Nação que era oposto ao esclerosado credo dos Habsburgos.
Ela fez o possível para facilitar a vida do novo país. Por exemplo, diz ela ao imperador Francisco I, em carta do dia 6 de abril de 1823:
“Desde que meu esposo tomou as rédeas do Estado, Deus sabe que, não por sede de poder ou ambição, mas para satisfazer o desejo do probo povo brasileiro, que se sentia sem regente, dilacerado em seu íntimo por partidos que ameaçavam com uma anarquia ou República; qualquer um que se encontrasse na mesma situação faria o mesmo: aceitar o título de Imperador para satisfazer a todos e criar a unidade.
“É meu dever fazer o papel de intercessora do nobre povo brasileiro, pois todos nós lhe devemos algo; nas circunstâncias mais críticas, este povo fez os maiores sacrifícios, que demonstram amor à pátria, para proteger sua unidade e o poder real.
“Todas as províncias se unem pelo mesmo interesse, mesmos anseios. Agora, nada mais me resta desejar senão que o senhor, querido pai, assuma o papel de nosso verdadeiro amigo e aliado; certamente será para meu esposo e para mim um dos nossos dias mais felizes, quando tivermos essa certeza; quanto a mim, caríssimo pai, pode estar convicto de que, caso aconteça o contrário, para nosso maior pesar, sempre permanecerei brasileira de coração, pois é o que determinam minhas obrigações como esposa e mãe, e a gratidão a um povo honrado que se dispôs, quando nos vimos abandonados por todas as potências, a ser nosso esteio, não temendo quaisquer sacrifícios ou perigos”.
Ela sabia perfeitamente da péssima recepção, na corte de seu país, da separação do Brasil de Portugal – e, ainda mais, do propósito declarado de instalar no país uma monarquia constitucional. Assim, tenta acalmar a corte de Viena:
“Estou certa, meu caríssimo pai, haver quem vos tenha dito ou escrito que aqui se queria fazer uma Constituição como a dos pérfidos portugueses ou das sanguinárias Cortes espanholas; mas garanto-vos ser mentira e ocorre-me o dever de dar os motivos principais da minha opinião. Na Assembleia das Cortes [é como ela se refere à Constituinte do Brasil] há membros de elevados talentos e grande retidão, respeitosos do Poder Real e que o sabem sustentar. A Assembleia compõe-se de duas Câmaras. O Imperador possui o direito do veto absoluto. Ao seu Conselho Privado e aos seus ministros, todos de sua escolha, não é dado o menor direito nem de intervir nem de opor-se; são todos como a domesticidade e os oficiais da Corte. O Imperador possui igualmente todos os atributos que auxiliam a manutenção da sua força, tais como, Chefe do Poder Executivo e Chefe dos Negócios Políticos”.
Esta carta foi escrita, por Dª Leopoldina, 27 dias antes da abertura dos trabalhos da Constituinte. Na mesma carta, ela também argumenta com os interesses comerciais da Áustria – que eram muito restritos no Brasil, com o quase monopólio por parte da Inglaterra:
“O destino do Brasil interessa altamente aos poderes europeus, especialmente no que tange aos interesses comerciais. As nossas Cortes não têm desejo mais ardente do que o de estabelecer tratados comerciais com as terras da Áustria. A extraordinária riqueza do Brasil em peles, madeiras e mantimentos poderão, dessa maneira, ficar à disposição da minha querida pátria” (cit. in João Alfredo dos Anjos, “José Bonifácio, Primeiro Chanceler do Brasil”, Fundação Alexandre de Gusmão/MRE, Brasília, 2008, p. 206).
O SUL
A outra linha de resistência à dependência, na política de José Bonifácio, era a formação de uma aliança com as repúblicas da América do Sul, que acabavam de se tornar independentes da Espanha.
Em um informe para Viena – ou seja, ao príncipe de Metternich – o barão Mareschal relatou, a 17 de maio de 1822:
“… o Senhor d’Andrada vai mais longe e eu o ouvi dizer na Corte, diante de vinte pessoas, todas estrangeiras, que se fazia necessária a grande Aliança ou Federação Americana, com liberdade de comércio; que se a Europa se recusasse a aceitá-la, eles fechariam os seus portos e adotariam o sistema da China, que se viéssemos atacá-los, suas florestas e suas montanhas seriam as suas fortalezas, que numa guerra marítima nós teríamos mais a perder do que eles” (cf. José Vicente de Sá Pimentel (org.), “Pensamento Diplomático Brasileiro: formuladores e agentes da política externa (1750-1964)”, Volume 1, Fundação Alexandre de Gusmão/MRE, Brasília, 2013, p. 89).
Cronologicamente, essa era, inclusive, a primeira linha de José Bonifácio:
“No Brasil, após as primeiras medidas de política interna, José Bonifácio inicia pelo Prata a ação externa do Brasil independente, ainda em maio de 1822, convocando Antônio Manuel Corrêa da Câmara para representar o país em Buenos Aires. (…) Câmara devia fazer ver a Buenos Aires que aquele era o momento de apoiar o Brasil, pois, uma vez ‘consolidada a sua Reunião e Independência’, a Europa naturalmente entenderia ser impossível restabelecer o domínio colonial sobre ele e sobre as demais colônias americanas.
“Vencida a primeira etapa da missão – convencer os seus interlocutores de que os interesses do Brasil são os mesmos dos demais Estados deste ‘hemisfério’ – deveria Câmara prometer que o Príncipe Regente reconheceria a independência política das nações vizinhas e ‘lhes exporá as utilidades incalculáveis que podem resultar de fazerem uma Confederação ou Tratado ofensivo e defensivo com o Brasil (…) nenhum desses Governos poderá ganhar amigo mais leal e pronto do que o Governo Brasiliense; além das grandes vantagens que lhes há de provir das relações comerciais que poderão ter reciprocamente com este Reino’.
“Bonifácio tinha plena consciência de que a proposta apenas encontraria eco se fossem superadas as ‘desconfianças’ em relação à boa-fé do Governo brasileiro. Isso mesmo argumentava o Chanceler a Corrêa da Câmara, recomendando que ele fizesse ver que um país como o Brasil, que se empenhava em ‘porfiosa’ luta pela Independência, não poderia deixar de ‘fraternizar-se’ com os seus vizinhos. (…) Para colocar em prática a nova política, já a 1º de junho, Bonifácio, na qualidade de Ministro do Reino, instrui o Juiz da Alfândega do Rio de Janeiro a que não só permitisse ‘descarregar os gêneros’ provenientes de Buenos Aires, mas também que prestasse ‘todo o favor e proteção possível’ ao mestre da embarcação Paquete do Rio da Prata, que aportara recentemente. Ademais, deveria ficar o Juiz ‘na inteligência de que assim deverá praticar para o futuro com qualquer outra embarcação daquele Estado, que aqui haja de aportar’.” (cf. João Alfredo dos Anjos, “José Bonifácio, Primeiro Chanceler do Brasil”, ed. cit., pp. 102-105 e 106-108).
9
José Bonifácio combateu na resistência à invasão francesa de Portugal. É necessário expor o significado histórico desse ato – o que é, também, expor a sua importância na formação da personalidade política do Andrada, que foi, no Batalhão Acadêmico, major, tenente-coronel e comandante da defesa de Coimbra.
A resistência aos franceses teve origem unicamente popular – contra a posição da nobreza, e, inclusive, a da Coroa: antes de partir para o Brasil, o príncipe regente D. João decretara que “a defesa contra as tropas do imperador seria mais nociva que proveitosa” (cf. Abílio Pires Lousada, “A invasão de Junot e o levantamento em armas dos camponeses de Portugal. A especificidade transmontana.”, Revista Militar, nº 2482/novembro de 2008, Lisboa).
NÚMEROS
Não é conhecido, ao certo, o número de nobres – e sua criadagem – que vieram com D. João para o Brasil. As estimativas variam entre 521 (420 membros da corte mais 101 oficiais da Marinha portuguesa) e 15.000 (quinze mil), o que deve ser um recorde de margem de erro.
O professor e arquiteto Nireu Oliveira Cavalcanti, de quem procede a estimativa mais baixa, argumenta, convincentemente, que a estimativa maior (15 mil) é inverossímil, pois esse número significaria que, em 40 horas, nada menos que 8% da população de Lisboa embarcou em 16 navios, além dos que traziam “as tralhas” e dos quatro navios ingleses que chegaram, com a comitiva, ao Brasil (cf. o interessante – sob mais de um aspecto – artigo de Nireu Oliveira Cavalcanti, “A reordenação urbanística da nova sede da Corte”, RIHGB nº 436, jul./set., 2007, pp. 149-199; v., também, do mesmo autor, o importante livro “O Rio de Janeiro Setecentista – A vida e a construção da cidade da invasão francesa até a chegada da corte”, Zahar, 2003).
O autor documenta, também, o famoso “Ponha-se na Rua” (as iniciais P.R. – Príncipe Regente – eram afixadas nas casas que a nobreza recém-chegada requisitava aos brasileiros; daí, P.R. ser conhecido como “ponha-se na rua”). Trata-se do “direito de aposentadoria” – que nada tem a ver com a Previdência Social, que, evidentemente, não existia na época, mas com o “direito” da nobreza feudal de requisitar e ocupar aposentos, isto é, as casas de outros, quando em viagem.
Além da família real – composta por 14 pessoas, incluindo as crianças -, apenas 19 nobres, que vieram de Lisboa com D. João, tiveram esse “direito” no Rio de Janeiro, de acordo com a documentação recolhida ao Arquivo Nacional (cf. Nireu Oliveira Cavalcanti, art. cit., p. 155, nota).
Realmente, a fonte dos 15 mil portugueses que teriam saído de Portugal em 1807, com o então príncipe regente, é duvidosa: um oficial da marinha inglesa, o conde irlandês Thomas O’Neill, que não estava presente na partida da família real, apesar de descrevê-la melodramaticamente – e até inventar um encontro do comandante francês, general Andoche Junot, com D. João (em seu “D. João VI no Brasil”, Oliveira Lima chamou o relato de O’Neill de “imaginosa narração”, apesar de conceder a ele um crédito de veracidade que não é coerente com esse conceito).
O Rio de Janeiro tinha, então, 7.500 imóveis urbanos. A chegada de 15 mil pessoas seria, portanto, uma comoção, para dizer o mínimo, mesmo com a suposição, pouco fundamentada, de que uma parte dessas pessoas pudesse ter ficado na Bahia, onde D. João primeiramente aportou, ou na Paraíba, onde arribou, antes do Rio, a nau D. João de Castro.
Mas é preciso acrescentar que parte da frota – inclusive três dos principais navios (as naus Rainha de Portugal, Príncipe do Brasil e Infante D. Henrique), com parte da família real – veio direto para o Rio de Janeiro, chegando a 17 de janeiro de 1808, enquanto D. João somente chegou a 7 de março (cf. o relato de uma testemunha do desembarque, o padre Luiz Gonçalves dos Santos, “Memorias para servir a historia do reino do Brazil”, Impressão Regia, Lisboa, 1825 – existe uma edição fac-similar publicada pela Câmara dos Deputados).
Não por acaso, alguns historiadores, sentindo o absurdo, transformaram os 15 mil viajantes em um absurdo pouco menor: 10 mil portugueses. Porém, trata-se de uma versão do texto de O’Neill, ainda que com um fator de correção.
Para reforçar as objeções à estimativa de 15 mil, as “tralhas” que a corte transportou nos navios eram imensas: “vieram para o Brasil todas as pratas preciosíssimas cinzeladas pelos Germain; toda a formosa biblioteca organizada por Barbosa Machado, milhares de volumes reunidos com inteligência e amor, que constituiriam o núcleo da nossa primeira livraria pública; até o prelo e tipos (estes verdade é que dizem estavam ainda por desencaixotar) mandados vir de Londres para uma imprensa destinada ao serviço do Ministério de Estrangeiros e Guerra” (cf. Oliveira Lima, “D. João VI no Brasil”, ed. cit., pp. 47-48).
A biblioteca, por exemplo, era constituída por 60 mil volumes. Qualquer um que já tentou organizar uma quantidade até muito menor de livros, sabe o espaço que eles ocupam. Mas isso significava menos espaço para transportar pessoas.
Também Oliveira Lima transcreve trecho de uma carta de Junot à esposa, a duquesa de Abrantes: “Quanto aos diamantes brutos e talhados da coroa de Portugal, levaram tudo, até um pedaço de cristal que te recordarás de haver visto no gabinete de história natural de Lisboa, lapidado à imitação perfeita do famoso diamante de Portugal”.
O POVO
O objetivo desse apanhado sobre a viagem de D. João é conceber que parte – em termos de magnitude numérica – da nobreza lusitana veio com ele para o Brasil, e que parte, nos mesmos termos, ficou em Portugal, para abordar uma importante questão política e histórica.
Diante da mudança de endereço da família real – chamemos assim – como reagiu o povo português? Nosso interesse, aqui, não é a história de Portugal, exceto naquilo que foi importante para a formação dos homens da Independência, em especial, José Bonifácio.
Existe um relato, publicado no Rio de Janeiro em 1821, do próprio organizador da viagem de D. João para o Brasil, Joaquim José de Azevedo, visconde do Rio Seco:
“O muito nobre e sempre leal povo de Lisboa, não podia familiarizar-se com a ideia da saída d’El-Rei para os Domínios Ultramarinos. Encarava o futuro, e além da orfandade, que descobria, ruminava no pensamento a série de males, que ameaçavam os horizontes da sua cara Pátria. (…) Vagando tumultuariamente pelas praças, e ruas, sem acreditar mesmo, que via, desafogava em lágrimas, e imprecações à opressão dolorosa, que lhe abafava na arca do peito o coração inchado de suspirar: tudo para ele era horror; tudo mágoa; tudo saudade; e aquele nobre caráter de sofrimento, em que tanto tem realçado acima dos outros povos, quase degenerava em desesperação!” (cf. “Exposição analytica, e justificativa da conducta, e vida publica do Visconde do Rio Seco”, Imprensa Nacional, 1821, pp. 3-4).
O visconde – que, aliás, ficaria no Brasil após a volta de D. João VI a Portugal (e receberia, no primeiro reinado, o título de marquês de Jundiaí) – caracteriza a situação de Lisboa, às vésperas da partida do rei, como um “frenesi popular”.
Conta ele que, ao se aproximar do cais de Belém, foi “envolvido em uma nuvem de verdadeiros filhos, que desacordadamente lhe pediam contas do seu Chefe, do seu Príncipe, do seu Pai, como se ele fora o autor de um expediente, que tanto os flagelava! A nada se poupou para serenar a multidão; desculpas oficiosas, protestações sinceras de que ele nada influíra para tais sucessos, preces, rogos, tudo era perdido para um povo, que no seu excesso de dor o caracterizava de instrumento do seu martírio, sem se abster de o sentenciar de traidor!”.
João saiu de Lisboa para o mar no dia 29 de novembro de 1807. No dia seguinte, as tropas de Junot – mescla mais espanhola que francesa – entraram na cidade. Poucos dias depois, o frenesi, de que falava o visconde de Rio Seco, transformou-se em revolta popular:
“Em meados de dezembro estalam motins em Lisboa ao ser hasteada a bandeira francesa no Castelo e nos navios que tinham sido deixados no Tejo. O sangue corre. A missa de Natal será proibida para evitar ajuntamentos. Ao mesmo tempo alguma agitação nas tropas portuguesas que tinham ficado no Reino leva ao decreto de Junot reduzindo o nº de regimentos – na prática quase todo o exército é licenciado. (…) As armas e os cavalos ficam ao serviço dos invasores. É imposta uma contribuição de 100 milhões de francos a Portugal” (cf. João Paulo Ferreira da Silva, “Primeira Invasão Francesa 1807-1808: A invasão de Junot e a revolta popular”, Academia das Ciências de Lisboa, 2012, p. 8).
O país todo – sobretudo o campesinato – levanta-se em insurreição contra os franceses. Estes, reagem com uma brutalidade que parece não ter limite, bem exemplificada pela proclamação do general francês Kellerman aos alentejanos: “habitantes do Alentejo: Beja tinha-se revoltado, Beja já não existe. Os seus criminosos habitantes foram passados a fio de espada e as suas casas entregues à pilhagem e ao incêndio” (op. cit., p. 10).
Porém, apesar do banho de sangue, em agosto de 1808 os franceses foram obrigados a sair – para sempre – de Lisboa.
OS NOBRES
Enquanto isso acontecia no país inteiro, como se portava a nobreza lusitana?
Pouco antes da invasão, escrevendo a um amigo, o último rebento dos Távoras, Pedro José de Almeida Portugal, 3º marquês de Alorna e 6º conde de Assumar – cujos avós foram executados no processo de 1759 e “reabilitados” após a queda do marquês de Pombal – dizia:
“Achas que os franceses comprarão as nossas fábricas, para depois as queimarem, como fizeram os ingleses? Não, não. Se nos tornarmos não somente aliados da França, mas federados com ela, fique certo que ela pensará em nós como a Inglaterra o fez a Utrecht e recentemente. E que mal pode haver de nos aproximarmos dos franceses? Se tivéssemos abraçado a sua causa na sucessão de Espanha, no princípio do século XVIII, o país seria agora mais comprido e mais largo…” (v. José Norton, “O Último Távora”, Dom Quixote, Lisboa, 2007).
Na mesma carta, Alorna diz que “nada queria com política”. Sob a ocupação francesa, tornou-se comandante da Legião Portuguesa, que integrou o exército de Napoleão na invasão da Rússia.
Não era um caso isolado na velha aristocracia lusitana – a parte que não fugiu para o Brasil, aderiu em massa a Napoleão, mesmo com o povo português em revolta, e, muitas vezes, massacrado:
“Um dos espetáculos mais tristes da invasão de Portugal foi a pusilanimidade da nobreza e a sua enternecida submissão ao conquistador. Numerosa deputação, quase toda composta de gente de alta estirpe, marchou para Bayonne, a fim de dar-lhe todas as mostras de fidelidade. Eram nomes dos mais em vista nas eminências da corte: os Marqueses de Penalva, Marialva, Valença e Abrantes, o Conde de Sabugal, o Visconde de Barbacena, o inquisidor-mor, o Bispo de Coimbra, o prior-mor da ordem de São Bento de Aviz, Dom Nuno Alvares, D. José (marquês de Abrantes), Silva Leitão, Joaquim Alberto Borges e o ex-embaixador em Paris, Dom Lourenço de Lima, filho do marquês de Ponte de Lima e que ali ficaria a servir de Secretário do Império para os negócios de Portugal.
“Não cabendo em si da honra que merecera de ser recebido pelo novo senhor, a deputação dirigia um manifesto aos seus compatriotas, onde não faltava requinte de bajulação ‘ao grande príncipe’ e ao seu ‘poderoso gênio’. À sua vista tinham compreendido o império que exercia no coração de todos. ‘Se alguma coisa pode igualar o seu gênio é a elevação da sua alma e a generosidade dos seus princípios’, exclamavam embevecidos e derretidos diante da ‘afabilidade verdadeiramente paternal’, que traduzia o amor por ele consagrado aos que tinham a fortuna de ser seus súditos. Podiam enfim conhecer-lhe os intuitos e proclamá-los; só agora sabiam a condição sob a qual tinham vivido e por isso cabia-lhes exprobar o procedimento do senhor, a quem até a véspera haviam servido: ‘o Imperador não pode consentir uma colônia inglesa no continente; não pode, nem quer deixar aportar a Portugal o Príncipe que o deixou, confiando-se na proteção de navios ingleses’. Mas também o Imperador não sabia ainda que sorte mereciam os portugueses; primeiro queria julgar se ‘eram dignos de formar uma nação’!
“Publicado esse manifesto, compôs-se em Lisboa, por ordem de Junot, outra comissão, representativa das classes; e reunidos todos à Junta dos Três Estados, assinaram uma representação ao Imperador para traduzir a sujeição do povo inteiro. Assinaram-na todos os titulares e fidalgos que se achavam na capital. Só um, o Marquês de Minas, recusou-lhe a firma.
“Era a mesma linguagem da deputação de Bayonne. Todos acolhiam-se ‘debaixo da magnânima proteção do herói do mundo, do árbitro dos reis e dos povos’. Esperava a nação ‘formar, um dia, parte da grande família de que S. M. era o pai benéfico’ e suplicava-lhe tamanha graça. Todos os portugueses achavam-se tomados de admiração, respeito e reconhecimento pelo herói e achavam-se ‘convencidos de que Portugal não podia conservar a sua independência, animar as suas energias e o caráter da sua própria dignidade, sem recorrer às benévolas disposições de S. M.’. Seriam ditosos ‘se pudessem ser considerados dignos de ser contados no número dos seus fiéis vassalos’; mas se não pudessem ‘lograr esta felicidade’, concluíam de mãos postas: ‘seja V. M. quem nos dê um príncipe da sua escolha’ ” (Tobias Monteiro, “A Elaboração da Independência”, ed. cit, pp. 188-189).
Resta dizer que todos os traidores, aderentes à Napoleão, foram perdoados pela Coroa depois que os franceses saíram do país – e os ingleses o ocuparam.
CAPITULAÇÃO
Existe, hoje ainda, uma intensa polêmica em Portugal sobre a fuga de D. João. Porque o exército de Junot que chegou a Lisboa era uma tropa mal armada, com uma única boca de fogo por artilharia, com soldados descalços e em farrapos. Mas não houve resistência ao seu avanço.
Um historiador militar português descreve assim a invasão:
“Com o exército ‘partido’, roto e faminto, Junot atingiu Castelo Branco (20 Novembro) de pilhagem em pilhagem, no limiar da subsistência. As dificuldades aumentaram na marcha para Abrantes (onde chegaram a 22 de Novembro), ‘com a difícil passagem do Zêzere, (…) a desolação da terra e a pobreza dos habitantes’, agravadas por um Inverno particularmente rigoroso e chuvoso. Mais do que uma força militar conquistadora e temida, que se apressava para ‘libertar o país da perniciosa tutela dos ingleses’, como proclamava Junot, o exército francês parecia pedir clemência e estar à beira do fim, a largos quilômetros de atingir Lisboa” (cf. Abílio Pires Lousada, “A invasão de Junot e o levantamento em armas dos camponeses de Portugal. A especificidade transmontana.”, Revista Militar, nº 2482/novembro de 2008).
Pior ainda quando esse exército chegou a Lisboa:
“Uma chegada, para não variar, debaixo de intempérie, entrando na capital portuguesa a conta gotas, com uma vanguarda a rondar os 1.500 soldados, em estado miserável e parecendo alguns deles autênticos cadáveres vivos. Ou seja, o temido ‘Exército da Gironda’ transformou-se ‘num bando de maltrapilhos disfarçado de penachos e galões de meia dúzia de generais escudados na fama de Napoleão’.”
O autor nota que esse exército somente pôde atravessar Portugal devido “sobretudo, à quase total ausência de resistência. Este foi o legado do regente Dom João (…), vincando a preocupação em evitar escusado derramamento de sangue e a depredação das localidades. Semelhante atitude mostravam as ‘pastorais’ das autoridades religiosas nacionais, sugerindo à população ‘toda a quietação e auxílio às tropas francesas’.”
10
A desolação em Portugal, nas semanas que seguiram à fuga da família real, foi retratada, de maneira comovente, pelo bispo do Rio de Janeiro, Dom José Caetano da Silva Coutinho, retido em Lisboa pela invasão francesa (somente no final de abril de 1808, três meses depois da comitiva de D. João, o bispo conseguiu chegar ao Brasil).
Dom José Caetano – que, em 1823, seria o primeiro presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, e, depois, senador – descreve o sentimento do povo, após a partida da família real, como “a maior consternação, e desalento, que jamais se experimentou nas calamidades de Portugal”. A maior importância de seu livro é a percepção – que ele não explicita, mas é decorrente do relato – de que os maiores responsáveis pela restauração da popularidade da família real, bastante abalada após a fuga para o Brasil, foram os franceses (v. D. José Caetano da Silva Coutinho, “Memória Histórica da Invasão dos Franceses em Portugal no Ano de 1807”, Impressão Regia, Rio, 1808).
Trata-se de algo praticamente geral nas guerras napoleônicas após 1804 – e mais evidente na Rússia, Portugal e Espanha. A brutalidade das tropas – e da administração – francesas provocou revoltas populares, nas quais os antigos representantes do feudalismo (desde a Coroa portuguesa até o czar da Rússia) foram tomados como símbolos nacionais. Mesmo no caso da Espanha, em que Carlos IV, e, depois, Fernando VII – respectivamente, pai e irmão da rainha de Portugal, Carlota Joaquina – se submeteram a Bonaparte, mas foram, em seguida, substituídos por um irmão do imperador francês, a revolta do povo fez lembrar a primeira grande obra da literatura espanhola, o Poema do Meu Cid: “Deus! Para tão bom vassalo, tão mau rei!” (no original: ¡Dios, qué buen vassallo, si oviesse buen señor!).
Portanto, a marcha fúnebre, que Beethoven teria acrescentado à Sinfonia nº 3 (a “Eroica”), quando soube que Napoleão se proclamara imperador, é plenamente justificada. Talvez a história da marcha fúnebre não seja exata, mas, segundo um amigo de Beethoven, ao saber da notícia, disse o compositor: “Ele não é nada mais que um homem ordinário! Agora ele também pisará os direitos humanos para satisfazer a sua ambição; será um tirano, como todos os outros” – e rasgou a dedicatória para Napoleão, na partitura da “Eroica” (cf. o relato de seu discípulo e amigo Ferdinand Ries em Wegeler e Ries, “Biographische Notizen über Ludwig van Beethoven”, Schuster & Loeffler, Berlim/Leipzig, 2ª ed., 1906, p. 93).
LEVANTE
Coimbra revoltou-se contra os ocupantes franceses a 23 de junho de 1808. A guarnição dos invasores foi cercada e, antes de ser presa, atirou contra a multidão. Surpreendentemente, não conseguiram atingir ninguém – falou-se em “milagre”, mas, segundo um historiador contemporâneo dos acontecimentos, o pânico que acometeu os soldados impediu-os de acertar um só tiro (cf. José Acúrcio das Neves, “História Geral da Invasão dos Franceses em Portugal e da Restauração deste Reino”, Tomo III, Lisboa, 1811, p. 210).
Formado, com estudantes e professores da Universidade de Coimbra, o Batalhão Acadêmico (conhecido, na História de Portugal, como “Batalhão Acadêmico de 1808”), este foi lançado em direção à Figueira da Foz, onde, com 3.000 camponeses que se juntaram no trajeto, tomou o forte, no dia 27 de junho.
Junot decide, então, desviar para Coimbra as tropas do general Loison – um carniceiro conhecido por “Maneta” (perdera o braço esquerdo em um acidente de caça) – que ordenara os fuzilamentos e a pilhagem de Caldas da Rainha, façanha descrita pelo bispo D. José Caetano da Silva Coutinho:
“Havia mais de um mês que no Régio Hospital daquela vila se achavam quatrocentos franceses, comendo todos os mantimentos que havia de sobressalente, e consumindo as suas rendas futuras, de maneira que por muitos anos não podem prestar o costumado socorro e curativo aos pobres; e estes hóspedes não estavam tão doentes que não tivessem cometido várias desordens e distúrbios na terra, e indisposto contra si ânimos dos moradores; até que finalmente apareceram um dia sete granadeiros moços e robustos, que se julgaram mandados de propósito da Praça de Peniche a insultar as pessoas mais pacíficas que encontravam e a desatender algumas mulheres na sua própria casa.
“Numa destas casas, que fica na rua do Olival, ouviram-se altos gritos de uma mulher, que se queixava dos franceses; acudiu a vizinhança e vários cadetes e soldados do segundo Regimento do Porto, que então ali se achava aquartelado; travou-se uma rixa em que ficaram feridos alguns franceses.
“… A consequência foi aparecer dentro de poucos dias rodeada a vila das Caldas de um pé de Exército de quase seis mil homens de Infantaria, de Cavalaria, e nove peças de Artilharia. No mesmo dia em que chegaram, começou uma horrorosa pilhagem nas casas e nos campos, que não cessou em todos os seis dias que ali estiveram, e a que não escapou gado, pão, vestidos, trastes, vinho, azeite, dinheiro do rico e do pobre.
“No dia seguinte, que era um sábado, prenderam-se perto de vinte pessoas, paisanos e soldados do Porto; no domingo e na segunda-feira se inquiriram e acarearam muitas pessoas, a que assistia o Juiz de Fora da terra, António Amado, na presença do General Loison, Chefe do Exército, e da comissão mandada por Junot; e finalmente, na terça-feira pela manhã, sem mais processo nem figura de juízo, mandaram-se sair da prisão Pedro José Pedrosa, escrivão da Câmara, João de Proença, filho do Correio Mór, ambos rapazes de vinte anos, um padeiro da vila chamado Casimiro, um tenente do Regimento do Porto chamado Manuel Joaquim, um cadete, três soldados e um tambor do mesmo Regimento. Três ou quatro clérigos acompanharam estes nove desgraçados desde a cadeia até um campo que fica nos arrebaldes da vila; e este foi todo o tempo e todo o socorro espiritual que lhes foi concedido.
“Foram notificadas todas as pessoas de alguma representação da vila para assistirem; e no meio do Exército e da Artilharia, que formava os três lados duma grande praça vazia, todos os nove padecentes foram arcabuzados com poucos tiros, que ainda lhes deixaram alguns momentos de vida, para lançarem pungentes gritos de agonia e horríveis gestos de morte.
“Em todo aquele dia um terror inexplicável se apoderou dos moradores, que se fecharam em casa. Na quarta-feira seguinte, no mesmo sitio e no meio do mesmo bélico aparato, mandou-se formar o segundo Regimento do Porto, e com a maior infâmia, se lhe despiram as fardas, e se lhe tiraram as armas, lançando-se com desprezo as reais bandeiras sobre os tambores; e dissolvido o corpo, na mesma hora se dispersaram os soldados para fora da vila. Deste modo se vingaram de um Regimento que na Guerra do Rossilhão lhes fez sentir os golpes da sua bravura” (D. José Caetano da Silva Coutinho, op. cit., pp. 50-53).
Nas palavras de um escritor português da época: “Loison, mais conhecido pela alcunha de Maneta, foi sem contradição o monstro mais sanguinário que a cólera napoleana vomitou sobre Portugal” (Luís de Sequeira Oliva, “Diálogo entre as principais personagens francesas, no banquete dado a bordo da Amável por Junot, no dia 27 de Setembro de 1808”, Lisboa, 1808, 2ª ed., p. 7, nota).
RESISTÊNCIA
A notícia de que o sanguinário Loison marchava para Coimbra mobilizou toda a cidade. Foi dada ordem ao Batalhão Acadêmico para deixar Figueira da Foz e voltar à cidade.
Mas havia poucas armas, e, sobretudo, faltavam pólvora e balas. É nesse momento que José Bonifácio se destaca:
“Procurou-se salitre, fizeram-se ensaios no laboratório químico, e no dia 26 pelas dez horas da noite apareceu, com grandes aplausos, fabricada a primeira porção de pólvora; e neste trabalho se continuou noite, e dia, debaixo da inspeção do Doutor Thomé Rodrigues Sobral, lente de Química. Não se sabiam fazer cartuxos, nem havia balas; mas a essa mesma hora se mandaram buscar dois soldados portugueses convalescentes, que estavam no hospital, para se empregarem no cartuxame, e oficiais de ourives, e funileiros para fundirem balas. Igualmente foram chamados um sargento, e alguns soldados, que estavam destacados nas ferrarias de Tomar, debaixo das ordens do lente de Metalurgia, e Intendente das Minas, o Doutor José Bonifácio de Andrada e Silva, para trabalharem no cartuchame; e principiou a fazer-se metralha, para quando houvessem peças, que já se esperavam da Figueira” (cf. José Acúrcio das Neves, op. cit., pp. 224-225).
Entre as 10 horas da noite e às seis da manhã do dia 27, foram fabricados 3.000 cartuchos em Coimbra.
Porém, o país todo estava levantado – antes de qualquer intervenção externa, pois as tropas inglesas do general Wellesley (o futuro duque de Wellington) somente desembarcariam em Portugal a 1º de agosto de 1808.
Isso fez com que Junot desviasse outra vez as hordas do “Maneta”, que não chegaram a Coimbra.
ROMPIMENTO
Encerramos aqui essa breve incursão na resistência às invasões francesas – houve três, entre 1807 e 1811 – em Portugal. Basta, por último, dizer que, até a expulsão definitiva dos franceses, José Bonifácio destacou-se pela coragem e no comando militar – terminou a guerra como comandante do Batalhão Acadêmico (cf. Arthur Lamas, “Centenario de uma medalha da guerra peninsular”, O Arqueólogo Português, Volume XIII, 1908, p. 149).
A resistência aos ocupantes representava – e, efetivamente, era – uma ruptura com a nobreza, quase toda ela ajoelhada vergonhosamente diante do invasor ou asilada no Brasil. Teria, por isso, uma importância imensa na formação de José Bonifácio e de outros brasileiros que ficaram em Portugal durante a ocupação.
Mas é possível falar em “formação” a propósito de um homem que, em 1808, no levante de Coimbra, tinha 45 anos?
Essencialmente, ele já é um homem formado. No entanto, a invasão francesa colocou imediatamente para ele uma escolha: ficar em Portugal ou voltar para o Brasil – algo que, mais de uma vez, planejara.
Por que, então, ele ficou em Portugal?
Parece-nos que Octávio Tarquínio de Sousa abordou bem as motivações de José Bonifácio, quando escreveu: “Para um homem do seu feitio o abandono da terra ao invasor sem escrúpulos devia causar extrema repugnância. (…) Não parece, pois, temerário supor que ficou em Portugal porque quis, porque teve escrúpulos de figurar entre os numerosos parasitas e áulicos que acompanharam a família real portuguesa e aqui passaram anos amaldiçoando o clima, falando mal dos negros e mulatos, carpindo saudades da terra que não souberam ou não puderam defender” (cf. “História dos Fundadores do Império do Brasil”, Vol. I, ed. cit., pp. 100-101).
Pior ainda – com certeza – deveriam ser, para José Bonifácio, aqueles que se tornaram parasitas e áulicos de Bonaparte.
A resistência aos franceses tornou mais nítido, para ele, o significado daquela nobreza que sufocava Portugal. Algo disso transpareceu de forma explícita, anos depois, na sua recusa em aceitar qualquer título nobiliárquico – embora ele não tenha sido, nisso, único entre os homens da Independência: Gonçalves Ledo e José Clemente Pereira também recusaram assumir títulos do que era, na opinião deles, uma simulação da nobreza metropolitana perfeitamente ridícula. E, realmente, assim era.
BAHIA
Nos estendemos sobre a questão da resistência popular – em total contraste com o agachamento da nobreza – à invasão em Portugal, porque há uma contribuição dela, em nossa opinião, inequívoca, ao lado plebeu da Revolução da Independência.
Notemos que, muito depois do fim das invasões de Napoleão, em 1816, quando o mulato baiano Francisco Gomes Brandão – conhecido na História do Brasil pelo nome que escolheu após a Independência, Francisco Gê Acaiaba de Montezuma – foi estudar em Coimbra, o clima (ou, seria melhor dizer, o espírito) dos estudantes brasileiros era de mal contido inconformismo.
Especialmente Montezuma iria condensar esse espírito, naquilo que os mestres portugueses consideravam mau comportamento. Quando de sua formatura em Direito e Filosofia, no ano de 1821, o conceito da banca examinadora sobre esse estudante foi o seguinte: “Em procedimento e costumes, aprovado por 2, reprovado por 6; em mérito literário, muito bom por 1, bom por 7; em probidade, prudência e desinteresse, aprovado por 4, reprovado por 4” (v. Helio Vianna, “Vultos do Império”, CEN, 1968, p. 76).
Mesmo assim, foi diplomado. Talvez fosse um daqueles casos, referidos por Machado de Assis, na voz, vinda do além-túmulo, de Brás Cubas: “… desembarquei em Lisboa e segui para Coimbra. A Universidade esperava-me com as suas matérias árduas; estudei-as muito mediocremente, e nem por isso perdi o grau de bacharel; deram-mo com a solenidade do estilo, após os anos da lei; uma bela festa que me encheu de orgulho e de saudades, — principalmente de saudades. (…) No dia em que a Universidade me atestou, em pergaminho, uma ciência que eu estava longe de trazer arraigada no cérebro, confesso que me achei de algum modo logrado, ainda que orgulhoso”.
Machado – que, aliás, seria autor de uma reminiscência sobre Montezuma, em seu artigo “O Velho Senado”, escrito já na época da República, em 1898 – devia saber do que estava falando: bacharéis do tipo de Brás Cubas, formados em Coimbra, existiam aos montes, no Brasil.
Mas, ao contrário de Brás Cubas, Montezuma preferiu voltar logo à Bahia, onde, em seguida, se engajou na sangrenta Guerra de Independência do Brasil.
Passou a fazer parte da redação do “Diário Constitucional”, jornal cujo dono, Francisco José Corte Real, mudaria seu sobrenome para “Corte Imperial”. Depois, Montezuma fundou “O Constitucional”, ao qual sucedeu “O Independente Constitucional”.
Vereador em Salvador, Montezuma tentou impedir a posse do general lusitano Madeira de Melo no comando militar da Bahia.
Isto aconteceu em 18 de fevereiro de 1822. No dia seguinte, os soldados portugueses de Madeira desencadearam a chacina. Ao invadir o Convento da Lapa, encontraram pela frente a abadessa, sóror Joana Angélica, assassinando-a com golpes de baioneta.
Madeira declara-se em sublevação contra o governo do príncipe regente, D. Pedro, com incentivo – e, mesmo, comemorações, como documenta Oliveira Lima – das Cortes de Lisboa.
Porém, na Bahia, as vilas de Cachoeira, Santo Amaro e São Francisco, representadas por suas Câmaras, se declaram pelo governo do Rio de Janeiro. Salvador, ocupada pelas tropas lusitanas, está, a partir daí, isolada.
Montezuma escapa da capital e torna-se membro do governo provisório, estabelecido em Cachoeira. Foi na condição de representante desse governo – e, portanto, dos baianos – que ele irá, em seguida, ao Rio, onde foi recebido por D. Pedro I e José Bonifácio. Durante a Guerra da Independência – encerrada a 2 de julho de 1823 com a entrada das forças brasileiras em Salvador – Montezuma irá duas vezes ao Rio, a segunda, por terra, uma viagem que durou 74 dias por um país sem estradas, algo semelhante a uma epopeia.
A lembrança mais marcante desta viagem, para Montezuma, foi a lepra – a atual hanseníase – que afetava extensa parte da população no interior do Brasil.
11
A trajetória de Montezuma – que, depois da Guerra da Independência, foi constituinte (exilado, com os Andradas, quando a Assembleia foi dissolvida por D. Pedro I), deputado, ministro da Justiça e dos Negócios Estrangeiros, embaixador plenipotenciário em Londres, e uma das principais figuras no Senado do Império, recebendo o título de visconde de Jequitinhonha “com grandeza” (antes, no primeiro reinado, recusara o título de “barão da Cachoeira”) é uma boa introdução a um tema que aparece, em 1822, muitas vezes – sobretudo nos gritos lusitanos contra a Independência: a cor do povo brasileiro na época da separação de Portugal.
O próprio D. Pedro, ao relatar ao pai a sublevação da Divisão Auxiliadora lusitana, comandada pelo general Avilez, após o “Dia do Fico”, diz que “começaram os soldados da divisão auxiliadora a quebrarem as vidraças pelas ruas, quebrando, e apagando as luminárias com paus, e dizendo: esta cabrada leva-se a pau” (cf. “Cartas de D. Pedro, príncipe regente do Brasil, a seu pai, D. João VI, rei de Portugal 1821-1822”, Typ. Rothschild & cia, S. Paulo, 1916, carta de 23/01/1822, p. 57, grifo nosso).
“Cabra” era o termo pejorativo para os filhos de brancos com mulatas. A “cabrada”, referida pela soldadesca lusitana, era o povo brasileiro.
Porém, registram os historiadores – e sobretudo os autores que estavam presentes no Rio de Janeiro dessa época – “a ‘cabrada’ não se atemorizou. ‘As tropas da terra, milícia e povo’ pegaram em armas na disposição de lutar. (…) Ao Campo de Santana, ponto de concentração da tropa brasileira, acorreram muitos paisanos, até padres e frades, armados ou pedindo armas. O morro do Castelo transformou-se no reduto português. Força contra força. Mas não houve combate. Avilez, na madrugada de 12, foi em pessoa ao paço propor o recolhimento às casernas das tropas de uma e outra facção e obteve do príncipe, segundo o visconde de Cairu, a resposta de que se as forças portuguesas lhe desobedecessem ‘poria a elas e a ele [Avilez] barra a fora’” (cf. Octávio Tarquínio de Sousa, op. cit., vol. 2, p. 352).
Maria Graham, que esteve no Campo de Santana, escreveu que, às quatro da manhã do dia 12 de janeiro, quatro mil pessoas se concentravam lá, para enfrentar a tropa portuguesa, “não somente prontos, mas ansiosos para a ação, e, ainda que deficientes quanto à disciplina, formidáveis pelo número e pela disposição. Os portugueses de modo algum esperavam tal prontidão e decisão” (M. Graham, “Diário de uma Viagem ao Brasil – e de uma estada nesse país durante parte dos anos de 1821, 1822 e 1823”, trad. Américo Jacobina Lacombe, CEN, 1956, p. 203).
Por uma observação sobre o discurso de D. Pedro no Teatro de São João, na noite em que os portugueses começaram as depredações, pode-se tirar alguma conclusão do primeiro choque enfrentado pelas tropas de Avilez – isto é, quem resistiu primeiramente a elas. Diz Maria Graham que o então príncipe regente falou “que ele já havia dado ordens para reconduzir os soldados amotinados, que se haviam empenhado em briga com os negros, de volta a seus quartéis” (p. 202, grifo nosso).
Aliás, sobre o tema que nos ocupa, a senhora Graham é uma excelente fonte. Por exemplo, desembarcando em Pernambuco, durante a revolta de 1821 contra o capitão-general lusitano Luís do Rego, diz ela:
“Cerca de duas milhas adiante do último posto avançado das tropas de Luís do Rego, chegamos ao primeiro posto dos patriotas, em uma casa de campo numa encosta, com armas ensarilhadas à frente, e uma espécie de guarda esfarrapada, consistindo num negro de olhar alegre, com uma espingarda de caça, um brasileiro com um bacamarte, e dois ou três sujeitos de cor dúbia com cacetes, espadas, pistolas, etc., que nos disseram haver ali um oficial” (p. 126).
[NOTA: A autora, como outros naquela época, usa a palavra “brasileiro” como equivalente a “branco nascido no Brasil”. Embora, mesmo então, esse uso, que se refere a um país em mudança, não é fixo ou único.]
A descrição que ela faz de Pernambuco, por exemplo, é bastante, digamos, colorida:
“Fiquei impressionada com a grande preponderância da população negra. Pelo último censo a população de Pernambuco, incluindo Olinda, chegava a setenta mil, dos quais não mais de um terço era de brancos. Os demais são negros ou mulatos. Os mulatos, em geral, são mais ativos, mais industriosos e mais espertos que qualquer das outras classes. Acumularam grandes fortunas em muitos casos, e estão longe de ficar para traz na campanha pela independência do Brasil” (p. 137).
Mais adiante, visitando uma fazenda próxima ao Rio de Janeiro, ela diz:
“Saí antes do almoço em companhia de um carpinteiro negro como guia. Este homem, de alguma instrução, aprendeu seu ofício de modo a ser não só um bom carpinteiro, mas também um razoável marceneiro. Em outros assuntos revela uma rapidez de percepção que não dá fundamento à pretendida inferioridade da inteligência negra. Fiquei muito grata às observações que ele fez sobre muitas coisas que achei novidades, e à perfeita compreensão que parecia ter de todos os trabalhos de campo.
“(…) Contou-me [o dono da fazenda] que os negros crioulos [isto é, nascidos no Brasil] e mulatos são muito superiores em diligência aos portugueses e brasileiros, os quais, por causas não difíceis de serem imaginadas, são, pela maior parte, indolentes e ignorantes. Os negros e mulatos têm fortes motivos para esforçar-se em todos os sentidos e serem, por consequência, bem sucedidos naquilo que empreendem. São os melhores artífices e artistas. A orquestra da ópera é composta, no mínimo, de um terço de mulatos. Toda pintura decorativa, obras de talha e embutidos são feitos por eles; enfim, excelem em todas as artes de engenho mecânico” (p. 220).
CONCEPÇÃO
Parece bem estabelecido que a população – evidentemente, a população não escrava – apresentava, já em 1822, um elevado componente mestiço.
O primeiro Censo geral realizado no Brasil, 50 anos após a Independência, registrou que “nada menos que 3.330.390 eram ‘pardos’, 919.801 eram ‘pretos’, 387.075 eram ‘caboclos’ e os brancos eram 3.778.101”. Além disso, havia 1.510.806 escravos – e os índios não foram contados nem estimados (cf. nosso trabalho “A revolta dos escravos e o fim do Império”, HP 12/08/2016 a 07/10/2016).
Portanto, os brancos eram minoria (45%) entre a população não escrava – e, evidentemente, mais ainda na população total do Brasil (38%).
Não sabemos, com precisão, como era a distribuição da população 50 anos antes – mas a tendência, que esses números apontam, era, seguramente, a mesma.
Esta realidade não podia deixar de aparecer no pensamento dos homens da Independência. O principal deles escreveu:
“Nós não reconhecemos diferenças nem distinções na família humana: como brasileiros serão tratados por nós o china e o luso, o egípcio e o haitiano, o adorador do sol e o de Mafoma” (cf. José Bonifácio, in Octávio Tarquínio de Sousa, “O Pensamento Vivo de José Bonifácio”, Liv. Martins, 1944, p. 115).
José Bonifácio várias vezes abordou a questão da mestiçagem do povo brasileiro em seus escritos. E seu pensamento nem sempre foi o mesmo, porém, há uma constante: a recusa à concepção de inferioridade dos não-brancos. Pelo contrário, para ele a vida social – e especialmente as leis, que são uma expressão da vida social – decide tudo. Por exemplo, ele escreve:
“… a mistura de branco e preto é mais ativa que a mistura de brancos e índios”.
Porém, também escreve, sobre os índios, em uma nota, em parte, corroída pelo tempo:
“… homens sem capacidade, sem indústria, estúpidos e demais supersticiosos, mas as ideias de honra e as necessidades factícias os estimulam a trabalhar e adquirir: mudam e parecem outros homens, casam e geram filhos com mais capacidade e delicadeza que seus pais” (cit. em uma interessante dissertação acadêmica, que utilizamos bastante nesta parte de nosso trabalho: Letícia de Oliveira Raymundo, “Legislar, amalgamar, civilizar: A mestiçagem em José Bonifácio de Andrada e Silva (1783-1823)”, FFLCH/USP, 2011, p. 40).
A superioridade da mestiçagem sobre supostas raças puras (isto é, os brancos europeus), numa época em que, apenas algumas décadas antes, nada menos que Voltaire, uma das principais luzes do Iluminismo, escrevera sobre a inferioridade dos negros – e José Bonifácio sabia disso, pois era leitor de Voltaire – é sua forma de reação:
“a mistura de branco e preto é mais ativa que a mistura de brancos e índios”.
Ou, maldizendo aqueles que “folgam ser padres, rábulas, escrivães, porque são modos de vida que não carecem de trabalho aturado, e de boa conduta – ser lavrador e negociante exigiria deles atividade e mais economia, que detestam”, diz: “Os ofícios são para negros e mulatos, ou para os pobres de Portugal, que chegam de novo e ainda não estão afeitos à preguiça e orgulho bestial”.
Por fim:
“o mulato deve ser a raça mais ativa e empreendedora; pois reúne a vivacidade impetuosa e a robustez do negro com a mobilidade e sensibilidade do europeu”.
UNIVERSAL
É muito interessante – ou seja, é muito importante – o resumo que a autora citada acima faz do pensamento de José Bonifácio sobre a questão étnica:
“Suas preocupações estiveram voltadas especificamente para a população do Brasil, onde aludir à ‘raça’ implicava, sobretudo, pensar em diferentes condições sociais. Extrapolando a dimensão biológica, Bonifácio entendeu a mestiçagem (referida em seus escritos como mistura ou amalgamação) como um instrumento civilizatório, capaz de transmitir hábitos e valores tidos como universais. (…) Suas propostas tiveram como foco principal as camadas da população vistas como ‘inferiores’, ou seja, índios, negros, mulatos, mestiços e brancos pobres. Por meio do contato cotidiano e dos casamentos mistos, José Bonifácio esperava torná-los mais ‘ativos’ e, paralelamente, promover sua inclusão social através do trabalho, suplantando a necessidade da mão-de-obra escrava e, ao mesmo tempo, propiciando a ‘homogeneidade’ social.
“Apesar de favorecida pela mestiçagem, a qualidade ‘ativa’ não era inata a uma ou a outra ‘raça’ (…). Além disso, no ideário andradino, a questão do ‘branqueamento’ não se fazia presente. Ali, a mistura da população não visava atingir determinado tom de pele. Tampouco a cultura era pensada em termos racializados. Ao eleger as virtudes que deveriam ser difundidas entre os habitantes do Brasil, Bonifácio não aludia a uma cultura ‘branca’, mas à cultura que, como dito, entendia ser universal” (Letícia de Oliveira Raymundo, op. cit., p. 160, grifos nossos).
REVOLTA
Nas Cortes de Lisboa – e, em geral, entre os adversários da Independência – a ideia de fundo (e, depois, martelada abertamente) era a suposta inferioridade do Brasil em relação a Portugal (por consequência, em relação aos países europeus). Esta era a justificativa para a recolonização do Brasil – e não podia ser outra.
Antonio Carlos de Andrada – já na Inglaterra, depois de sair de Portugal para não jurar a constituição lusitana – ao redigir o “Protesto dos Deputados Paulistas”, refere-se a esse mote da bancada lusitana, que, diz, as medidas das Cortes de Lisboa pretendiam tornar realidade (cf. Correio Braziliense, vol. XXIX, nº 174, p. 533; o “protesto” é datado de 20/10/1822).
Mas, onde se podia localizar tal inferioridade, se o Brasil era maior, mais populoso, no geral tornara-se mais desenvolvido que Portugal, e, inclusive, era a terra dos indivíduos de maior destaque no Reino?
Um trecho da obra clássica de nossa historiografia que examinou a participação dos brasileiros nas Cortes de Lisboa, publicada por Gomes de Carvalho em 1912, pode esclarecer bastante de que inferioridade se falava.
Ao responder a um discurso, aliás, bastante moderado, de um deputado brasileiro, o deputado português José Joaquim Ferreira de Moura, uma das principais figuras das Cortes e da Revolução do Porto – um dos cinco membros da Junta de governo que tomou o poder em 1820 -, ao defender o envio de tropas da metrópole para submeter o Brasil, falou “com desdém da população do Brasil, inclinada à anarquia em consequência de a constituírem ‘negros, mulatos, brancos crioulos e brancos europeus’”.
E Moura continuou:
“A heterogeneidade destas castas põe paixões diversas em efervescência, e esta agitação não pode ser contida nos seus respectivos deveres senão pela força, e a força indígena não é capaz de os conter: é sim antes capaz de promover as mesmas desavenças porque se compõe dos mesmos elementos” (cf. Manuel Emílio Gomes de Carvalho, “Os Deputados Brasileiros nas Cortes Gerais de 1821”, Edições do Senado Federal, 2003, pp. 226-227).
O comentário de Gomes de Carvalho é, até hoje, pertinente:
“Era difícil a esse liberal ardente, que pregava sem cessar o direito dos povos de se governarem a seu gosto, conciliar a doutrina com a defesa de um ato que pressupunha o desconhecimento formal daquele direito. Esfalfou-se por isso em explicar que aprovava a expedição, não por ser ele contrário à independência, mas porque esta contrariava a opinião dominante em além-mar [ou seja, no Brasil].
“Podia-se-lhe responder que não havia necessidade de batalhões, e batalhões europeus, para reduzir semelhante minoria; mas Araújo Lima [o futuro marquês de Olinda] teve uma réplica fulminante. O respeito da vontade geral da América, ponderou, que persuadia o brilhante regenerador a impugnar a facção separatista, devia agora pô-lo ao lado dos brasileiros; porquanto se havia em além-mar um sentimento unânime e formulado com nitidez, era a aversão aos regimentos da metrópole. Deles todos se queixavam, Pernambuco e Rio repeliram-nos com as armas; e no entanto qual era a atitude do Moura? Promover e animar essas expedições” (M. E. Gomes de Carvalho, op. cit., 226-227).
Ressaltemos outra vez: essa era a opinião de um “regenerador” português do grupo mais extremista – o que correspondia, no Brasil da época, a um “liberal exaltado”. Se a então “esquerda” lusitana assim pensava, não é difícil concluir o que pensava a “direita”.
Frequentemente os deputados portugueses levantaram o Haiti – não o Haiti real, mas a versão paranoica-europeia dos acontecimentos que, entre 1794 e 1804, levaram à vitória da primeira revolução de independência das Américas – como suposto exemplo do que aconteceria no Brasil, se fosse consumada a Independência. O que provocou a réplica de Antonio Carlos:
“… clamam uns nobres preopinantes, e tem-se neste recinto aturdido a todos com a repetição da mesma linguagem: é para guardar os brasileiros contra os negros que se lhes mandam os batalhões não pedidos, antes detestados. Assombrosa audácia! Terrível zombaria acrescentada à mais escandalosa opressão! Tão ignorantes nos acreditam que imaginam recebemos como obséquio insultos e ofensas?! (…) Até quando há de continuar o vergonhoso comércio de falsidades e enganos, que pródigas entornam línguas de mel, ao mesmo tempo em que o coração está ensopado de mais refinado fel? Declare-se enfim a guerra abertamente: deputados haverá, e eu sou um deles, que preferirão a manejar inutilmente a imbele língua o lançar-se nas fileiras dos seus irmãos, e morrer nelas repulsando a injusta agressão de qualquer parte que ela venha” (Sessão de 22 de julho de 1822).
12
Nas Cortes de Lisboa – a Constituinte originária da Revolução do Porto, também chamada “Soberano Congresso” – o ponto de vista lusitano pode ser resumido, em geral, a que a Independência do Brasil era impossível.
Não são apenas as medidas tomadas pelas Cortes que mostram que o absurdo, em termos ideológicos, pode predominar – e, com efeito, predominou. Um dos principais deputados portugueses, Borges Carneiro – um dos líderes do levante de 1820 e um dos autores da Constituição que saiu das Cortes – disse, em discurso no plenário:
“O partido do príncipe [D. Pedro] não tem importância alguma; mandem-se [para o Brasil] militares e almirantes não afeiçoados ao paço, e com eles uma alçada para o exercício da Justiça, que se restaurará prontamente o respeito aos poderes públicos de Portugal.”
Dos deputados portugueses, Borges Carneiro é considerado até hoje – e com razão – o mais sensível às reivindicações brasileiras. Pode-se imaginar os outros.
Tais afirmações não eram iniciais nas Cortes de Lisboa, mas “diziam-se essas coisas quando já haviam soado no Congresso informações oficiais do entusiasmo com que os povos [do Brasil] acolhiam as resoluções do governo do Rio” (cf. Gomes de Carvalho, “Os Deputados Brasileiros nas Cortes Gerais de 1821”, ed. cit., p. 309).
Até homens moderados, como o deputado brasileiro Villela Barbosa – o futuro marquês de Paranaguá, ministro várias vezes e senador no reinado de Pedro II – foram, diante da atitude portuguesa, obrigados a radicalizar a própria posição. Por exemplo:
“Os povos não são rebanhos de ovelhas, cuja propriedade pertença a alguém. O Brasil tem tão livre a sua vontade e tanto direito de a manifestar como tem e teve Portugal no famoso dia 24 [de agosto de 1820: a Revolução do Porto]” (Villela Barbosa, sessão de 27/08/1822).
Se assim falava Villela Barbosa, pode-se intuir como se expressavam deputados brasileiros com a posição política de Cipriano Barata ou do padre Alencar – pai do romancista José de Alencar. Dizia, nas Cortes, Alencar:
“Não entrarei em minuciosa indagação dos artigos constitucionais prejudiciais ao Brasil. (…) falarei tão somente de um artigo constitucional, que, sendo prejudicial ao Brasil, está além disso reprovado e rejeitado absolutamente pelos brasileiros, isto é, que o Poder Executivo do Brasil nunca recaia na pessoa do herdeiro da Coroa e que Sua Alteza Real regresse para Portugal.
“Ora, por que fatalidade se faria este artigo ao mesmo tempo que todo o Brasil obrava em sentido contrário, assinando Sua Alteza regente defensor perpétuo do Brasil?
“Por que fatalidade o soberano Congresso, cujas deliberações não devem chocar diretamente com a vontade dos povos, havia de sancionar um artigo contrário à vontade expressa e geral de uma tão preponderante parte da nação?
“E se o soberano Congresso assim quis olhar, deverão os deputados brasileiros subscrever o ato da reprovação e indignação dos seus constituintes?
“É porventura ainda fato duvidoso que os brasileiros não querem que o príncipe venha para Portugal?
“Há alguma porção do Brasil que se não tenha declarado a favor dele, se excetuarmos o Pará e o governo do Maranhão, mas não o povo do Maranhão, como já ontem disse?
“A mesma Bahia, apesar de subjugada pelas armas europeias, não tem proclamado o príncipe em todas as vilas do Recôncavo?
“Pois então, como ainda se duvida da vontade geral do Brasil?
“E à vista disso devem os deputados brasileiros assinar a Constituição obrando expressamente contra a vontade dos seus constituintes?”
REVOLUÇÃO
Notemos que a disposição primeira dos deputados brasileiros não era pela separação do Brasil de Portugal. Mesmo aqueles que tinham participado de levantes republicanos contra a Coroa, como Cipriano Barata:
“O Brasil não se quer separar de Portugal, desde que os seus deputados aqui chegaram têm procurado a união: eu mesmo tenho falado sempre com a maior sinceridade e entusiasmo; mas o Congresso é incrédulo; pois eu afirmo que Portugal se não há de separar do Brasil, porque o Brasil não quer; o Brasil há de lançar-lhe arpéus com que o há de unir e prender a si; e ainda haverá quem diga que o Brasil aspira à desunião?”
Ou o deputado Antonio Carlos de Andrada, em seu primeiro discurso nas Cortes:
“A respeito de se dizer que os povos, apesar de gozarem os mesmos direitos, não hão de ter todos as mesmas comodidades, digo que isto, se assim fosse, a nossa união não duraria um mês. Os povos do Brasil são tão portugueses como os povos de Portugal e por isso hão de ter aqui iguais direitos. Enquanto a força dura, dura a obrigação de obedecer. A força de Portugal há de durar muito pouco, e cada dia há de ser menor, uma vez que se não adotem medidas profícuas e os brasileiros não tenham iguais comodidades” (sessão de 13/02/1822).
Essa era a disposição de dois deputados que estavam entre os maiores representantes do nacionalismo brasileiro de então. Somente para ressaltar o sentido em que evoluiu a luta dentro das Cortes de Lisboa, lembremos que Antonio Carlos, poucos meses depois, respondendo aos insultos assacados contra os brasileiros, dirá, da mesma tribuna: “Quando fala um deputado brasileiro, cala a canalha portuguesa” (cf. Casimiro Neto, “A Construção da Democracia: Síntese histórica dos grandes momentos da Câmara dos Deputados, das Assembleias Nacionais Constituintes e do Congresso Nacional”, Câmara, 2003, p. 63).
Enquanto isso, já em março de 1821, ao examinar os debates nas Cortes, escreveu Hipólito da Costa, no seu “Correio Brasiliense”, em artigo intitulado “Revolução no Brasil”:
“Não há produção de Portugal que o Brasil não possa comprar com seu ouro a melhor mercado, ou trocar por outras produções suas em países estrangeiros. Mas Portugal tanto precisa do Brasil, que o deputado das Cortes Fernandes Tomás, homem judicioso, e que se instruiu a fundo nesta matéria, foi obrigado a confessar no seu relatório às Cortes, que as exportações de Portugal para o Brasil estavam longe de contrabalançar o valor dos gêneros recebidos daquele país.”
[NOTA: Fernandes Tomás era o principal deputado português nas Cortes, maior líder da Revolução do Porto e membro da Junta que tomou o poder em 1820. Diz o principal historiador dessa revolução: “A primeira revolução liberal portuguesa tem a sua verdadeira personificação em Fernandes Tomás. O marquês de Pombal com a sua energia e vasta inteligência representa a revolução das ideias contra o passado dos jesuítas, da inquisição e dos frades; Manoel Fernandes Tomás representa a última palavra da grande obra pombalina, ou a revolução política” (cf. José D’Arriaga, “História da Revolução Portuguesa de 1820”, vol. 2, Portuense/Lopes & Cia., Porto, 1887).]
Hipólito da Costa estava exilado em Londres desde 1805, após escapar dos cárceres da Inquisição portuguesa, em que permanecera três anos por ordem de Pina Manique, o brutal chefe de polícia de Dª Maria I, a Louca, por ser maçom.
Em “Revolução no Brasil”, escrito um ano e meio antes da Independência – quando, mesmo no Brasil, permanecia o entusiasmo com a Revolução Liberal do Porto – Hipólito aponta para as injustiças contra a sua terra natal:
“Os procedimentos em Portugal, pelo que respeita o Brasil, têm até aqui levado uma direção mui errada; e até contraditória, que nos parece tendente a causar a separação daqueles dous Estados.
“… quando se promulgou em Portugal o regulamento para a eleição dos Deputados de Cortes, copiado da Constituição Espanhola, excluíram-se todos os artigos que diziam respeito aos domínios ultramarinos, dizendo-se que não tinham aplicação.
“Por que não tinham aplicação? (…) se o povo de Portugal assenta que como povo tem o direito de escolher para si a Constituição que quiser, e não a que outrem lhe imponha, seguramente deve convir que não tem direito de ir impor essa constituição, que fizer, ao povo do Brasil, que nela não teve parte.
“E que maior causa de divisão e discórdia se pode apresentar a duas porções de uma monarquia, do que tentar uma delas ditar leis constitucionais, sem primeiro buscar de ouvir o voto da outra?
“Um dos deputados das Cortes, que nelas tem mostrado mais justas ideias de política, propôs que se admitisse certa representação nominal, por meio de substitutos aos deputados das províncias ultramarinas. Sem entrar no escrupuloso exame desta proposição, nem de seus resultados práticos, podemos dizer que a mera adoção deste projeto mostraria o desejo das Cortes de reunir com Portugal, no sistema constitucional, as outras partes da Monarquia. Mas esta proposta encontrou mui geral oposição, e por motivos evidentemente especiosos; o que não pode deixar de produzir no Brasil o correspondente efeito.
“… Se, por outra parte, (…) os deputados que a isto se opuseram desejam a união política dos dous Reinos, aparecerá como inexcusável enfatuação tratar de bagatela todo o Reino do Brasil, superior ao de Portugal em extensão de território, em população, em riquezas, e em recursos de toda a qualidade.
“… Na sessão das Cortes em que tantos membros foram de parecer que não convinha procurar os deputados do Brasil, geralmente se admitiu que se chamassem deputados das Ilhas; ora, as razões que se expendiram contra os do Brasil, eram exatamente aplicáveis às Ilhas, logo há razão para supor que existem outros motivos, que se não alegaram.
“… além da linguagem dos Deputados há outras circunstâncias, como dissemos, concorrentes, que indicam desejos de não ter o Brasil unido com Portugal; e daremos um exemplo.
“O Edital da Junta do Comércio é um documento assaz notável, neste sentido. Proíbe a saída de marinheiros que não sejam os necessários à tripulação dos navios, para impedir a emigração para o Brasil.
“Primeiramente, mal vai ao povo na sua terra, se é preciso proibir-se-lhe que saiam dela; porque só a má vivenda pode obrigar os homens a deixar o seu país, em tal número, que precise isso impedir-se por medidas do Governo.
“Depois, quando se trata de emigração, isto se entende da saída da gente para um país estrangeiro: ora, se se considera o Brasil como parte de Portugal, a palavra emigração, e a proibição desta, são mui pouco aplicáveis.
“Se é reino unido, a passagem da gente de umas províncias para outras não pode chamar-se emigração; e a prisão dos indivíduos em uma província, a respeito de outra, mostra uma espécie de servidão, que mui mal se compadece com as presentes ideias de liberdade em Portugal.
“… não é possível que todos os povos do Brasil fechem os olhos ao abatimento a que se submetem, aceitando uma Constituição feita por quem os não quis consultar; e tornando assim o Brasil a retrogradar para o estado de colônia de Portugal, quando era já Reino, considerado igual em direitos, por concessão de seu Rei comum.
“… se o Brasil tem de ser administrado por leis feitas pelas Cortes de Portugal, sem os povos do Brasil serem nisso ouvidos, ficarão reduzidos a mera colônia.”
O fecho desse artigo é algo, até hoje, modelar – pela sua lucidez política e ao remeter o fundo da questão aos fatores econômicos:
“Ora, Portugal nem tem, nem pode ter, sequer o pão, que lhe é necessário para seu sustento; o Brasil, abundante em todas as produções necessárias, só precisa de que se lhe não impeça a indústria; a separação, portanto, dos dous Reinos, que os sentimentos das Cortes, em oposição ao projeto de procurar deputados do Ultramar, dão lugar para recear, não pode deixar de ser mui nociva a Portugal; e é em respeito a este, que a lamentamos” (v. Correio Braziliense, volume XXVI, nº 154, março/1821, pp. 339-345, grifos nossos).
CHEGADA
Afinal, foi admitida a representação brasileira nas Cortes de Lisboa, embora com os deputados de Portugal em esmagadora maioria. Nas palavras de Cipriano Barata, nas Cortes: “Mas que sucesso pode ter o meu discurso, quando os ilustres membros são mais de cem, e nós, brasileiros, trinta ou quarenta, que, à exceção de poucos, os mais são tais e quais e nada valem” (Cipriano referia-se, nesta última parte, aos deputados que, embora nascidos no Brasil, oscilavam seus votos, às vezes em proveito da posição lusitana).
Ao todo, tomaram posse, em várias levas, 48 deputados brasileiros, um deles falecido logo após a posse (o bispo Dom José Joaquim de Azeredo Coutinho, representante do Rio de Janeiro). Não foram poucos os deputados que resolveram ficar no Brasil para participar do movimento da Independência, ao invés de ir a Lisboa – inclusive todos aqueles da província que elegera maior número de deputados: Minas Gerais.
Os primeiros deputados brasileiros que chegaram a Lisboa foram os seis representantes de Pernambuco, quase todos revolucionários de 1817 ou simpatizantes daquela revolução. Um deles era o padre Muniz Tavares, companheiro de Antonio Carlos de Andrada na prisão, que escreveria a principal obra sobre aquele acontecimento.
O deputado mais jovem da bancada pernambucana, com 28 anos, era Pedro de Araújo Lima, que seria regente após a abdicação de D. Pedro I, ministro e presidente do conselho de ministros no 2º Império – e seria mais lembrado pelo título que recebeu em 1854: marquês de Olinda.
Nessa época, 1821, talvez pela juventude, Araújo Lima ainda não era, pelo menos não definitivamente, aquele “espírito grave e profundamente conservador, (…) que será durante quarenta e nove anos de vida pública” (v. Gomes de Carvalho, op. cit., p. 93).
Os deputados da Bahia – inclusive Cipriano Barata, o mais velho, notável e famoso de todos, já com 60 anos – e de Alagoas só em meados de dezembro de 1821 desembarcaram em Lisboa.
Somente em janeiro de 1822 chegaram os primeiros deputados paulistas – Antonio Carlos, o padre Feijó e Vergueiro (que, nascido em Portugal, residia no Brasil desde 1803; depois da Independência, escolhendo a nacionalidade brasileira, foi senador do Império).
UM HOMEM
O primeiro deputado brasileiro a perceber que estava diante de uma tentativa de recolonização do Brasil foi, justamente, Cipriano Barata.
Dois dias após a sua posse como deputado às Cortes de Lisboa, na sessão de 17 de dezembro de 1821, Cipriano propôs o adiamento de qualquer discussão sobre o Brasil até que toda a bancada brasileira estivesse em Portugal.
A proposta significava apenas, como nota Gomes de Carvalho, o respeito ao artigo 21 das Bases da Constituição, aprovadas pelas Cortes em março de 1821 – e até juradas pelo rei.
No entanto, isso provocou tal agitação entre os deputados portugueses, que confirmou o sentimento de Cipriano Barata sobre a tentativa de recolonização. Mas era algo novo, ainda, esse sentimento. Nem a bancada brasileira já presente nas Cortes – com exceção do deputado Borges de Barros, também da Bahia – apoiou a proposta de Cipriano, que a retirou.
Porém, com um incidente que provocou tremenda algazarra nas Cortes, Cipriano Barata marcou o limite da tolerância brasileira. Não muito surpreendentemente, o incidente foi com um deputado brasileiro que favorecia Portugal, e não com um deputado português.
Depois de um debate sobre a ocupação de Salvador pelo general lusitano Madeira (ver a décima parte desta série de artigos), Cipriano brigou e jogou escada abaixo um deputado de nome Pinto da França. A descrição do episódio, por Gomes de Carvalho, tem interesse para o nosso tema:
“Barata, o idealista Barata, a quem leis sem espírito de justiça não passavam de abuso de poder, e não deviam ser respeitadas, explodiu acerbamente contra o colega. (…) A comissão de polícia e a comissão de regimento interno pronunciaram-se severamente contra o férvido ancião, propondo a última a sua exclusão da assembleia até que a justiça ordinária julgasse o crime. Lino Coutinho e Antônio Carlos impugnavam o parecer por aplicar pena sem devassa e prevenir, por conseguinte, o ânimo dos juízes”.
Pinto da França, que era militar de profissão (já era general no exército português), tinha 10 anos menos que Cipriano Barata. Este, além disso, era um homem de altura tão pequena, que ele mesmo se dizia “breve de corpo e resoluto de espírito” – o que era verdade.
Talvez por isso, dias depois, Pinto da França voltou ao plenário, algo contundido, inclusive no rosto, desistindo da ideia – que assustara Feijó – de duelar com o adversário.
13
Muito se escreveu sobre a relação entre o Estado monárquico no Brasil e a preservação da unidade nacional.
Em muitos textos históricos, aborda-se esta questão como se a monarquia fosse a única forma de manter a unidade de um país tão grande – e tão mais heterogêneo do que hoje, a julgar pelas observações de Saint-Hilaire ao viajar por nosso território, entre 1816 e 1822.
Do ponto de vista teórico, a tese é, no mínimo, duvidosa.
Para os homens da Independência, nunca foi um problema teórico, pelo menos desde o último trimestre de 1821. A unidade do Brasil era uma questão prática, uma questão de política atual – isto é, da época, pois, desde 29 de setembro do ano anterior à Independência, quando as Cortes decretaram que cada província (as antigas capitanias) do Brasil deveria obedecer diretamente a Portugal, com a dissolução da Regência – o governo de D. Pedro, no Rio de Janeiro – a unidade política do Brasil deixara, formalmente, de existir.
Por essa política de desmembramento do Brasil, o governo do Rio, pelos decretos de 29 de setembro (decretos nº 124 e nº 125), seria substituído por “juntas” em cada província – “juntas”, aliás, sem poder efetivo, já que não teriam a direção militar nem a administração financeira ou judiciária, que dependeriam de Lisboa.
Nas Cortes, foi um deputado baiano, Lino Coutinho, participante da “junta” que desligara a Bahia do governo do Rio, em fevereiro de 1821, que fez a condenação mais eloquente à fragmentação do Brasil.
Ao chegar a Lisboa, Coutinho ainda era partidário das “juntas” em cada província. Porém, sua opinião mudou, no correr dos debates. Na sessão de 3 de julho de 1822, ao repelir a proposta de criação de “agentes d’el-rei” em cada província do Brasil, disse ele:
“Longe, longe de nós semelhante ideia desorganizadora da unidade brasiliense. O Brasil é um reino, bem como Portugal; ele é indivisível, e desgraçados daqueles que tentam contra a sua categoria e grandeza, desmembrando as suas províncias para aniquilar o que tão liberalmente lhe foi concedido pelo imortal D. João VI, baseado em seu desenvolvimento político e em suas riquezas naturais. Jamais como deputado do Brasil consentirei em tão feio atentado: o nosso país há de reviver ou morrer com dignidade de um reino único e indivisível” (grifo nosso).
Lino Coutinho, como demonstraria sua carreira posterior (ou até mesmo pela maneira de mencionar D. João VI no trecho acima), estava muito longe de ser um radical ou progressista, do ponto de vista social. Entretanto, a questão da unidade nacional foi suficiente – afinal, não era qualquer questão – para fazê-lo recusar a Constituição portuguesa que saiu das Cortes.
Ele esteve entre os deputados brasileiros que preferiram sair de Portugal do que jurar essa Constituição. Os outros foram Antônio Carlos de Andrada, Cipriano Barata, o padre Diogo Antonio Feijó, Silva Bueno, Costa Aguiar de Andrada e o padre Francisco Agostinho Gomes.
Embora esse específico ato de recusa, sobretudo pelo manifesto lançado por esses deputados brasileiros ao chegar em Falmouth, Inglaterra, tenha sido importante para o movimento da Independência, acrescentaremos que, na bancada do Brasil, a recusa a jurar a Constituição das Cortes foi mais ampla: 29 deputados recusaram-se a jurar e 18 juraram essa Constituição.
É verdade, também, que o significado desse juramento tornou-se nulo em pouco tempo – homens como Pedro de Araújo Lima e Villela Barbosa, que assumiriam importantes funções após a Independência, estavam entre os que juraram.
Mesmo assim, o ato de Antonio Carlos, Cipriano Barata e seus companheiros, ao sair de Portugal, teve, na época, como registrou Hipólito no “Correio Brasiliense”, importância política. Diz o manifesto de Falmouth:
“Desde que tomaram assento no Congresso de Portugal, lutando pela defesa dos direitos e interesses de sua Pátria, do Brasil e da Nação em geral, infelizmente [os que assinam o manifesto] viram malogrados todos os seus esforços, e até avaliados estes como outros tantos atentados contra a mesma Nação.
“O desprezo e as injúrias andaram sempre de companhia à rejeição de suas propostas; e depois de verem com dor de seus corações todos os dias meditar-se, e por-se em execução, planos hostis contra o Brasil, apesar de suas repetidas e vivas reclamações, se lhes ofereceu para assinar e jurar a Constituição, aonde se encontram tantos artigos humilhantes e injuriosos ao seu país, e talvez nem um só que possa, ainda de um modo indireto, concorrer para sua futura, posto que remota prosperidade.
“Os abaixo-assinados não podiam, sem merecer a execração dos seus concidadãos, sem ser atormentados dos eternos aguilhões da consciência, sem sujeitar-se à maldição da posteridade, subscrever, e muito menos jurar, uma tal Constituição, feita como de propósito para exaltar e engrandecer Portugal à custa do Brasil, recusaram portanto fazê-lo” (Correio Brasiliense, vol. XXIX, nº 174, novembro/1822, pp. 530-532).
RAZÃO
Já se disse que, em 1821, na vaga da Revolução Portuguesa (24 de agosto de 1820), todos, no Brasil, eram – ou se diziam – liberais. O que incluía até mesmo o príncipe herdeiro, D. Pedro – que confirmaria seu credo liberal até a morte, quando, depois de abdicar ao trono brasileiro, desembarcou em Portugal, rompeu o cerco na cidade do Porto e derrotou as tropas de seu irmão, o absolutista D. Miguel.
Mas o que era esse liberalismo?
Sua essência estava, então, no espírito anti-absolutista – basicamente na ideia de que os homens deviam ser regidos por leis, a começar por uma Constituição, e não pelo arbítrio de outros homens. Essa ideia, expressa por uma série de personalidades políticas, tinha como seu conteúdo a recusa a se submeter à dominação feudal, que aparecia sempre como sujeição pessoal.
Mas aqui temos uma complicação: uma vez estabelecido um “regime de leis”, foi possível aos liberais, no Brasil, conviverem, durante 66 anos, com a escravidão. No Brasil, inclusive, seria correto dizer que os conservadores surgiram como dissidência dos liberais, a começar pelo seu primeiro chefe, Bernardo Pereira de Vasconcelos.
É interessante – aliás, é reveladoramente essencial – que José Bonifácio, sempre acusado de não ser um “liberal”, de não ser um “democrata” (como se liberal e democrata fossem sinônimos), fosse muito mais oposto à escravatura do que seus adversários, supostamente mais à esquerda.
Nele, predominava a concepção, que se revelará inteiramente justa na estagnação econômica ao fim do segundo reinado, de que “não pode haver indústria segura e verdadeira, nem agricultura florescente e grande com braços de escravos viciosos e boçais. Mostra a experiência e a razão que a riqueza só reina onde impera a liberdade e a justiça, e não onde mora o cativeiro e a corrupção” (cf. José Bonifácio, “Representação à Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil sobre a escravatura”, 1823).
Para ele, os rapapés supostamente liberais eram uma farsa, pois, “como poderá haver uma Constituição liberal e duradoura em um país continuamente habitado por uma multidão imensa de escravos brutais e inimigos?” (idem).
Nessa rejeição ao formalismo liberal estava, em José Bonifácio, justamente, a sua essência como verdadeiro democrata. Ele desprezava as aparências – que eram chamadas de “liberalismo” – para ir à essência: a consideração de todos os seres humanos como membros da mesma espécie, o que significava, no Brasil, como premissa, a abolição da escravatura.
Era ele, a propósito, um grande conhecedor da literatura econômica de seu tempo, inclusive daquela que era fundamento do liberalismo – e que tanto fascinava, por exemplo, o visconde de Cairu (a obra de Adam Smith, “A Riqueza das Nações”, fora publicada em 1776, portanto, quase 50 anos antes da Revolução da Independência).
Um dos apontamentos de José Bonifácio é bem uma introdução ao seu pensamento sobre o liberalismo econômico:
“Quando o espírito mercantil predomina, quando se avalia cada ação como cada mercancia, vendem-se os talentos e virtudes e todos são mercadores e ninguém é homem.”
A LUTA
Em vários momentos de sua monumental – e imprescindível – “História dos Fundadores do Império do Brasil”, Octavio Tarquínio de Sousa associa a queda de José Bonifácio do Ministério de D. Pedro I à ascensão – ou à pressão – dos senhores e traficantes de escravos. Por exemplo:
“Enquanto todos ou quase todos os dirigentes do momento, impressionados de preferência pelo lado meramente exterior dos acontecimentos, julgavam possível e natural a criação de um Império constitucional sem adotar nenhuma medida contra a escravidão, José Bonifácio para logo se convenceu de que essa era a grande questão a enfrentar. Todos os males econômicos, sociais, políticos e morais do regime do trabalho servil, expôs e condenou na sua notável Representação à Assembléia Constituinte sobre a escravatura. Apeado do poder em grande parte por esposar essas ideias, exilado, proscrito da vida pública, predominariam os interesses dos senhores de engenho e fazendeiros empenhados na exploração latifundiária da terra, tendo a seu serviço os traficantes de escravos, ricos comerciantes portugueses, de ganância implacável” (Octavio Tarquínio de Sousa, op. cit., vol. IX, p. 25, grifo nosso).
Ou, mais adiante, no mesmo volume:
“Crises políticas da maior gravidade acarretaram a queda de José Bonifácio do governo. Os grandes traficantes de negros conluiados com os proprietários rurais prepararam a proscrição do estadista de tão larga visão” (p. 66, grifo nosso).
Aqui, é necessário, em nossa opinião, voltar à luta política anterior, entre os partidos que fizeram a Independência.
Pois, o conflito entre o partido dos Andradas – então no governo – e o grupo original da maçonaria (cujos principais líderes eram Gonçalves Ledo, José Clemente Pereira, Januário da Cunha Barbosa, Domingos Alves Branco Muniz e Luís Pereira da Nóbrega de Sousa Coutinho) é, ainda, um dos episódios mais intrigantes – em vários sentidos – da Independência do Brasil.
Não se trata de que tenha sido pouco abordado. Pelo contrário: esse conflito deu origem a uma vasta gama de interpretações, que podemos resumir – ainda que seus autores, provavelmente, não concordem com essa redução de outras interpretações a variantes destas duas – aos que afirmam o papel central de José Bonifácio na revolução da Independência (como Oliveira Lima e Octávio Tarquínio de Souza), e àqueles que negam esse papel, em geral ressaltando o papel de Gonçalves Ledo como substituto.
[NOTA: O melhor exemplo, no século XIX, dessa última tendência, é Mello Moraes em “A Independência e o Império do Brasil”, Rio, 1877. Depois, na República Velha, Assis Cintra condensou as alegações contra José Bonifácio – e a favor de Ledo – em “O Homem da Independência”, 1921. Um texto mais moderno e interessante – na primeira tendência – é o de Emília Viotti da Costa, “José Bonifácio: mito e história”, in “Da Monarquia à República: Momentos Decisivos”, Unesp, 6ª ed., 1999, pp. 61-130).]
Depois de meses de tensão entre os dois partidos, no dia 30 de outubro de 1822, foi desencadeada o que alguns chamaram de “Bonifácia”, com a prisão de José Clemente Pereira, Januário da Cunha Barbosa, Domingos Alves Branco Muniz Barreto, Nóbrega e outros líderes da maçonaria, depois deportados para a França. Gonçalves Ledo conseguiu, com a ajuda do cônsul da Suécia no Rio, asilar-se em Buenos Aires.
Todos – quatorze réus – foram julgados a 5-7 de julho de 1823. Todos, com exceção de Soares Lisboa, dono do “Correio do Rio de Janeiro”, foram absolvidos da acusação de fazer parte de “uma facção oculta e tenebrosa de furiosos demagogos e anarquistas” (portaria de José Bonifácio de 11/11/1822) e voltaram ao Brasil.
Seria um pequeno exílio, diante dos seis anos que os Andradas permaneceram no exterior, após a dissolução da Constituinte (12 de novembro de 1823), com sua prisão e deportação – também para a França.
Na aparência, essa comparação não é pertinente, e parece nada significar histórica e politicamente. Mas não é assim.
DISPUTA
Examinemos a questão sob o ângulo dos adversários dos Andradas.
Já em 14 de setembro de 1822 – sete dias após o Ipiranga – o grupo da maçonaria desfechou um ataque a José Bonifácio, durante a substituição deste por D. Pedro como grão-mestre. Saudando-o, o brigadeiro (isto é, general de brigada) Domingos Alves Branco Muniz Barreto – um dos mais ilustres maçons – condenou “o ciúme que se atiça contra a nossa franqueza e lealdade por aqueles que pretendem desvairar-vos do trilho que tendes seguido [que] vos quer fazer inúteis as nossas honrosas fadigas e a nossa vigilância. Não acrediteis que é por amor de vós; mas sim pelo bom sabor do despotismo que eles pretendem estabelecer, a coberto da vossa autoridade. Apartai-vos, digno grão-mestre, de homens coléricos e furiosos. Por mais cientes que eles sejam, nunca acham a razão e só propendem para o crime. Vós tendes sabedoria, prudência, comedimento e moderação; portanto não vos deixeis abandonar a malvados”.
A 28 de maio de 1822, quando se organizara o Grande Oriente do Brasil – tornando a maçonaria brasileira independente de suas congêneres de outros países -, José Bonifácio fora eleito grão-mestre. É verdade que ele próprio organizara uma sociedade que concorria com a maçonaria – o Apostolado -, provavelmente por desconfiança do grupo de Ledo. Mas, a eleição de José Bonifácio para dirigente máximo do Grande Oriente marcava a aliança entre os Andradas e o grupo de Ledo e Clemente.
Três meses depois, a 20 de agosto, na ausência do grão-mestre José Bonifácio, esse grupo o destituiu, rebaixando-o a “grão-mestre adjunto”. É verdade que seu substituto era o próprio príncipe, que tomaria posse em setembro. Nesta mesma reunião, “Ledo propusera que se aclamasse o príncipe D. Pedro rei do Brasil, e Domingos Alves Branco Muniz Barreto que a aclamação fosse de imperador e não de rei” (cf. Octavio Tarquínio de Sousa, op. cit., vol. 1, 2ª ed., José Olympio, Rio, 1957, p. 222).
A descrição do que ocorreu logo depois da Independência – a divergência entre os Andradas e o grupo da maçonaria sobre o “juramento prévio” de aceitação da Constituição, que fosse elaborada pela Assembleia Constituinte (juramento que, segundo o último grupo, D. Pedro deveria realizar) – como o conflito entre um “partido democrático” e um partido que tendia ao absolutismo, é de todos os modos e sob todos os ângulos, completamente superficial. Ou, mais do que isso, errada.
A principal questão democrática dessa época era a própria questão nacional – isto é, a Independência. Nesse sentido, é absolutamente clara a mensagem de José Bonifácio que alcançou D. Pedro nas margens do Ipiranga (“Senhor o dado está lançado e de Portugal não temos a esperar senão escravidão e horrores. Venha V. A. R. quanto antes e decida-se; porque irresoluções e medidas d’água morna, à vista desse contrário que não nos poupa, para nada servem e um momento perdido é uma desgraça”).
Ou seja, a ausência de democracia é uma direta consequência do jugo lusitano. A medida democrática mais decisiva é, portanto, a Independência (nas palavras de José Bonifácio: “Sem independência, não há para as nações nem Constituição, nem liberdade, nem pátria”).
Segundo, os integrantes do grupo da maçonaria (sobretudo José Clemente Pereira, que teve uma longa e bem sucedida trajetória política, mas o próprio Ledo, além de Januário Barbosa, para citar os principais), após sua absolvição conviveram muito bem com o regime da Constituição de 1824, inclusive no Segundo Reinado.
Terceiro, na outra questão democrática importante – o tráfico e a escravidão negreira – a posição dos Andrada estava anos-luz mais avançada que a posição de seus adversários de 1822.
Voltemos aos acontecimentos políticos.
14
João Manuel Pereira da Silva, além de político do Partido Conservador – chegou a conselheiro imperial e senador – foi autor, entre outras obras, de uma “História da Fundação do Império Brasileiro”, em sete tomos, publicada entre 1864 e 1868.
Nessa obra, Pereira da Silva marca a agudização da luta política entre os Andradas e a maçonaria a partir da campanha pela convocação, antes da Independência, de uma Constituinte:
“Começou o periódico Revérbero [o jornal de Gonçalves Ledo e do padre Januário da Cunha Barbosa] a tratar desta questão importante, e a iniciar uma propaganda que tendesse a mudar o conselho de procuradores por uma assembleia legislativa, atribuindo a D. Pedro ideias liberais, e ao ministério de José Bonifácio a causa de se não realizarem elas com o seu necessário vigor e desenvolvimento, pelos desejos que nutria o ministério, de conservar todo o arbítrio e reprimir toda a oposição.
“Nos artigos que escrevia Ledo notavam-se talento particular de polêmica, instrução variada das doutrinas de liberdade política e de regime parlamentar, e estilo fluido, elegante e agradável, que atraía a atenção e excitava o interesse. Produzia assim o Revérbero imensa sensação, arrastava os espíritos, e agrupava-os em torno dos verdadeiros princípios e máximas do governo representativo. Incomodava tanto mais o ministério quanto unia a uma lógica tenaz e cerrada fórmulas moderadas e finas, à oposição decente contra os atos governativos uma dedicação decidida e extrema, uma afeição grata e sincera ao príncipe regente, que preconizava como o anjo tutelar do Brasil, e cujos sentimentos briosos e cavalheirescos e opiniões livres incessantemente encomiava” (cf. J.M. Pereira da Silva, op. cit., Tomo VI, Livro 11, Garnier, 1865, pp. 4-5).
Ao consultar a coleção (que está, hoje, digitalizada) do “Revérbero Constitucional Fluminense”, é forçoso concordar com Pereira da Silva.
Do mesmo modo, é o manifesto ao povo do Rio, escrito por Gonçalves Ledo após o Ipiranga e a volta de D. Pedro à capital:
“Cidadãos!
“A liberdade identificou-se com o terreno americano: a Natureza nos grita Independência; a Razão o insinua, a Justiça o determina, a Glória o pede; resistir é crime, hesitar é de covardes; somos homens, somos brasileiros.
“Independência ou Morte!
“Eis o grito de Honra, eis o brado nacional, que dos corações assoma aos lábios e rápido ressoa desde as margens do corpulento Prata, quase a tocar o gigantesco Amazonas. A impulsão está dada, a luta encetou-se, tremam os tiranos, a vitória é nossa.
“Coragem! Patriotismo! O grande Pedro nos defende: os destinos do Brasil são os seus destinos. Não consintamos que outras províncias mais do que nós se mostrem agradecidas.
“Eis um passo, e tudo está vencido. Aclamemos o digno herói, o magnânimo Pedro, nosso primeiro Imperador Constitucional. Este feito glorioso assombre a Europa, e, recontado por milhares de cidadãos em todos os climas do universo, leve à posteridade o festivo anúncio da Independência do Brasil.”
Porém, o mais notável na obra de Pereira da Silva, um empedernido escravagista, é, precisamente, o modo elogioso com que trata Gonçalves Ledo, ao contrário do modo como trata José Bonifácio – e seu irmão mais novo, Martim Francisco – retratados como autoritários, ditatoriais, persecutórios, inimigos das liberdades públicas.
[NOTA: Sobre a relação com o escravagismo de Pereira da Silva – nascido em uma das principais famílias, no Brasil de então, de comerciantes portugueses, o que quase sempre era sinônimo de traficantes de escravos -, se não bastassem os seus prolixos discursos, quando deputado, contra a Lei do Ventre Livre, restariam trechos de suas memórias, publicadas em 1896 (ou seja, já no período republicano). P. ex., diz ele sobre o período posterior à lei que proibiu o tráfico de escravos: “Executava-se com retidão a lei que secara a fonte principal e única da manutenção do cativeiro. Não se importando da África mais nenhum escravo, não nascendo mais nenhum que não fosse reputado livre, reduzidos ao cativeiro os pretos que existiam e que a morte devia arrebatar uns após outros, notava-se o porvir desassombrado da escravidão, que em poucos anos devia inteiramente desaparecer sem que grandes abalos prejudicassem os progressos da nação. (…) Convertidas em lei, os proprietários de escravos em suas fazendas timbravam em dar exemplo de exata obediência”. Porém, esses cidadãos modelares, tão respeitadores das leis, e que tanto contribuíam para o Brasil com a chibata no lombo dos seus “pretos”, tinham um problema, comenta ele, quase de passagem: “Na situação angustiada que a propaganda da emancipação dos escravos colocara a agricultura, que florescia somente com o trabalho dos cativos…”, etc. (cf. J. M. Pereira da Silva, Memórias do Meu Tempo, ed. Senado Federal, 2003, pp. 451 e 552).]
PROJETO
Isso não quer dizer, naturalmente, que tenha sido pouca a contribuição de Gonçalves Ledo, José Clemente Pereira, Januário da Cunha Barbosa, e outros membros da maçonaria, para a Independência.
O que queremos aqui ressaltar é uma questão de caráter de classe, pois, a oposição dos Andradas à escravidão, que era, primeiro, uma questão humana (José Bonifácio escreveu: “Se os gemidos de um bruto nos condoem, é impossível que deixemos de sentir também certa dor simpática com as desgraças e misérias dos escravos; mas tal é o efeito do costume e a voz da cobiça, que veem homens correr lágrimas de outros homens sem que estas lhes espremam dos olhos uma só gota de compaixão e de ternura”), também, ao mesmo tempo, era algo que adquiria sentido dentro de um projeto nacional de desenvolvimento do país, que favorecia, já naquela época, a industrialização – evidentemente, industrialização nos limites técnicos então existentes (como, por exemplo, preconizara Alexander Hamilton para os EUA, em seu “Report on Manufactures”, apresentado ao Congresso norte-americano em 1791, portanto, mais de 30 anos antes da Independência do Brasil).
Ledo e Clemente não parecem perceber, em nenhum momento, a importância dessa questão – pelo menos não com a importância que realmente tinha. Ledo, em especial, mantém-se nos limites estritos do liberalismo da época. O que era pouco para as necessidades do país.
Ao localizar essa diferença entre os Andradas e seus adversários, torna-se menos inexplicável o conflito entre eles – assim como o destino posterior dos próprios Andradas, em um país onde a classe dominante passara a ser, incontestavelmente, a dos senhores de escravos.
Também, a partir daí, parece mais compreensível a influência, depois da Independência, do “partido português” (isto é, do partido dos traficantes de escravos), com a formação do “gabinete secreto” (o “Chalaça” & cia., com a marquesa de Santos, etc.) e os acontecimentos que levaram à explosão do sete de abril de 1831, com a abdicação do primeiro imperador.
[NOTA: Para os leitores interessados nos acontecimentos do período que vai de 1822 a 1831 (isto é, o primeiro reinado), que não abordaremos nesta série (exceto quando possa esclarecer algo sobre a Independência), o secretário particular de D. Pedro, Francisco Gomes da Silva, conhecido como o “Chalaça”, após sua demissão e saída do Brasil – debaixo da pressão pública, em 1830 – publicou um livro de memórias em que, ao pretender fazer sua própria defesa, produz um interessante panfleto do “partido português”; por exemplo, sobre a Assembleia Constituinte de 1823: “parecia querer-se começar a independência brasileira pela destruição do Brasil”; ele não cita os Andradas pelo nome, mas a referência é clara quando escreve sobre “planos adotados por certos homens de notórios princípios destruidores” para “roubar” os bens dos portugueses no Brasil; cf. “Memorias offerecidas a nação brasileira pelo Conselheiro Francisco Gomes da Silva”, L. Thompson, Londres, 1831, p. 47.]
Houve, inclusive, alegações de que José Clemente Pereira – que nascera em Portugal e somente chegara ao Brasil em 1815, com 28 anos de idade – tinha relações com o “partido português”. José Honório Rodrigues, no quinto volume de “Independência: revolução e contrarrevolução”, vai até mesmo mais longe:
“… tudo faz crer que ele [Clemente] persuadiu os portugueses, comerciantes e proprietários, que seria do interesse deles, senão a Independência, pelo menos a autonomia, com a liberdade comercial, os tribunais superiores, os privilégios do cidadão, tais quais existiam com o Reinado”.
Antes de José Honório Rodrigues, já falara disso Tristão de Alencar Araripe, em 1870, numa conferência depois reproduzida, em 1894, na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
Como Alencar Araripe, em geral, é um autor criterioso, que apresenta os fatos, mesmo quando sua opinião a respeito deles é discutível, citamos o que ele disse:
“A aceitação da causa do Brasil por parte de José Clemente foi também de máximo proveito para essa mesma causa. Homem ativo e enérgico, ele trabalhou com empenho pela ideia nacional, mas a proficuidade do seu concurso nasceu de outro motivo.
“Grande parte da população do Brasil em 1822 era de nascimento português; e quando agitou-se a questão da independência da nossa pátria, essa população dividiu-se: parte queria a independência da pátria americana, porque já considerava o Brasil idôneo para tratar da sua própria ventura; parte a impugnava, porque na estreiteza das suas ideias reputava crime o querer o Brasil a própria liberdade.
“Na parte da população portuguesa favorável à independência estavam os cargos públicos, a riqueza e a ilustração: José Clemente era alma e direção dessa importante massa.
“Aderindo ele à causa do Brasil não era um simples voto, que pronunciava-se por essa causa; era um partido poderoso, que por ela vinha combater. Daí pois mostra-se quão valioso foi o concurso desse atleta para a causa da independência. Ele não trazia simplesmente um nome, nem uma individualidade: trazia após si um partido e uma força considerável” (cf. Tristão Alencar Araripe, “Patriarcas da Independência Nacional”, RIHGB, tomo LVII, parte 1, pp. 175-176).
Ressaltemos que a conferência de Alencar Araripe tem o objetivo de retirar José Bonifácio do lugar único de “Patriarca da Independência”, com a sagração de mais dois “patriarcas”: D. Pedro I, e, exatamente, José Clemente Pereira.
Portanto, trata-se de um texto altamente favorável a Clemente Pereira, em que sua relação com os portugueses que residiam no Brasil é tratada como uma vantagem para o nosso país e um mérito de Clemente.
É possível, é até mesmo provável, que seja verdade. Mas, realmente, gostaríamos de mais provas a esse respeito. Infelizmente, não as encontramos nos autores que alegam essa relação, nem mesmo em José Honório Rodrigues. O fato de que Clemente nascera em Portugal é insuficiente, nos parece, para essa conclusão.
Porém, se aceita como premissa essa relação entre Clemente – apesar de toda a sua identificação com o Brasil – e os portugueses, seria mais fácil ajustar à sua figura histórica alguns acontecimentos, por exemplo, seu projeto, apresentado em 19 de maio de 1826, de proibir o tráfico de escravos em… 31 de dezembro de 1840, ou seja, 14 anos depois! (cf. Calógeras, “A Política Exterior do Império”, ed. cit, vol. 2, p. 495).
Realmente, Clemente Pereira não demonstrava desconforto com a escravidão. Nas palavras de um de seus apologistas (e, por sinal, dos melhores):
“Possuía José Clemente duas fazendas denominadas das Cruzes e Santa Eugenia, em Vassouras, onde tinha perto de 400 escravos. Não admitindo ele o concubinato dos servos, eram casados a maior parte deles. A cada mãe de sete crias, concedia ele a carta de alforria” (cf. Ernesto Senna, José Clemente Pereira, RIHGSP, vol. XII, 1907, p. 72).
CATIVEIRO
Essa incursão no relacionamento dos adversários de José Bonifácio com a escravidão tem apenas o sentido de caracterizá-los, mais precisamente, em termos de classe social.
Sobre Gonçalves Ledo, podemos apenas dizer que não se conhece um texto – ou um pronunciamento – sobre a escravidão que seja tão claro como aquele de José Bonifácio:
“É preciso pois que cessem de uma vez os roubos, incêndios e guerras que fomentamos entre os selvagens da África. É preciso que não venham mais a nossos portos milhares e milhares de negros, que morriam abafados no porão dos nossos navios, mais apinhados que fardos de fazenda: é preciso que cessem de uma vez todas essas mortes e martírios sem conta, com que flagelávamos e flagelamos ainda esses desgraçados em nosso próprio território.
(…)
“Com efeito, senhores, nação nenhuma talvez pecou mais contra a humanidade do que a portuguesa, de que fazíamos outrora parte. Andou sempre devastando não só terras da África e da Ásia, como disse Camões, mas igualmente as do nosso país. Foram os portugueses os primeiros que, desde o tempo do infante D. Henrique, fizeram um ramo de comércio legal de prear homens livres, e vendê-los como escravos nos mercados europeus e americanos. Ainda hoje perto de 40 mil criaturas humanas são anualmente arrancadas da África, privadas de seus lares, de seus pais, filhos e irmãos, transportadas às nossas regiões, sem a menor esperança de respirarem outra vez os pátrios ares, e destinadas a trabalhar toda vida debaixo do açoite cruel de seus senhores, elas, seus filhos e os filhos de seus filhos para todo o sempre!
(…)
“Qual é a religião que temos, apesar da beleza e santidade do evangelho, que dizemos seguir? A nossa religião é pela maior parte um sistema de superstições e de abusos antissociais; o nosso clero, em muita parte ignorante e corrompido, é o primeiro que se serve de escravos, e os acumula para enriquecer pelo comércio e pela agricultura, e para formar, muitas vezes, das desgraçadas escravas um harém turco.
(…)
“O luxo e a corrupção nasceram entre nós antes da civilização e da indústria; e qual será a causa principal de um fenômeno tão espantoso? A escravidão, senhores, a escravidão, porque o homem que conta com os jornais de seus escravos vive na indolência e a indolência traz todos os vícios após si.
(…)
“Mas dirão talvez que se favorecerdes a liberdade dos escravos será atacar a propriedade. Não vos iludais, senhores, a propriedade foi sancionada para bem de todos, e qual é o bem que tira o escravo de perder todos os seus direitos naturais, e se tornar de pessoa a coisa, na frase dos jurisconsultos? Não é pois o direito de propriedade que querem defender, é o direito da força, pois que o homem, não podendo ser coisa, não pode ser objeto de propriedade” (cf. José Bonifácio, “Representação à Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil sobre a escravatura”).
Nem mesmo Assis Cintra – apologista de Gonçalves Ledo que ataca José Bonifácio por ter comprado um escravo de Vasconcellos Drummond e por ter deixado, como herança, dois escravos à sua filha Narcisa – conseguiu apresentar um posicionamento de Ledo sobre a escravidão, muito menos algum que se compare ao do Andrada (cf. Assis Cintra, “O Homem da Independência”, ed. cit., pp. 183-189).
Nada disso apaga a ação de Ledo na Revolução da Independência. Apenas localiza, histórica e socialmente, seus limites.
Mas, voltemos aos acontecimentos políticos do ano de 1822.
RELATO
Em 14 de junho de 1841 – quase 19 anos após a Independência – em réplica a Antônio Carlos de Andrada, então deputado, o ministro da Guerra, José Clemente Pereira, fez um relato dos acontecimentos do dia 9 de janeiro de 1822 – o “Dia do Fico”.
Clemente Pereira, em 1822, era presidente do Senado da Câmara da Cidade do Rio de Janeiro – o correspondente à Câmara de Vereadores – e fora o orador que se dirigiu a D. Pedro para entregar o abaixo-assinado, pedindo que o então príncipe regente ficasse no Brasil. Em outubro do mesmo ano, Clemente fora preso, com os demais membros do grupo da maçonaria – com exceção de Ledo, refugiado em Buenos Aires.
15
Em 1841, a animosidade entre os Andradas e seus adversários de 1822, no mínimo, esmaecera. Os líderes de 19 anos antes, José Bonifácio e Gonçalves Ledo, já pertenciam à eternidade da História – o primeiro, falecido em 1838, na sua casa da Ilha de Paquetá; o segundo, retirado na sua fazenda de Sumidouro, no interior do Rio de Janeiro (faleceria em maio de 1847).
Naquela segunda-feira, 14 de junho de 1841, a discussão na Câmara era sobre o contingente militar terrestre a fixar no Rio Grande do Sul – a Guerra dos Farrapos já se arrastava havia seis anos – e sobre o desempenho do general João Paulo Barreto, comandante das tropas no Sul, que o governo demitira. Porém, antes de entrar nesses assuntos, o ministro da Guerra falou sobre outro:
O SR. MINISTRO DA GUERRA (José Clemente Pereira): … Talvez, Sr. presidente, devesse deixar sem resposta algumas observações que o nobre deputado por S. Paulo [Antonio Carlos de Andrada], que falou na última sessão, fez sobre o meu discurso; mas em dois pontos principais, em que tocou o nobre deputado, não posso deixar de fazer algumas observações.
O nobre deputado, por ocasião de uma declaração que eu fiz de ter tido a principal parte na representação para a convocação de uma assembleia no Brasil, disse que entendera que eu me referia ao dia 9 de Janeiro, conhecido pelo Dia do Fico; e que, a ser assim, queria reclamar, porque a glória da preferência neste caso pertencia a S. Paulo e não ao Rio de Janeiro.
O nobre deputado com muita razão desempenha o seu ofício de bom procurador dos paulistas, mas há de permitir-me que, como procurador dos fluminenses, eu chame a sua atenção sobre alguns fatos, dos quais se deduz que a prioridade, se prioridade houve, pertence aos fluminenses.
A mim me parece que na cooperação para a independência a glória é igual para todas as províncias; mas se é necessário que alguém tenha a prioridade, há de permitir-me o nobre deputado que o conteste, e que diga que ela pertence aos fluminenses. (Apoiados.)
O nobre deputado conhece, e não há dúvida, que a representação por parte da província do Rio de Janeiro teve lugar em 9 de Janeiro de 1822, e que a representação por parte da de S. Paulo teve lugar dias depois…
O SR. DEPUTADO ANDRADA MACHADO (Antônio Carlos): … [diz algumas palavras não ouvidas pela secretaria dos trabalhos.]
O SR. MINISTRO DA GUERRA: Perdoe-me; a representação [de S. Paulo] teve lugar dias depois de 9 de janeiro; é verdade que já nós esperávamos a deputação de S. Paulo e alguns preparativos se fizeram para recebê-la; mas o fato é que ela não pôde chegar aqui senão depois do dia 9… Mas o nobre deputado quer que a representação seja datada do dia da deliberação do governo de S. Paulo, e não do em que foi apresentada; pois bem, aceito a declaração do nobre deputado, e desejo que se escreva nos anais da história que o nobre deputado quer se conte a prioridade do dia em que se tomou a deliberação em cada uma das províncias. A de S. Paulo é marcada pelo nobre deputado no dia 3 de janeiro, porque foi quando o governo da província se dirigiu às municipalidades, participando-lhes a deliberação do governo, ou convidando-as para cooperarem…
O SR. DEPUTADO ANDRADA MACHADO: … [diz algumas palavras não ouvidas pela secretaria dos trabalhos.]
O SR. MINISTRO DA GUERRA: Pois bem, ainda mesmo como quer que seja, o nobre deputado há de ter lembrança de que em 22 de dezembro de 1821 saiu um comissário mandado do Rio de Janeiro ao governo de S. Paulo, convidando para cooperar para a ficada do príncipe regente; foi o Sr. Pedro Dias, hoje marquês de Quixeramobim. E no dia 20 saiu daqui para Minas outro comissário também por parte do Rio de Janeiro, encarregado de igual comissão, foi o Sr. Paulo Barbosa da Silva…
UM SR. DEPUTADO: Foi o Sr. cônego Januário.
O SR. MINISTRO DA GUERRA: Não, senhor, esse foi para a aclamação; estou bem certo nos fatos; foi o Sr. Paulo Barbosa. Em virtude destas enviaturas aconteceu que alguns povos de Minas mandaram as suas representações com data de dezembro (eu quero dar aos mineiros a parte da glória que lhes pertence). A vila de Barbacena enviou a sua representação datada de 27 de dezembro; a Câmara de Mariana enviou também a sua em data de 2 de janeiro. Mas no Rio de Janeiro foi este negócio tratado com muita antecipação, e convém que se dê o seu a seu dono. Devo declarar que os primeiros que se lembraram desta medida, ou ao menos que a fizeram sentir e levar a efeito, foram o Sr. José Mariano [de Azeredo Coutinho] e o Sr. José Joaquim da Rocha.
O SR. ANDRADA MACHADO (Antônio Carlos): É verdade.
O SR. MINISTRO DA GUERRA: E isto antes do dia 15 do mês de dezembro… isto creio que até anda impresso; e tanto que se me fez crime porque não fui dos primeiros a concordar com a medida como se me apresentava.
O Sr. José Mariano foi à minha casa, por ser então eu presidente do Senado da Câmara, comunicar-me a resolução em que se achavam de pedir ao príncipe regente do Brasil que quisesse ficar no Brasil porque assim convinha aos interesses do país.
Nessa ocasião eu disse que julgava de necessidade a ficada do príncipe, mas que não julgava prudente que o Rio de Janeiro fizesse a representação só por si, por que não havia a força necessária, muito mais existindo no Rio de Janeiro uma força portuguesa assaz forte, que, como o nobre deputado sabe por informações, até nos ameaçou com as armas.
Tratava-se de nomear então um governo, esse governo de três cabeças, governo que o Brasil não queria, e contra o qual eu me tinha pronunciado; e por isso foi-me objetado: ‘se o governo tem de nomear-se, o que há de fazer então o príncipe?’ A isto respondi: ‘enquanto se pede a cooperação das províncias imediatas, Minas e S. Paulo, pode o príncipe ir para Santa Cruz; logo que cheguem as representações, pede-se ao mesmo príncipe que se deixe ficar no Brasil’.
Estas minhas palavras serviram até, depois, para uma devassa por crime de republicano, na qual houvera quem fosse jurar que eu era tão republicano que tinha feito as observações que acabo de referir.
Mas o caso é que o Sr. José Mariano e o Sr. José Joaquim da Rocha acharam boas as minhas observações, e concordaram em que se deviam dirigir aos governos de S. Paulo e de Minas; e em consequência deste acordo partiram, para S. Paulo, como já disse, o Sr. marquês de Quixeramobim, e, para Minas, o Sr. Paulo Barbosa.
Ora, agora acresce mais que, tendo eu, como me convinha, tratado de saber do príncipe regente qual era a sua opinião a este respeito, porque corria a notícia de que ele queria ir para Portugal (o que depois reconheceu-se que era política sua, porque sempre teve vontade de ficar), dirigi-me logo depois da comunicação do Sr. José Mariano a [o palácio de] São Cristóvão, e Sua Alteza com efeito ainda reservou de mim sua verdadeira opinião; mas tomando consistência a opinião do povo fluminense, e estando eu decidido a cooperar para ela em todo o caso, procurei novamente o príncipe (e lembro-me bem) na véspera do dia de Natal, e falei-lhe na tribuna da capela imperial, dizendo a S. A. Real que o povo do Rio de Janeiro tratava de dirigir-lhe uma súplica no sentido que lhe havia participado dias antes, e que devia esperar igual representação de Minas e S. Paulo, porque era impossível que estas duas províncias não anuíssem às comunicações que lhe foram feitas pelo Rio de Janeiro; e Sua Alteza teve a bondade de responder-me que ficaria.
No dia 26 de dezembro fui à casa do Sr. José Mariano, onde se achava o Sr. Rocha e o Sr. padre Frei Francisco de Sampaio, que foi quem redigiu a representação…
Creio que estas observações não são indiferentes para a história (apoiados), e fui dizer-lhes que a representação devia fazer-se, que estava disposto a cooperar para ela, e que deveria ter lugar no dia 9 de janeiro.
Tratou-se desde logo de dar a este ato o aparato mais majestoso possível, e na verdade creio que não será possível nos nossos dias tornar a haver um dia tão solene! (Numerosos apoiados.) Nele apresentaram-se sessenta e tantos cidadãos das primeiras classes do Rio de Janeiro, vestidos com o uniforme de capa e volta que então se usava: reuniu-se a eles o povo do Rio de Janeiro, com o maior entusiasmo e interesse, e isto no meio da grande oposição dos batalhões de Portugal, que chegaram a ameaçar-nos com o emprego da força!
Com estas informações o nobre deputado decidirá, decidirá também o público, e quem quiser ser juiz, quem deve ter a prioridade no ato de 9 de Janeiro. Talvez mesmo aconteça, que em nosso entusiasmo, sem nos havermos combinado, estivéssemos todos dispostos para o mesmo fim; mas eu hei de continuar a sustentar que a prioridade pertence ao Rio de Janeiro. O nobre deputado continuará a sustentar que pertence a S. Paulo, a questão será decidida pelos documentos oficiais que houverem a este respeito, mas, enquanto não se decide, nunca o Rio de Janeiro terá de ficar em segundo lugar (cf. Anais da Câmara dos Deputados, 1841, Tomo I, pp. 528-530).
DISPUTA
Essa disputa, aparentemente bairrista, sobre a “prioridade” do Rio ou de São Paulo no Fico, era uma sombra (um resíduo, digamos assim) de outra disputa política, esta mais importante para o Brasil: aquela sobre o príncipe, depois imperador, entre os Andradas, de um lado, e o grupo da maçonaria, de outro.
Há uma omissão – provavelmente não intencional – no relato de José Clemente Pereira: no Dia do Fico (9 de janeiro de 1822), realmente, a deputação de São Paulo ainda não chegara ao Rio, mas as instruções políticas aos representantes paulistas, redigidas por José Bonifácio, já eram conhecidas na capital, pois foram citadas pelo próprio José Clemente Pereira, no discurso que pronunciou diante de D. Pedro.
Entremos, então, em uma questão tática, uma questão de política “atual” (naturalmente, de política atual daquela época).
No “Fico”, a revindicação brasileira é a de continuar em condições de igualdade com Portugal, como condição para manter a união com este último. Como no próprio discurso de José Clemente Pereira, nesse dia, para D. Pedro:
“A saída de Vossa Alteza Real dos Estados do Brasil será o fatal Decreto que sancione a independência deste Reino! Exige, portanto, a salvação da pátria que Vossa Alteza Real suspenda a sua ida, até nova determinação do soberano congresso.”
Depois de referir-se ao passado colonial (“[o Brasil] recorda sempre com horror os dias da sua escravidão recém-passada”), o discurso de Clemente Pereira aponta “o grito da opinião pública nesta província” e examina a situação política em outras províncias:
“Pernambuco, guardando as matérias primas da independência, que proclamou um dia, malograda por imatura, mas não extinta, quem duvida que a levantará de novo, se um centro próximo de união política a não prender?
“Minas, principiou por atribuir-se um poder deliberativo, que tem por fim examinar os decretos das Cortes soberanas, e negar obediência àqueles que julgar opostos aos seus interesses; já deu acessos militares; trata de alterar a lei dos dízimos; tem entrado, segundo dizem, no projeto de cunhar moeda – e que mais faria uma província que se tivesse proclamado independente?
“S. Paulo, sobejamente manifestou os sentimentos livres que possui, nas políticas instruções, que ditou aos seus ilustres deputados. Ela aí corre a expressá-los mais positivamente pela voz de uma deputação, que se apressa em apresentar a V. A. R. uma representação igual à deste povo!
“O Rio Grande de S. Pedro do Sul, vai significar a V. A. R. que vive possuído de sentimentos idênticos, pelo protesto desse honrado cidadão, que vedes incorporado a nós!”
A referência é ao coronel Manoel Carneiro da Silva e Fontoura, que, no Dia do Fico, representou o Rio Grande do Sul – e também discursou diante de D. Pedro.
O discurso de Clemente é longo – nos dias atuais seria considerado quase interminável – mas não era fácil a sua causa: fazer o herdeiro da Coroa enfrentar o governo da metrópole.
A justificativa encontrada mostra quão relativas eram as definições – quer dizer, alguns rótulos – ideológicos.
Como se pode ler nas cartas de D. Pedro a seu pai, ele – com poderoso estímulo dos homens da Independência – considera que D. João VI é prisioneiro dos liberais das Cortes. Por isso, não tem obrigação de obedecer a estas.
Numa delas, diz D. Pedro:
“… verá Vossa Majestade o amor que os brasileiros honrados lhes consagram à sua sagrada, e inviolável Pessoa, e ao Brasil, que a providência divina lhes deu em sorte livre, e que não quer ser escravo de lusos-espanhóis quais os infames déspotas (constitucionais in nomine) dessas facciosas, horrorosas, e pestíferas Cortes. (cf. carta de 19/06/1822 in “Cartas de D. Pedro, Príncipe Regente do Brasil a seu pai D. João VI, Rei de Portugal (1821-1822)”, Rothschild & Cia., S. Paulo, 1916, p. 103).
Assim, um príncipe “liberal” se choca com um parlamento “liberal”, porque este “aprisiona” um rei absolutista.
Na verdade, esses rótulos não têm real importância. A questão nacional – recolonização ou independência – é, desde o início, a verdadeira questão.
Oliveira Lima aponta, com razão, que, mesmo antes da viagem de D. Pedro a São Paulo, na qual haveria o Grito do Ipiranga, a Independência já existia inclusive em documento oficial, como a circular do ministro José Bonifácio ao corpo diplomático acreditado no Rio de Janeiro, datada de 14 de agosto de 1822, exatamente o dia em que o príncipe viajou para São Paulo.
Comenta o historiador pernambucano: “Nem este vocábulo [independência] falta no documento, embora atenuado pela ficção da união nominal sob um só soberano” (cf. Oliveira Lima, “O Movimento da Independência 1821-1822”, ed. Melhoramentos, 1922, p. 320).
E, realmente, diz, nessa circular, José Bonifácio:
“Tendo o Brasil, que se considera tão livre como o reino de Portugal, sacudido o jugo da sujeição e inferioridade com que o reino irmão o pretendia escravizar, e passando a proclamar solenemente a sua independência, e a exigir uma assembleia legislativa dentro do seu próprio território, com as mesmas atribuições que a de Lisboa, salva, porém, a devida e decorosa união com todas as partes da grande família portuguesa e debaixo de um só chefe supremo, o senhor D. João VI, ora oprimido em Lisboa por uma facção desorganizada e em estado de cativeiro, o que só bastava para que o Brasil não reconhecesse mais o Congresso de Lisboa nem as ordens do seu executivo, por serem forçadas e nulas por direito…”.
16
Em 14 de dezembro de 1821 – um mês antes do “Fico” – D. Pedro escrevia a D. João VI:
“… a publicação dos decretos [das Cortes de Lisboa] fez um choque mui grande nos brasileiros e em muitos europeus aqui estabelecidos, a ponto de dizerem pelas ruas: ‘Se a constituição é fazerem-nos mal, leve o diabo tal cousa; havemos fazer um termo para o Príncipe não sair, sob pena de ficar responsável pela perda do Brasil para Portugal, e queremos ficar responsáveis por ele não cumprir os dois decretos publicados; havemos fazer representações juntos com S. Paulo e Minas, e todas as outras que se puderem juntar dentro do prazo, às Cortes, e sem isso não há de ir’.
“Veja Vossa Majestade a que eu me expus pela nação e por Vossa Majestade. Sem embargo de todas estas vozes eu me vou aprontando com toda a pressa e sossego, afim de ver se posso, como devo, cumprir tão sagradas ordens, porque a minha obrigação é obedecer cegamente, e assim o pede a minha honra, ainda que perca a vida: mas nunca pela exposição ou perdimento dela fazer perder milhares.
“Faz-se muito preciso, para desencargo meu, seja presente ao soberano congresso esta carta, e Vossa Majestade lhe faça saber da minha parte que – me será sensível sobremaneira se for obrigado pelo povo a não dar o exato cumprimento a tão soberanas ordens: – mas que esteja o congresso certo que hei de fazer com razões ou mais fortes argumentos, diligenciando o exato cumprimento quanto nas minhas forças couber” (cf. “Cartas de D. Pedro Príncipe Regente do Brasil a Seu Pai D. João VI Rei de Portugal (1821-1822)”, Rothschild & Cia, S. Paulo, 1916, pp. 37-38, grifos nossos).
Pedro sabia que suas cartas ao pai eram, sempre, entregues às Cortes de Lisboa – dizem alguns que por covardia de D. João VI. Assim, ao escrever ao pai, ele sabia que estava, também, escrevendo às Cortes. Daí a fórmula, algo protocolar, “seja presente ao soberano congresso esta carta”.
BRASILEIRO
Em parte, os acontecimentos posteriores à Independência, que acabaram por conduzir à sua abdicação, empanaram – como é inevitável – a grandeza de D. Pedro.
Em especial, essa grandeza se traduziu no assumimento, até o final da vida, da nacionalidade brasileira – mesmo depois da saída do Brasil; mesmo quando lutava, em Portugal, contra o absolutismo de seu irmão, D. Miguel, que usurpara o trono de sua filha Maria da Glória (Dª Maria II); mesmo quando, vitorioso, designado regente do país lusitano, em nome da filha menor de idade.
Muito perto da morte, acontecida em 1834 – quando tinha apenas 35 anos – ele “provava que sabia expor a vida pela liberdade e, se combatia à frente dos constitucionalistas portugueses, não renunciara por isso à cidadania brasileira”. Como diz o mesmo autor:
“Por difícil que parecesse à primeira vista justificar essa posição, o certo é que D. Pedro a ela se aferrou e teve-a como clara e legítima. Por amor e por escrúpulo continuou depois de 7 de abril de 1831 a considerar-se brasileiro, sem embargo de sua participação na política de Portugal.
“É um leitmotiv de todas as suas cartas desde a partida do Brasil até a morte. A 12 de abril de 1831, de bordo da Warspite, dizia a D. Pedro II, ‘meu querido filho e meu imperador’: ‘ame a sua e minha pátria’; a 6 de junho repetia: ‘lembre-se sempre de um pai que ama e amará até a morte a Pátria que adotou por sua’; de Cherburgo, a 9 do mesmo mês, falava ‘na pátria que adoro’; de Paris, a 19 de outubro, reafirmava: ‘não posso deixar (…) de por este modo como bom brasileiro felicitar-te pelo dia de hoje’; de Paris ainda, referia-se, a 5 de novembro, ao ‘Brasil, minha Pátria’, a 26, à ‘tua Pátria de nascimento e minha de adoção’ e, a 9 de janeiro de 1832, lembrando o tormento que lhe era a ausência dos filhos e da ‘Pátria à qual dera a Independência e oferecera a Constituição’, exprimia a sua ternura de brasileiro nestas palavras tocantes: ‘o Brasil é também meu filho, não és só tu’.
“Empenhado já na campanha da restauração do trono de D. Maria II, nos Açores, não variava de linguagem. O ‘Brasil tua Pátria de nascimento e minha de adoção’, ‘como brasileiro que sou’ – escrevia a 11 de março. A 16 de abril, contando que breve partiria à frente da expedição contra o usurpador, justificava assim a sua conduta: ‘Esta minha firme deliberação é filha somente do Amor que eu consagro e sempre consagrarei às instituições livres: fui pelos meus concidadãos tachado de lhe [sic] ser desafeto e ao Brasil; mas o que eu sei é que quanto à primeira que vou pela causa da Liberdade (que é uma só causa) bater-me e expor a minha vida, e quanto à segunda que eu sempre fui verdadeiramente brasileiro’
“Do Porto, entre portugueses, regente de Portugal, em hora de provocações, desabafava em carta de 9 de janeiro de 1833, cujo alcance o filho criança nada ou pouco perceberia: ‘Meu coração se sente estalar de dor por me ver tão longe de ti e de tuas manas, fora do país em que me criei e do seio daquela nação a que pertenço (…) hoje fazem [sic] onze anos que os Brasileiros me pediram que ficasse no Brasil, e quem me diria, a mim, que neste ano me acharia tão longe?’
“Ainda do Porto, decorridos dois meses, exalava os seus queixumes de pai e de patriota: ‘Ah! meu amado filho eu te mereço o amor que tu me mostras; eu me interesso por ti, bem como pela pátria que adotei antes mesmo de a tornar independente; (…) espero que ainda poderei ter o gosto de ir ver-te e de abraçar-te: quando todos os espíritos estiverem convencidos de que eu nada mais ambiciono senão ver-te; ver o país em que fui criado e educado, do qual me separei saudoso, não só porque nele te deixei e a tuas manas, mas porque o amo tanto (tu me perdoarás) como te amo a ti’.” (Octavio Tarquinio de Sousa, “História dos Fundadores do Império do Brasil”, vol. IV, “A vida de D. Pedro I”, tomo 3, ed. cit, pp. 1126-1128).
RÉQUIEM
Evaristo da Veiga, um dos principais integrantes da oposição a D. Pedro I durante a crise que desembocou na abdicação, escreveu, quando de sua morte:
“… Longe nisso de tantos reis que vivem e expiram sobre o trono, sem que a sua vida seja sentida, sem que a sua morte valha ou uma ocorrência notável, ou uma consideração de momento, D. Pedro de Alcântara, quer durante o curso agitado da sua existência, quer por seu falecimento, abriu o campo a sucessos importantes, e influiu mais ou menos nos destinos do império do Brasil e do reino de Portugal.
“Posto que ainda não seja chegado o tempo em que a voz imparcial da história se faça escutar a seu respeito, nos países ao leme de cujos negócios existiu; o tempo em que os diversos movimentos de afeição ou de ódio deixem de influir no juízo que se forma desse Príncipe; todavia a religião da campa que cobre seus restos, reclama hoje que não se lhe insulte a memória, e que se recordem mesmo algumas boas qualidades suas, os serviços que prestou à causa da humanidade, da civilização e da liberdade em ambos os Mundos.
“Agora que o nome de d. Pedro deixou de ser o estandarte de uma facção que ameaçava o futuro e a glória do nosso país, podemos dizer afoitamente que o ex-imperador do Brasil não foi um príncipe de ordinária medida; que existia nele o gérmen de grandes qualidades que defeitos lamentáveis e uma viciosa educação sufocaram em parte; e que a Providência o tornou um instrumento poderoso de libertação, quer no Brasil, quer em Portugal. Se existimos como corpo de Nação livre, se a nossa terra não foi retalhada em pequenas repúblicas inimigas, aonde só dominasse a anarquia e o espírito militar, devemo-lo muito à resolução que ele tomou de ficar entre nós, de soltar o primeiro grito de nossa Independência” (cf. Aurora Fluminense, ed. 05/11/1834).
O trecho é bem característico de como parte importante dos homens da Independência – no caso, um adversário político tanto de José Bonifácio quanto de José Clemente Pereira – concebiam a figura histórica de D. Pedro.
Doze anos antes, D. Pedro musicara um poema de Evaristo da Veiga, compondo o atual “Hino da Independência”. Uma das estrofes menos conhecidas dessa letra, a terceira, diz: “O Real Herdeiro Augusto/ Conhecendo o engano vil,/ Em despeito dos Tiranos/ Quis ficar no seu Brasil./ Em despeito dos Tiranos/ Em despeito dos Tiranos/ Quis ficar no seu Brasil”.
Mas isso foi em 1822. Depois da dissolução da Constituinte, no ano seguinte, Evaristo se tornara mais e mais oposicionista. Por isso, sua afirmação de que “o ex-imperador do Brasil não foi um príncipe de ordinária medida” tem bastante importância.
AO PAI
Além de seus atos – inclusive aqueles que foram, na sua época e depois, discutíveis – o melhor documento que demonstra essa extraordinária medida são suas cartas ao pai, D. João VI, no período da Revolução da Independência.
A 2 de janeiro, sete dias antes do “Fico”, D. Pedro comunica a seu pai – e remete a ele – a representação dos paulistas, escrita por José Bonifácio, entregue ao príncipe, na noite do dia anterior, por um emissário especial.
Na noite do Dia do Fico, 9 de janeiro de 1822, D. Pedro escreveu outra vez ao pai:
“… no dia de hoje às dez horas da manhã recebi uma participação do senado da câmara pelo seu procurador, que as câmaras nova, e velha, se achavam reunidas, e me pediam uma audiência: respondi que ao meio dia podia vir o senado, que eu o receberia; veio o senado, que me fez uma fala mui respeitosa, de que remeto cópia (junta com o auto da câmara) a Vossa Majestade, e em suma era, que logo que desamparasse o Brasil, ele se tornaria independente; e ficando eu, ele persistiria unido a Portugal. Eu respondi o seguinte: Como é para bem de todos, e felicidade geral da Nação, estou pronto: diga ao povo, que fico.
“O presidente do senado o fez, e o povo correspondeu com imensos vivas, cordialmente dados, a Vossa Majestade, a mim, à união do Brasil a Portugal, e à Constituição: depois de tudo sossegado, da mesma janela, em que estive para receber os vivas, disse ao povo: Agora só tenho a recomendar-vos união, e tranquilidade; e assim findou este ato” (cf. op. cit., pp. 47-48).
ENTEADOS
A 26 de abril, chegando de Minas Gerais, escreve D. Pedro a seu pai:
“Por cá vai tudo mui bem, se lá [em Lisboa] formos considerados como irmãos, tanto melhor para um como para outro hemisfério; mas se o não formos, ir-nos-á melhor a nós, Brasileiros, que aos Europeus malvados, que dizem uma cousa, e tem outra na coração” (p. 95).
Apenas dois dias depois, na carta de 28 de abril, o tom é mais rascante:
“Peço a V. M. que mande apresentar esta às Cortes Gerais, para que elas saibam, que a opinião brasileira, e a de todo o homem sensato, que deseja a segurança, e integridade da Monarquia, é que haja aqui Cortes Gerais do Brasil, e particulares relativamente ao Reino Unido, para fazerem as nossas leis municipais.
“V. M., quando se ausentou deste rico, e fértil país, recomendou-me no seu real decreto de 22 de Abril do ano próximo passado, que tratasse os Brasileiros como filhos, eu não só os trato como tais, mas também como amigos; tratando-os como filhos, sou Pai; e tratando-os como amigos, sou outro; assim quaisquer destas duas razões me obrigam a fazer-lhes as vontades razoáveis, esta (de quererem Cortes como acima fica dito) não só é razoável, mas útil a ambos os hemisférios, e assim ou as Gerais nos concedem de bom grado as nossas particulares, ou então eu as convoco, a fim de me portar, não só como V. M. me recomendou, mas também como tenho buscado, e alcançado ser, que é defensor dos direitos natos de povos tão livres, como os outros, que os querem escravizar.
“Se há igualdade de direitos, e somos irmãos, como o proclamaram, concedam (que não fazem favor, antes nós de lho pedirmos); quando não, nós a buscaremos (não nos sendo difícil encontrá-la) porque não é justo que uns sejam reputados como filhos, e outros como enteados, sendo todos nós irmãos, e súditos do mesmo grande Monarca que nos rege” (pp. 97-98).
DEFENSOR
Nesta carta de D. Pedro, ele já se considera, em abril de 1822, mais brasileiro que português. Mas é na carta de 21 de maio de 1822, ao saudar o pai pelo aniversário (D. João VI completara 55 anos a 13 de maio), que D. Pedro explicita completamente a sua posição antes da Independência:
“O 13 de Maio foi, é e será para sempre um dia de júbilo no Brasil inteiro. É este o dia que os leais habitantes desta cidade escolheram para assinalar ao mesmo tempo duas épocas memoráveis: o nascimento de V. M., e a minha elevação ao titulo de Defensor Perpétuo do Brasil. Depois do beija-mão, a municipalidade mandou pedir-me uma audiência, que eu lhe concedi imediatamente, e esta corporação, pelo órgão de seu presidente, dirigiu-me um discurso muito enérgico, no qual me suplicou aceitasse o título de Protetor e Defensor Perpétuo do Brasil, pois que tal era a vontade de toda a província e do Brasil inteiro. Respondi-lhe: honro-me e me orgulho do título que me confere este povo leal e generoso; mas não o posso aceitar tal como se me oferece. O Brasil não precisa da proteção de ninguém; protege-se a si mesmo. Aceito porém o titulo de Defensor Perpétuo e juro mostrar-me digno dele enquanto uma gota de sangue correr nas minhas veias” (grifos nossos).
Mais adiante, D. Pedro desenvolve mais esta ideia:
“Defenderei o Brasil que tanto me honrou, como a V. M., porque tal é o meu dever como brasileiro e como príncipe. Um príncipe deve sempre ser o primeiro a morrer pela pátria; deve trabalhar mais que ninguém pela felicidade dela; porque os príncipes são os que mais gozam da felicidade da nação e é por isso que eles devem esforçar-se por bem merecer as riquezas que consomem, e as homenagens que recebem dos outros cidadãos” (grifo nosso).
Esta é uma definição que ele considera – com razão – no campo dos princípios. Na mesma carta, ele entra, também, nas questões políticas – basicamente, a necessidade de uma Constituinte específica do Brasil:
“É necessário que o Brasil tenha Cortes suas: esta opinião generaliza-se cada dia mais. O povo desta capital prepara uma representação que me será entregue para suplicar-me que as convoque, e eu não posso a isso recusar-me, porque o povo tem razão, é muito constitucional, honra-me sobremaneira, e também a V. M., e merece toda a sorte de atenções e felicidade. Sem Cortes o Brasil não pode ser feliz. As leis feitas tão longe de nós por homens que não são brasileiros, e que não conhecem as necessidades do Brasil não poderão ser boas.
“O Brasil é um adolescente que diariamente adquire forças. O que hoje é bom amanhã não serve ou se torna inútil, e uma nova necessidade se faz sentir; isto prova que o Brasil deve ter em si tudo quanto lhe é necessário, e que é absurdo retê-lo debaixo da dependência do velho hemisfério.
“O Brasil deve ter Cortes (…): não posso recusar este pedido do Brasil porque é justo, funda-se no direito das gentes, é conforme aos sentimentos constitucionais, oferece enfim mais um meio para manter a união, que de outro modo breve cessará inteiramente. Sem igualdade de direito, em tudo e por tudo não há união. Ninguém se associa para ver piorar a sua condição, e aquele que é o mais forte melhor deve saber sustentar os seus direitos. Eis porque o Brasil jamais perderá os seus, que defenderei com o meu sangue, sangue puro brasileiro, que não corre senão pela honra, pela nação e por V. M” (pp. 99-101).
17
A personalidade de D. Pedro transparece inteira na última carta dirigida a D. João VI na época da Independência, escrita a 22 de setembro de 1822 – portanto, após o Grito do Ipiranga.
Esta carta é resposta a outra – datada de três de agosto – em que o pai diz ao filho: “Quando escreveres, lembra-te que és um príncipe e que os teus escritos são vistos por todo o mundo, e deves ter cautela não só no que dizes, mas também no modo de te explicares”.
A resposta de D. Pedro, lembremos outra vez, foi escrita 15 dias após o Grito do Ipiranga:
“Tive a honra de receber de Vossa Majestade uma carta datada de 3 de Agosto, na qual Vossa Majestade me repreende pelo meu modo de escrever e falar da facção luso-espanhola (se Vossa Majestade me permite, eu e meus irmãos brasileiros lamentamos muito e muito o estado de coação em que Vossa Majestade jaz sepultado); eu não tenho outro modo de escrever, e como o verso era para ser medido pelos infames deputados europeus e brasileiros do partido dessas despóticas cortes executivas, legislativas e judiciárias, cumpria ser assim; e como eu agora, mais bem informado, sei que Vossa Majestade está positivamente preso, escrevo (esta última carta sobre questões já decididas pelos brasileiros) do mesmo modo porque, com perfeito conhecimento de causa estou capacitado que o estado de coação, a que Vossa Majestade se acha reduzido, e que o faz obrar bem contrariamente ao seu liberal gênio. Deus nos livrasse se outra cousa pensássemos.
“Embora se decrete a minha deserdação, embora se cometam todos os atentados que em clubes carbonários forem forjados, a causa santa não retrogradará, e eu antes de morrer direi aos meus caros brasileiros: ‘Vêde o fim de quem se expôs pela pátria, imitai-me’.
“Vossa Majestade manda-me, que digo!, mandam as cortes por Vossa Majestade que eu faça executar e execute seus decretos; para eu os fazer executar e executá-los era necessário que nós brasileiros livres obedecêssemos à facção: respondemos em duas palavras: “Não queremos”.
“Se o povo de Portugal teve direito de se constituir – revolucionariamente – está claro que o povo do Brasil o tem dobrado, porque se vai constituindo, respeitando-me a mim e às autoridades estabelecidas.
“Firme nestes inabaláveis princípios, digo (tomando a Deus por testemunha e ao mundo inteiro), a essa cáfila sanguinária, que eu, como Príncipe Regente do reino do Brasil e seu defensor perpétuo, hei por bem declarar todos os decretos pretéritos dessas facciosas, horrorosas, maquiavélicas, desorganizadoras, hediondas e pestíferas cortes, que ainda não mandei executar, e todos os mais que fizerem para o Brasil, nulos, irritos, inexequíveis, e como tais com um veto absoluto, que é sustentado pelos brasileiros todos, que, unidos a mim, me ajudam a dizer: “De Portugal nada, nada; não queremos nada”.
“Se esta declaração tão franca irritar mais os ânimos desses lusos-espanhóis, que mandem tropa aguerrida e ensaiada na guerra civil, que lhe faremos ver qual é o valor brasileiro. Se por descoco se atreverem a contrariar nossa santa causa, em breve verão o mar coalhado de corsários, e a miséria, a fome e tudo quanto lhes podermos dar em troco de tantos benefícios, será praticado contra esses corifeus; mas que! quando os desgraçados portugueses os conhecerem bem, eles lhes darão o justo prêmio.
“Jazemos por muito tempo nas trevas; hoje vemos a luz. Se Vossa Majestade cá estivesse seria respeitado, e então veria que o povo brasileiro, sabendo prezar sua liberdade e independência, se empenha em respeitar a autoridade real, pois não é um bando de vis carbonários, e assassinos, como os que têm a Vossa Majestade no mais ignominioso cativeiro.
“Triunfa e triunfará a independência brasílica, ou a morte nos há de custar.
“O Brasil será escravizado, mas os brasileiros não; porque enquanto houver sangue em nossas veias há de correr, e primeiramente hão de conhecer melhor o — Rapazinho — e até que ponto chega a sua capacidade, apesar de não ter viajado pelas cortes estrangeiras.
“Peço a Vossa Majestade que mande apresentar esta às cortes! às cortes, que nunca foram gerais, e que são hoje em dia só de Lisboa, para que tenham com que se divirtam, e gastem ainda um par de moedas a esse tísico tesouro.
“Deus guarde a preciosa vida e saúde de Vossa Majestade, como todos nós brasileiros desejamos.
“Sou de Vossa Majestade, com todo o respeito, filho que muito o ama e súdito que muito o venera.
“PEDRO.”
“Rapazinho” era como D. Pedro era chamado pelos liberais de Lisboa – que haviam decretado, em 29 de setembro de 1821, que ele deveria sair do Brasil para uma viagem, incógnito, pela Europa, para completar sua educação…
O MINISTRO
Resta-nos, para encerrar, uma figura: Martim Francisco, o irmão mais novo de José Bonifácio e Antonio Carlos, que, entre outras coisas, foi por duas vezes ministro da Fazenda (julho de 1822 a julho de 1823 e julho de 1840 a março de 1841).
No centenário de sua morte, em 1944, o então ministro da Fazenda, Artur de Souza Costa, ressaltou “sua paixão pela liberdade e devotamento pela causa da autonomia nacional”, “sua fidelidade aos princípios em que se baseou a sua formação cultural e o seu profundo sentimento de brasilidade [que] representa uma constante que se encontra em cada um de seus gestos ou de seus atos. É um pensamento que orienta toda a sua atividade pública e sobre ele exerce uma influência dominadora” (Souza Costa, “O centenário de Martim Francisco”, RIHGB, vol. 183, abril/junho 1944, pp. 256-257).
Martim Francisco – que, diferente dos irmãos, era matemático – mostrou, ainda antes da Independência, e logo depois, que a nacionalidade era, também, um princípio econômico.
Um seu descendente – Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que seria governador (presidente) de Minas Gerais, articulador da candidatura Getúlio em 1930 e presidente da Constituinte de 1933-1934 – publicou, em 1913, um interessante trabalho para abordar essa questão.
Seu ponto de partida é a situação desesperadora das finanças do Brasil, depois da volta de D. João VI a Portugal. Nas palavras de Armitage:
“Como um final à sua administração das finanças do Brasil, o sr. d. João VI, ao retirar-se em 1821, para assumir o Governo de Portugal, deixou aos seus leais e amados súditos do Brasil uma prova de sua real e paternal solicitude pelo seu bem estar, esvaziando o Tesouro, o Banco [do Brasil] e até o Museu, levando consigo todo o artigo de valor, inclusive os espécimens de ouro e diamantes, que há anos pertenciam a este último estabelecimento nacional” (cit. in Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, “O Ministro da Fazenda da Independência”, RIHGB, LXXVI, parte 1, p. 369; este trabalho foi, em 1918, publicado em livro, com o título “O Ministro da Fazenda da Independência e da Maioridade”).
Além disso, a principal fonte do Tesouro – o imposto sobre as importações – sofrera uma quebra em suas receitas, depois do tratado de 1810, assinado por D. João VI com a Inglaterra, que rebaixou as tarifas sobre a importação dos produtos ingleses (v. a segunda parte desta série).
A solução a que recorriam quase todos os governos, nessa situação, era um empréstimo em algum banco europeu, como aquele dos Rothschild, em Londres.
Martim Francisco, no entanto, quando assumiu o Ministério da Fazenda (4 de julho de 1822), não era ministro de um país formalmente independente, mas de um Reino unido ao de Portugal. Portanto, a via dos empréstimos externos dificilmente lhe estaria aberta.
Mas, apesar da dificuldade, essa não foi a principal razão pela qual Martim Francisco não tentou ir por esse caminho. Na sua avaliação, havia recursos internos aos quais era possível, e necessário, recorrer – e eles eram preferíveis aos empréstimos externos.
Daí, a sua proposta de obter um empréstimo público dos “comerciantes e capitalistas da Corte”. Esse empréstimo seria de 400:000$000 (quatrocentos contos de réis), com juros de 6% ao ano e prazo de 10 anos, tendo por garantia as rendas da Província do Rio de Janeiro.
A operação foi um sucesso – a venda de títulos superou a quantia prevista pelo governo. Porém, talvez mais importante que a operação em si – que aparelhou a Marinha – foi a convocação para ela, assinada pelo ministro da Fazenda:
“Senhores —
“Quando um povo está resolvido a reassumir direitos que lhe usurparam, a conservar e defender preeminências, dignidades e gozos que lhe contestam, e a quebrar ferros, bem que dourados, com que de novo o pretendem agrilhoar, deve, com todo o apuro e sem perda de tempo, começar a nova era da sua vida política por uma legislação própria, que, transformando o berço do seu nascimento ou de sua adoção, de terra da escravidão em terra da liberdade; que, estabelecendo e firmando a sua sorte futura, lhe assine lugar escolhido nos anais das nações bem constituídas; e para obtê-la é mister que, abundante de recursos e alhanadas todas as dificuldades, que hajam de estorvá-lo ou empecê-lo no caminho da glória que vai trilhar, ele possa dizer aos inimigos internos: ou retirai-vos ou eu vos punirei; aos inimigos externos: não vos temo, tenho força suficiente para repelir vossas agressões, justiça demasiada para ganhar amigos que protejam minha causa, e quando esta se decida contra mim, quero antes sepultar-me debaixo das ruínas de minha pátria, do que viver escravo.
“Tal é, senhores, em resumo, a situação do Brasil: sem dúvida, para continuação e remate de seus trabalhos, ele carece de alguns meios; porém estes serão abundantemente supridos pelos enérgicos e heroicos sacrifícios de seus habitantes; porque todo homem livre sabe que a última gota de seu sangue, o último sopro de sua vitalidade, ainda pertence à Pátria.
“Seguro desta verdade, o jovem herói de nossa escolha, o perpétuo defensor da nossa liberdade, o grande e incomparável príncipe que nos rege, vendo o Brasil em algum perigo, e a assembleia constituinte e legislativa ainda não instalada, persuadiu-se de que, pelo menos agora, só a ele devia competir o direito e a glória de salvá-lo, e para este fim julgou indispensável abrir um empréstimo de quatrocentos contos de réis, debaixo das condições que tenho a honra de apresentar-vos.
“Convencidos da necessidade, justiça e legalidade, que abonam este procedimento, e combinando vossas possibilidades com o vosso patriotismo, declarai, senhores, livremente, o que podeis emprestar” (cit. in Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, op. cit., pp. 371-372).
RESISTÊNCIA
Em seu trabalho sobre Martim Francisco, diz Antonio Carlos:
“Merece menção especial a resistência que o Ministro opôs sempre às tentativas de empréstimos externos ou de quaisquer outros, havendo permanecido exclusivamente no de julho de 1822, destinado a um fim todo excepcional. Essa resistência, e as razões dela, são afirmadas no documento em que Martim faz a crítica do empréstimo externo negociado e realizado em Londres em 1824 e em 1825” (op. cit., p. 386).
Esse documento é uma carta a Vasconcellos de Drummond, datada de 12 de setembro de 1824, quando Martim Francisco estava exilado em Bordeaux.
O empréstimo de 1824, negociado por Felisberto Caldeira Brant (depois marquês de Barbacena), atravessaria o Império. Nas palavras de nosso maior historiador financeiro:
“A 20 de agosto de 1824, ao promanar de sua independência política, o Brasil obteve na praça de Londres o seu primeiro empréstimo externo. Foi de £ 3.686.200 o valor dessa operação, a qual só logrou ser resgatada em 1863, mediante o levantamento de outro empréstimo de £ 3.855.300, liquidado, por sua vez, em 1889” (Valentim Bouças, “Finanças do Brasil”, vol. IX, 1940, grifo nosso).
E, em seguida:
“Dessarte, iniciou-se em 1824 a política de empréstimos externos, que levou, consecutivamente, o País a lançar mão de semelhante remédio para salvar os males dela própria resultantes. Os empréstimos, quer no Império, quer na República, eram, em geral, aplicados no suprimento dos ‘déficits’ orçamentários e no pagamento de juros e amortização de operações anteriores. Basta acentuar-se que dos quinze empréstimos resgatados no período monárquico apenas quatro o foram com recursos normais. Em virtude desse círculo vicioso e pernicioso, o Brasil sempre viveu com a sua economia e as suas finanças deprimidas diante de obrigações irrevogáveis para com o estrangeiro” (idem).
Em outro volume de sua principal obra, Bouças – uma das mais importantes figuras da administração econômica no primeiro governo Getúlio – foi enfático:
“Realizávamos nossa independência política e logo inaugurávamos nossa dependência às finanças estrangeiras. Subordinávamos nossa vida orçamentária e econômica a essas finanças” (cf. Valentim Bouças, “História da Dívida Externa da União (Finanças do Brasil volume XV)”, 1946, p. 27).
COMISSÕES
Em sua carta a Vasconcellos Drumond, Martim Francisco rememora a sua primeira administração no Ministério da Fazenda:
“Estou e sempre estive convencido que a teoria de empréstimos era um abismo, em que mais cedo ou mais tarde deviam ser precipitadas todas as Nações; que os Governos nunca os adotaram senão para oprimirem mais facilmente os povos; que um empréstimo contraído por qualquer Estado é um sintoma da prodigalidade do seu Governo, ou a morte deste espírito de ordem e de economia, primeiras bases de toda a boa administração financeira; que os empréstimos concorrem a excitar a sórdida cobiça dos cidadãos e a amortecer em seus corações o sentimento desinteressado do amor da pátria; que as chamadas despesas extraordinárias são pérolas douradas, engolidas por povos boçais, porque de comum nenhuma há, que não tenha sido prevista com antecipação pelos olhos perspicazes da política e que se não possa remediar sem o cancro dos empréstimos; que, finalmente, os povos, quando querem ser livres, têm muitos recursos em si próprios (…).
“… Note que já então o Felisberto [Caldeira Brant], sem ter ordem, escrevia ao Ministério, fazendo ver a necessidade de um empréstimo, entendia-se com os capitalistas de Londres e os forçava a escrever com o oferecimento das mesmas condições que ele agora aceitou; ele, pois, levava rasca no negócio.
“Note mais, que nesse tempo eu o recusei com o prêmio de 5% e os juros de 5%, peso metálico por peso metálico; que não havia moeda, e baixa, fabricada em Londres; que não havia dividendos retidos, nem as usuras das 300.000 libras esterlinas adiantadas, e nem as comissões, etc. dos Felisbertos e outros.
“A nada disto atendi; recusei o empréstimo com tão favoráveis condições e disse a José [Bonifácio], que Felisberto, pelos fatos acima referidos e por outros de conhecida ignorância, ou de notória lesão dos interesses do Brasil, devia ser mandado recolher.
“Todavia este empréstimo aparece hoje contraído, e o mesmo homem, que antes traficava sordidamente com os interesses de sua pátria, é dele o principal encarregado!
“Pode haver uma maior traição da parte do Ministério? E que castigos ele e seus agentes não devem esperar da vingança nacional, se um dia os brasileiros forem capazes de recobrar sua liberdade?”
Assim era o nosso primeiro ministro da Fazenda – o mais jovem dos três irmãos Andrada.
FINAL
Terminamos aqui nossa série sobre a Independência. Nosso objetivo foi expor materiais que hoje estão – com anos de ignorância política, econômica, histórica e escolar neoliberal – algo esquecidos. Ao mesmo tempo, analisamos algumas questões – a escravidão e o liberalismo na Independência, os conflitos entre os homens que lideraram a nossa emancipação política, a herança de Pombal, etc. – que nos parecem pessimamente abordadas por uma certa vertente da literatura acadêmica atual.
Se houve algum proveito para o leitor, consideramo-nos recompensados.
Links para a antiga edição em capítulos:











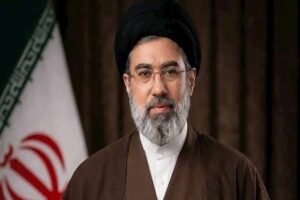



Respostas de 2
Em nenhum momento falaram sobre a importância do Padre Belchior Pinheiro de Oliveira na INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, o qual era também um ANDRADA, exilado na França por Dom Pedro I…!!! Ele, como bom advogado, era Conselheiro, Confessor e Acompanhante do PRÍNCIPE…o qual lhe perguntou ao ler as cartas determinando que retornasse a Portugal…_” E AGORA, Padre Belchior? “…, no lhe este o conselhou a INDEPENDÊNCIA E A COROA…e NÃO…o retorno a Portugal…!!! O próprio Padre Belchior, no exílio, descreveu FIDEDIGNAMENTE o ATO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL…não para se promover…como muitos escritores escreveram, equivocadamente, copiando uns dos outros…!!!…mas, por obrigação, como membro oficial da GUARDA NACIONAL e, depois, da GUARDA IMPERIAL…tinha de relatar, exatamente, os fatos ocorridos no DIA 7 DE SETEMBRO DE 1822 às MARGENS DO IPIRANGA…E Padre BELCHIOR assim o fez…obrigatoriamente…com todos os detalhes VERDADEIRÍSSIMOS…POIS DOM PEDRO I ESTAVA VIVO AINDA…O QUE RATIFICA TODA NARRAÇÃO DO PADRE BELCHIOR PINHEIRO DE OLIVEIRA ( mesmo nome do pai) SOBRE OS MOMENTOS DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL a as MARGENS DO IPIRANGA…!!!
…corrigindo…no que este o aconselhou…