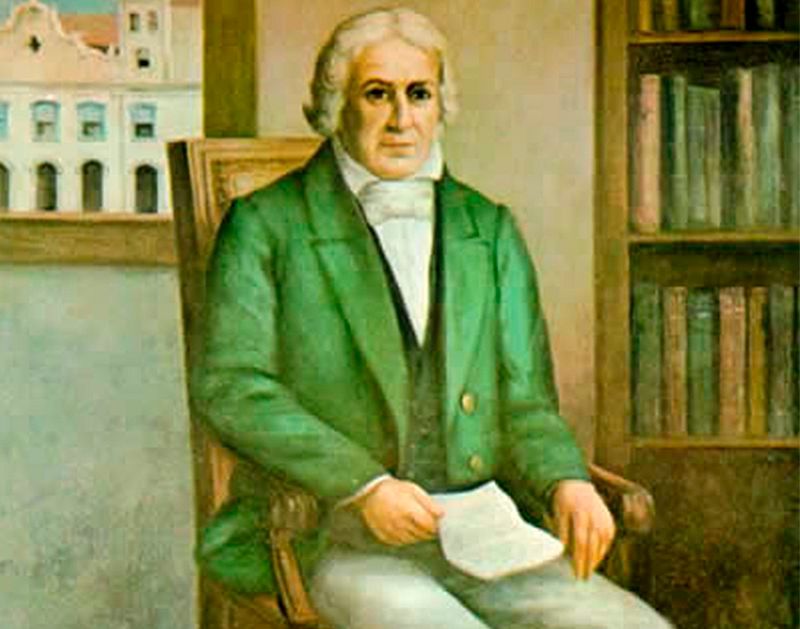CARLOS LOPES
A questão da soberania nacional e da independência econômica constituíam, bem antes da Independência do Brasil, um problema único para José Bonifácio
A dependência – melhor seria dizer: a submissão – de Portugal à Inglaterra foi a condição de fundo em que se realizou a Independência do Brasil. O conflito com as Cortes de Lisboa foi, fundamentalmente, um conflito com a dependência portuguesa.
O pronunciamento dos homens da Independência era claro sobre essa questão, ainda que muitas vezes de modo indireto. Por exemplo, escreveu José Bonifácio, já em agosto de 1822 – portanto, antes da proclamação oficial da Independência – nas suas instruções ao nosso representante em Londres, Felisberto Caldeira Brant, o futuro marquês de Barbacena:
“[o comércio da Inglaterra] decerto padeceria se duvidasse em reconhecer a Independência do Brasil, visto que este Reino (à semelhança de Colômbia [presidida por Bolívar], que aliás não tem tantos direitos e recursos) está resolvido a fechar seus portos a qualquer potência que não quiser reconhecer nele o mesmo direito que têm todos os povos de se constituírem em Estados independentes, quando a sua prosperidade e o seu decoro o exigem”.
E, mais adiante:
“… é bem óbvio e evidente que o Brasil não receia as potências europeias, de quem se acha apartado por milhares de léguas, e nem tampouco precisa delas, por ter no seu próprio solo tudo o que lhe é preciso, importando somente das nações estrangeiras objetos pela maior parte de luxo, que estas trazem por próprio interesse seu”.
José Bonifácio recomendou a Caldeira Brant que procurasse em Londres o “benemérito brasileiro Hipólito José da Costa” – o maior crítico dos tratados de 1810 entre Portugal e Inglaterra. José Bonifácio, aliás, convidou Hipólito para o cargo de cônsul geral do Brasil em Londres – que ele aceitou, e para o qual foi nomeado, por D. Pedro I, a 16 de setembro de 1823. Infelizmente, o grande jornalista morrera nove dias antes (v. Carlos Rizzini, “Hipólito da Costa e o Correio Braziliense”, CEN, 1957, pp. 47-48).
Ao encarregado de negócios da Inglaterra e cônsul-geral no Rio de Janeiro, Henry Chamberlain, declarou José Bonifácio:
“O Brasil quer viver em paz e amizade com todas as outras nações, há de tratar igualmente bem a todos os estrangeiros, mas jamais consentirá que eles intervenham nos negócios internos do país. Se houver uma nação que não queira sujeitar-se a esta condição sentiremos muito, mas nem por isso nos havemos de humilhar nem submeter à sua vontade” (cf. “Annotações de A.M.V. de Drummond à sua Biographia”, Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, Vol. XIII (1885-1886), 1890, p. 45).
Não era uma política de continuação da dependência na Independência. Em mensagem ao cônsul dos EUA, anterior às instruções a Brant, em julho de 1822, Bonifácio frisa esse aspecto:
“Meu querido Senhor, o Brasil é uma Nação e como tal ocupará o seu posto, sem ter que esperar ou solicitar o reconhecimento das demais potências. A elas se enviarão os agentes diplomáticos ou ministros. As que nos recebam nessa base e nos tratem de nação a nação continuarão sendo admitidas aos nossos portos e favorecidas em seu comércio. As que se neguem serão excluídas deles” (cit. in Otaciano Nogueira, “O colosso que forjou uma nação“, Plenarium, v. 5, nº 5, out./2008, p. 257).
Não era uma questão nova, em seu pensamento. Ainda residindo em Portugal, quatro anos antes da volta ao Brasil, ele havia refletido sobre ela:
“Nação alguma é independente, se precisa de sustento estrangeiro: Nação alguma é rica e poderosa se o terreno onde mora anda inculto e baldio; e se a pouca agricultura que possui depende inteiramente dos esforços e desvelos únicos da classe a mais pobre e menos instruída” (cf. José Bonifácio, “Memória sobre a necessidade e utilidade do plantio de novos bosques em Portugal”, 1815).
Esse último trecho é especialmente importante, por revelar como a questão da soberania nacional e da independência econômica constituíam, bem antes da Independência do Brasil, um problema único para José Bonifácio.
Tal colocação é a mesma que o faz maldizer a suntuosidade, característica de uma estreita faixa da população, consumidora de importações, às custas da maioria:
“… o Brasil tem bens reais, e não precisa de fictícios – não convertamos o supérfluo em necessário, nem demos alimento a ocas vaidades e desejos e gozos pueris.”
É o mesmo espírito que lhe faz escrever, já velho e recolhido à Ilha de Paquetá:
“Os políticos da moda querem que o Brasil se torne Inglaterra ou França; eu quisera que ele não perdesse nunca os seus usos e costumes simples e naturais e antes retrogradasse que se corrompesse.”
INVASÃO
A questão era um consenso – ou quase isso – entre os dois partidos que lideraram a Independência. Temos, a esse respeito, o testemunho de José Clemente Pereira – que, com Gonçalves Ledo, era a figura mais em evidência do grupo que disputava, com os Andradas, a direção do movimento da Independência.
Comentando os tratados comerciais assinados pelo Império com vários países – em especial aquele assinado com a Inglaterra, em 1827, que, essencialmente, prorrogava por 15 anos os privilégios ingleses do tratado com Portugal de 1810 – escreveu José Clemente Pereira:
“Facilitada ao estrangeiro a introdução de todos os gêneros de sua indústria, com a redução dos direitos a 15%, nós vimos logo esta capital inundada de objetos de mero e escandaloso luxo: a sua barateza facilitou-lhes o consumo, a facilidade desta animou novas importações, e em breves dias vimos as nossas ruas povoadas de quinquilharias e modistas estrangeiras, e os nossos homens e senhoras vestidos e penteados à estrangeira, como se vivessem na França ou na Inglaterra, quando só se deviam lembrar de que viviam no Brasil.
“Fácil era de prever os resultados necessários de tudo isto; os bons patriotas os viram logo; e eles foram, com efeito, o desaparecimento de nossa moeda, quando do Brasil se foi esconder nas burras de Londres e de Paris; e assim devia de ser necessariamente, porque, recebendo nós do estrangeiro anualmente 50, por exemplo, nas ofertas que nós importávamos, e não produzindo para lhes dar em paga senão 30, que eles de nós exportavam, o saldo dos 20 devia sair em metais preciosos e porque a mesma operação se tem repetido por tantos anos sucessivos, milagre é que ainda exista alguma moeda de 6$400 ou 4$000.
“Se tais tratados se não tivessem feito, sábias leis teriam podido remediar em alguma parte este mal, proibindo a entrada de certos gêneros de luxo, ou impondo-lhes o pagamento de direito nas alfândegas que fizesse mais dificultosa a sua introdução.
“Embora gêneros de necessidade ou reconhecida utilidade pagassem só 15%, ou ainda menos, mas fazer extensivos estes direitos a fitinhas, rendas, água de Colônia, caixinhas estofadas, flores, penteados, chicotinhos e cabelos de defuntos franceses, licores, bonecragens e trastes de madeira que não duram, tendo nós melhor madeira e de mais duração, é erro que se não pode perdoar e de que até os mesmos estrangeiros se riem, porque nessa não cairiam eles.
“Para que serão boas estas coisas entre nós? Acaso nossas senhoras não vestiam com decência ao tempo em que não tínhamos modistas francesas, suas cabeças não eram mais formosas enquanto seus cabelos naturais não foram substituídos pelos artificiais que ao Brasil lhes vieram dos cemitérios franceses? Seus pés ficavam porventura mais delicados depois que os sapatinhos de Paris, que não chegam a durar um dia, substituíram os que dantes calçavam?
“Não se entenda que queríamos que alguma nação fosse excetuada no pagamento de direitos; o que queríamos era que com nenhuma se tivessem feito tratados de comércio e que os direitos de importação fossem por nossas leis elevados, ou diminuídos a nosso arbítrio, segundo a natureza dos gêneros, a necessidade que deles tivéssemos, ou a utilidade que deles nos adviesse.”
Nesse texto, publicado após sua morte, José Clemente Pereira faz justiça à obra de José Bonifácio e dos Andradas – de quem fora adversário e mesmo inimigo político -, razão pela qual voltaremos a ele mais adiante. Sobre a questão da dependência aos ingleses, ele diz:
“… como tomamos por tarefa aproveitar todas as ocasiões que se nos oferecem de fazer ver que o Augusto Fundador do Império [D. Pedro I] viu sempre as coisas em melhor sentido que alguns de seus ministros, aqui será lugar de publicar que no tempo do Ministério dos Srs. Andradas, ele era de opinião de que se não fizessem tais tratados, decerto porque essa era a opinião dos mesmos senhores, e grande parte das pessoas que se achavam no Paço no dia 12 de outubro de 1822, foram testemunhas das expressões significativas destes sentimentos ouvidos ao Ministério” (grifo nosso).
Portanto, Clemente reconhece a política nacional dos Andradas. Somente em 1827, quando os Andradas estavam exilados na França, o Império assinaria o tratado comercial com a Inglaterra – um tratado anterior, negociado por sir Charles Stuart em 1825, provavelmente com os bons ofícios da Marquesa de Santos, não foi aceito pelo governo inglês.
[NOTA 1: Em comunicação ao governo inglês, Stuart escreveu: “devemos às boas graças do general Brant [Barbacena] e à influência da senhora Domitila de Castro a remoção de um obstáculo que teria feito malograr toda a negociação”. A anotação se refere ao reconhecimento do Brasil por Portugal. Stuart, apesar de inglês – e de ter sido nomeado pelo governo inglês -, chegou ao Brasil como embaixador de Portugal (cf., sobre os préstimos da marquesa, Octávio Tarquínio de Sousa, “História dos Fundadores do Império do Brasil”, Vol. III, 3ª ed., J. Olympio, 1957, p. 638).]
[NOTA 2: Sobre o motivo da recusa do governo inglês a um tratado negociado pelo próprio enviado inglês, nossa opinião – ao contrário daquela exposta por Oliveira Lima – é que a inimizade entre o mandachuva da política inglesa, George Canning, e o enviado ao Brasil, Charles Stuart, foi determinante. Não foi um problema apenas pessoal: a guerra palaciana que envolveu Canning, Castlereagh, e, inclusive, Wellington – de quem Stuart era protegido – é hoje um episódio da história política inglesa (para o ponto de vista de Oliveira Lima, ver seu livro “História Diplomática do Brasil – O Reconhecimento do Império“, Garnier, 1902, sobretudo pp. 260-279).]
MALES
José Clemente Pereira é implacável sob o significado dos tratados aceitos por D. Pedro I, após a queda dos Andradas: a redução das taxas de importação era “a principal origem da introdução de um luxo que nos devora, e da saída dos metais preciosos, cuja falta nos vai precipitando em um abismo (…); e a decantada reciprocidade não existe senão no papel dos tratados, porque nenhum comércio fazemos com o estrangeiro em nossos navios, e portanto é uma guerra e um verdadeiro fantasma, e logro escrito para nos iludir com o estrangeiro, que quis palear suas vantagens, como nossos negociadores se quiseram deixar iludir; mas o povo não se iluda, porque já lá vai o tempo de enganar a homens.
“Ultimamente os tratados só serviram para fixar os direitos na importação; quanto ao mais só ficaram para declarar princípios de direitos das Gentes, que nenhuma Nação desconhece; e quando saíram disto, deram o direito de cidadão brasileiro aos estrangeiros, recebendo em reciprocidade livres direitos para os brasileiros. Ilusória reciprocidade, que nunca existirá para nós, e que muito nos dana; porque as leis policiais da França e Inglaterra – nós que as não temos, ou não executamos as que temos – somos obrigados a fazer boa e efetiva execução desses artigos, não sem grave tropeço da boa administração da Justiça”.
Por fim, Clemente Pereira examina a principal alegação dos defensores desses tratados – a de que as concessões neles aceitas eram o preço do reconhecimento do Brasil como país independente:
“Se nos dissessem que os tratados eram necessários para o reconhecimento da nossa Independência, negaremos essa necessidade (…). Eles necessitavam mais de nós que nós deles. Era isto necessário para dar saída a nossos gêneros. Bem – diminuir os direitos de saída e aumentar os de entrada, a causa será a mesma, com a diferença de ser mais favorável aos nossos lavradores. (…) Tudo recairá sobre o consumidor, mas o lavrador ficou aliviado, porque pagará o imposto só do que vender.
“Mas do modo que a coisa está o Corpo Legislativo vê-se no grande embaraço de dar uma doutrina regular aos impostos, porque não pode carregar os de importação, nem aliviar os de exportação, como todos os principais economistas políticos ensinam, e as necessidades de proteger nossa agricultura e indústria imperiosamente exigem.
“… os tratados foram, na nossa opinião, um mal; (…) e sobre direitos, imponham os estrangeiros, se quiserem; sobre nossos gêneros, esses, imporemos o que quisermos, e veremos quem sai melhor na partida. Eles pouco produzem coisa muito boa de que necessitamos, e destes será protegida a introdução; mas também produzem muitos que nos fazem males, e estes terão dificultosa entrada; o que nós produzirmos, tudo tem consumo pronto no estrangeiro, o caso está em que lhe demos o bom mercado. Pois bem, diminuiremos os direitos de saída, o bom mercado convidará o estrangeiro, e nossos gêneros terão saída”.
MARQUÊS DE POMBAL
Esse espírito e essas ideias dos homens da Independência são profundamente antagônicas à mentalidade dominante em Portugal após a queda do marquês de Pombal, destituído com a morte de D. José I (1777) e a ascensão ao trono de sua filha, Maria Francisca, cognominada Maria I, a Louca.
A nobreza portuguesa mais decadente, reprimida desde a execução do duque de Aveiro e dos Távora, voltou, então, ao poder. E, com ela, a subserviência aos ingleses.
Aliás, a subserviência – aos ingleses ou a qualquer potência estrangeira – parece um traço distintivo dessa aristocracia lusitana, que Pombal, oriundo da pequena nobreza provinciana, detestava – e que, por sua vez, detestava Pombal, a ponto de desfigurar a sua memória ou de mostrar satisfação quando os franceses, ocupando o país, violaram o túmulo do grande homem.
[NOTA: Um produto tardio desse rancor a Pombal é o livro de Camilo Castelo Branco, “Perfil do Marquês de Pombal” (1882); mas também há algo dele no conhecido livro de João Lúcio de Azevedo, “O Marquês de Pombal e a sua Época”, obra, apesar disso, muito importante, pois o autor, ao contrário de Camilo, não confunde fatos com sua opinião política. Há menos desses preconceitos herdados do século XVIII na obra pioneira dos estudos históricos sobre Pombal: v. Francisco Luiz Gomes, “Le marquis de Pombal – esquisse de sa vie publique”, de 1869 (livro escrito e publicado em francês, apesar do autor, nascido em Goa, ser lusitano).]