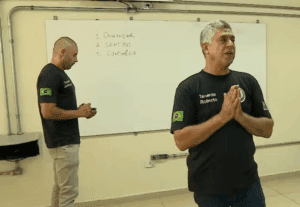KEILA PEREIRA*
Em dezembro de 2018, descobri minha gravidez. 22 anos, sem emprego nem ensino superior, muitas preocupações, mas felicidade em poder estar ali.
O problema começou em abril de 2019. Num dia, passei mal logo que acordei e fui ao Hospital Parelheiros – é o mais próximo de casa. Examinada, a ginecologista não sabia dizer o que eu tinha – e ali não daria para fazer melhores exames. “Quando passar mal, não venha para cá. Vai pra sua maternidade porque mal temos ultrassom ainda”.
E me sentindo melhor fui levada para casa para descansar, com aquele nó de “como assim eu não tenho qualquer lugar perto de casa para ser atendida?”.
Mais tarde, no mesmo dia, passei mal de novo. Desta vez, levada para a maternidade mais próxima, uns 17 quilômetros daqui. Examinada de forma breve, sem qualquer resposta sobre o que eu tinha, questionei a médica se não seria encaminhada nem a um ultrassom simples. Ela disse que eu não precisava – e além disso não tinha plantonista disponível. “Grávida sentir dor é normal”. Mesma coisa, me sentindo melhor fui para casa, mas agora com outro nó: como assim sentir dor é normal?

Duas semanas depois, churrasco em casa com minha família e começo a sentir uma cólica muito leve, que o inconsciente fez ignorar porque eu queria estar ali, estava em casa, não iria para qualquer hospital para voltar para casa chorando de raiva por não ter o tratamento devido. Mais tarde, notei um “corrimento” e disse que iria para o hospital no dia seguinte, já entendendo que podia ser sério.
Anoiteceu. Querendo dormir é que percebi realmente a intensidade daquela cólica. Não dormi. Ia para o banheiro a toda hora. Eu estava entrando em trabalho de parto com 24 semanas e não queria acreditar. Fui para a maternidade e demorei para ser atendida com dores muito mais fortes. A cólica era contrações, o corrimento era perda do muco, e as idas ao banheiro eram o corpo naturalmente se preparando.
E tudo isso só fez sentido para mim quando o médico que me atendeu porcamente me tratou como se eu tivesse induzido um aborto em casa. “Se não tem condição de ter um filho, não faça”. De todas as violências que sofri, essa é a que mais me marca. Não só por mim – mas por todas as mulheres que deveriam, sim, ter direito ao aborto, por toda gravidez precoce, pela negligência aos corpos da periferia, enfim… “Não é que a gente não tenha direito de viver, mas é que na periferia não se tem direito nem de nascer”.
Dali começou todo o trabalho de inibição do parto, mesmo sabendo que seria quase impossível. Eu já estava com 8 de dilatação e contrações fortes. Foram umas 18 horas sendo medicada, com fome, sentindo dor, sem poder mudar de posição, sendo tocada por médicos diferentes de hora em hora e com uma dezena de outras mulheres parindo do meu lado.
Nesse período, aquele mesmo médico que me atendeu primeiro veio conversar comigo sobre a “necessidade” de fazer uma cesárea. “Seu bebê está em posição para um parto pélvico e ainda não tem formação pra suportar o parto normal. A pressão pode trazer danos cerebrais e até matá-lo”. Pedi para pensar e segui deitada ali com mais um nó: como assim ele tem coragem de me induzir a uma cesárea me fazendo sentir medo da culpa que eu sentiria caso meu filho morresse no parto normal?
Ele voltou e eu disse que não queria a cesárea. Ele não aceitou minha resposta e disse que me deixaria pensar mais um pouco. Veio de novo e eu insisti, não faria cesárea.
Por volta das 2 horas do dia 21 de abril de 2019, comecei a sangrar e as contrações voltaram com toda força. Fui levada para a sala de parto às pressas. Dali, um misto de sensações. Por mais que tenha doído, não me lembro da dor do parto. Eu me lembro de ter muito medo de morrer – e do meu filho morrer. Eu me lembro de procurar sentir meu corpo e tentar me controlar para “fazer a força certa”. Lembro de dizer para mim mesma que meu filho não morreria ali, e de forma alguma por culpa minha. E então senti com muita consciência cada movimento do meu corpo. Ignorei que a obstetra pinçou minha bolsa para estourar. Ignorei que sentia dor, raiva, medo, frustração e medo, muito medo.
E ele nasceu. Sem qualquer dano aparente ocasionado pelo parto. Foi muito rápido e, quando o vi, ele já estava no carrinho para ir à UTI. E eu adormeci. Quando acordei, estava numa sala diferente, com outras mulheres, isolada, sem nenhum rosto familiar e sem poder sair. Era a espera pela vaga nos quartos. Mais um absurdo…
Quando instalada num dos quartos, pude finalmente ir até a neonatal para ver meu filho. Não faço ideia de quanto tempo esperei por isso. Bernardo viveu 12 dias, ouvindo sambas em cada um deles. Dia 3 de maio foi quando segurei ele no colo pela primeira vez, roxo e frio. Seu corpo foi doado para a Santa Casa de Santa Cecília.
A gente aprende que, quando nasce um filho, também nasce uma mãe, uma nova mulher. Eu acho que eu morri, mas renasci aos poucos, aos cuidados daqueles que amo, com muita terapia e muito autoconhecimento. Me senti interrompida ciclicamente. A gravidez, o parto, a amamentação. Eu não vivi nada disso de forma integral. Mas fui curando as feridas, me permitindo sentir, aceitando fatos e agindo sobre tudo o que eu realmente tinha condição de agir. Ou quase tudo. É óbvio que quis processar, ir atrás dos meus direitos, ser reparada – mas não fiz porque sabia que não tinha força alguma para isso.
Hoje, acredito que a melhor reparação que posso ter é continuar lutando pela superação desse sistema que nos mata todos os dias, direta ou indiretamente. Para além da minha experiência pessoal, é importante considerar alguns elementos da experiência coletiva.
Os principais fatores de risco associados à prematuridade são gravidez na adolescência, baixa escolaridade e pré-natal de baixa qualidade. Se tratando do último, nem é muito difícil levantar evidências. O Brasil conseguiu crescer no atendimento pré-natal dos últimos anos – em 2016 pelo menos 67% das mulheres fizeram 7 ou mais consultas ao longo da gestação¹. Ao mesmo tempo, a incidência de sífilis congênita subiu 225%, entre 2006 e 2015², algo que tem cura se tratado logo. Se não é para identificar e prevenir doenças como essa, acolher as dúvidas e informar, investigar todos os eventos da gestação, então as consultas servem mais para protocolo.
Ainda existe o perfil socioeconômico da grande maioria das gestantes adolescentes: negras, de baixa escolaridade e das periferias³. Este também é praticamente o mesmo perfil com maiores casos relatados de violência obstétrica⁴. E o caminho aqui é árduo, pois lidamos com um círculo vicioso da desigualdade social e de gênero.
As mulheres com emprego formal são demitidas 12 meses após cumprir a licença maternidade⁵ entrando para a estatística do desemprego mais alto entre o sexo feminino. As gestantes adolescentes mal conseguem terminar os estudos, contribuindo também para o desemprego e a informalidade.
Tem pouco fundamento crer que as mulheres, sobretudo as de baixa renda, poderão escolher sobre seus destinos enquanto a sua saúde e maternidade não forem assistidas da melhor forma possível. Enquanto ser mãe for um fardo para a mulher, acidental na maior parte dos casos, não há emancipação. Que seja então bandeira alta do feminismo, de quem que defende a vida de mulheres e crianças, de todos nós, mulheres e homens que acreditam na construção de um futuro melhor.
(Após as reações que esse texto causou antes de ser adaptado pra cá, eu devo dizer: o relato do meu parto já não dói em mim como antes. Caso ele te sensibilize, então cumpriu a função que desejo dá-lo agora)
¹ Saúde Brasil, 2015/2016, Ministério da Saúde.
² Boletim Epidemiológico Secretaria de Vigilância em Saúde – Min. da Saúde ISSN online 2358-9450.
³ IBGE, 2015
⁴ LANSKY, Sônia et al. 2019.
⁵ MACHADO, Cecília. FGV, 2016.
*Keila Pereira tem 24 anos e é estudante de Letras da Universidade de São Paulo – USP. Foi uma das fundadoras do Sarauê, um dos principais saraus da região de Parelheiros, no extremo sul de São Paulo, e diretora de Cultura da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Paulo (UMES-SP). É dirigente da Juventude Pátria Livre e do PCdoB São Paulo.