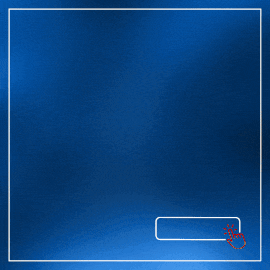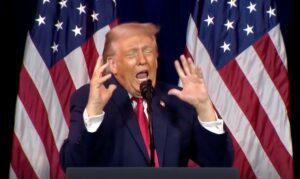CARLOS LOPES
Em seu prefácio à publicação, pela Editora Globo, originalmente em 1949, dos dois principais livros de Simões Lopes Neto, Augusto Meyer fez uma observação muito perspicaz quanto às transições próprias do estilo indireto especificamente usado pelo escritor de Pelotas:
“… O que me parece extraordinário no seu caso é o problema de estilo que conseguiu resolver. Entre o linguajar e a estilização, não notamos solução de continuidade. Quando joga com os recursos tão limitados do estilo indireto, raras vezes o leitor se dá conta do momento crítico da transição, do momento em que a prosa rude, colorida, sincopada de Blau Nunes deixa transparecer a voz do autor, em que a imaginação livre do campeiro contador de ‘casos’ se transforma em imaginação consciente e criadora” (Augusto Meyer, prefácio de J. Simões Lopes Neto, Contos Gauchescos e Lendas do Sul, Ed. Globo, 2ª ed., 4ª reimp., Porto Alegre, 1961, p. 15).
Mas esses momentos de transição existem. Meyer, como veremos mais abaixo, resgatará esses “momentos críticos”, essas “transições”, como motor da força estética de Simões Lopes Neto – neste mesmo texto, que, aliás, consta de seu livro “Prosa dos Pagos”, principal obra de sua fortuna crítica. Mas, por ora, basta a observação que enfatiza a identidade – mas não a igualdade – entre o autor e seu personagem (e porta-voz) Blau Nunes.
Recentemente, durante o lançamento do meu livro “Cultura e Identidade Nacional” em Porto Alegre, recebi, como presente, a segunda edição de “João Simões Lopes Neto: uma biografia” (Editora Coragem, Porto Alegre, 2023), trabalho magnífico de Carlos Francisco Sica Diniz, atual presidente do Instituto João Simões Lopes Neto, que tem sede na casa onde morou o grande escritor, em Pelotas, sua cidade natal.
Foi um velho amigo, Werner Rempel, médico e vereador em Santa Maria, quem me presenteou, agora, com a biografia de Simões Lopes Neto. Antes, tinha ele me obsequiado com a rica edição crítica da Globo de Contos Gauchescos e Lendas do Sul.
Em sua biografia, Carlos Francisco Sica Diniz compara a obra de Simões – principalmente as histórias de Contos Gauchescos, mas também A Salamanca do Jarau, narrativa que pertence a Lendas do Sul – com Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa. E, realmente, Blau Nunes, o tapejara que conta a maioria dos “casos” de Lopes Neto, se parece muito com o Riobaldo, de Rosa. Além da circunstância de que ambos contam sua história (no caso de Blau, as suas histórias) para um interlocutor invisível e inaudível, presumivelmente o escritor. E nem falaremos no peculiar linguajar, diferente, próprio a cada um, mas, assim mesmo, singular – e sabemos que Guimarães Rosa, escritor muito posterior a Simões Lopes Neto, era um leitor do último, conservando anotados os exemplares dos livros do gaúcho.
Porém, dirá o nosso leitor: quem diabo foi Simões Lopes Neto?
Era um republicano e nacionalista – o que, na época, queria dizer um castilhista e florianista. Como vários estudiosos notaram, seu brilho literário tem relação com seus fracassos na vida empresarial. Talvez não seja importante saber se foi o seu talento literário que o levou aos fracassos comerciais e industriais ou se foram esses fracassos que o levaram às realizações literárias. De qualquer forma, nesse sentido, ele não é um caso único na literatura brasileira. Monteiro Lobato é um caso semelhante.
Mas o fato é que, em 1912, em Pelotas, foi publicada a primeira edição de Contos Gauchescos, pela Livraria Universal, de Guilherme Echenique.
No ano seguinte, sairia, pela mesma pequena editora municipal, Lendas do Sul.
Durante sua vida, terminada aos 51 anos, em 1916, Simões Lopes Neto saiu muito pouco de Pelotas – na época, a segunda cidade do Rio Grande do Sul – e menos ainda de seu Estado. Mas o trabalho literário a que se dedicou teve uma importância decisiva na literatura nacional. A comparação com Guimarães Rosa não é, portanto, fortuita nem forçada. Trata-se de um trabalho consciente, de um tremendo gasto de energia para estabelecer uma língua literária nacional, com base popular. Nisso, o gaúcho e o mineiro são bastante semelhantes, apesar do lapso de tempo que os separa.
Em meu livro, que citei acima, reproduzi algumas considerações do alagoano Aurélio Buarque de Holanda sobre os aspectos gramaticais da língua literária de Simões Lopes Neto. Além das considerações em si, de Aurélio, pareceu-me notável que um alagoano se interessasse por um autor sul-rio-grandense de princípios do século XX.
Porém, aos que leram esse ensaio – ou a introdução de Aurélio Buarque de Holanda no qual ele se baseia, reproduzida em Linguagem e Estilo de Machado de Assis, Eça de Queirós e Simões Lopes Neto (ABL, 2007) – pode ter parecido que o autor de Pelotas é daquela estirpe árida, muito conhecida, que granjeia poucos leitores no Brasil.
A edição da Globo tem a vantagem de anexar um glossário que permite aos leitores um quase (apenas quase) fácil acesso ao texto de Simões Lopes Neto, aliás, de Blau Nunes – ou, ao contrário, do texto oral (desculpem a contradição, leitores) de Blau Nunes, aliás, do texto literário de Simões Lopes Neto.
Já voltaremos a esse problema, a esse labirinto que já teve, e continua tendo, inúmeros estudiosos. Antes é preciso dizer que Contos Gauchescos é uma reunião de 18 contos, em geral pequenos, e mais uma introdução, onde nos é apresentado o contador dos contos, o mestiço indígena, peão, campeiro e gaúcho Blau Nunes.
Apenas mencionando rapidamente, Lendas do Sul, além do excepcional O Negrinho do Pastoreio, contém o mais longo e complexo texto de Simões Lopes Neto, A Salamanca do Jarau, e, também, A Mboitatá. Inclui, além disso, argumentos de lendas de várias partes do Brasil.
Em seu prefácio à edição da Globo, Augusto Meyer ressaltou o ambiente já temporalmente passado das narrativas de Simões Lopes Neto, que introduzem uma sensação de sonho. O mundo – isto é, o Rio Grande do Sul, pois este é o mundo do tapejara – já não é o mesmo contado por Blau Nunes, muito menos o mesmo das lendas do sul.
Como exemplo, lembra Meyer o primeiro parágrafo de O Negrinho do Pastoreio:
“Naquele tempo os campos ainda eram abertos, não havia entre eles nem divisas nem cercas; somente nas volteadas se apanhava a gadaria xucra e os veados e as avestruzes corriam sem empecilhos…”
Nada disso existia mais quando Simões Lopes Neto publicou seus livros. Só a atmosfera algo onírica, precisamente, pela inexistência daquela realidade. Portanto, tudo aparece como algo irreal. E se não existia mais naquela época, muito menos existe hoje.
É verdade. A observação é pertinente. Porém, mais adequada às lendas que aos contos de Blau Nunes. Será possível falar em sensação de sonho a respeito de O Negro Bonifácio, um dos contos mais violentos – e sanguinolentos – da literatura brasileira? Quando Tudinha, a china – e ex-amor –, fura os olhos e castra o negro, aquilo pode ser chamado de sonho?
Talvez possa ser chamado de pesadelo. E não é único em Contos Gauchescos. Veja-se Contrabandista; ou Jogo do Osso, para citar apenas dois outros exemplos.
Porém, mais importante do que isso, Meyer observa que Simões Lopes Neto vai muito além do estreito horizonte local, que, se fixado e adstrito a Pelotas e seu entorno, poderia ter prejudicado a sua obra:
“… Os Contos Gauchescos e as Lendas do Sul são livrinhos repletos de achados em matéria de ritmo e colorido, imagens e conceitos. Embora se enquadrem na literatura regionalista – e é esse um obstáculo muito sério para a maior difusão da obra – acham-se fundamente marcados de verdade humana, transcendendo o círculo restrito do interesse local” (p. 17).
E existe uma observação de Meyer que recupera o autor, aparentemente absorvido ou abafado pelo personagem:
“… se à flor de todos os contos está a voz de Blau Nunes, no fundo, quem lhes dá vida e sentido à forma é sempre o mesmo Simões Lopes Neto. É ele a alma, a fonte humana da sua interpretação. E é claro que, examinados período a período os ‘casos’ que Blau reconta (…), examinados com espírito de minúcia, descobrimos neste ou naquele trecho, ao virar de uma página, a palavra direta do autor, embora na disposição da obra ele figure como interlocutor, ou melhor, como companheiro atento e fiel intérprete de um rude campeiro” (p. 21).
É a partir disso que o grande crítico e poeta resgata a arte das transições e faz dela a chave da obra de Simões Lopes Neto. E ele está muito correto ao identificar a força de Simões Lopes Neto nas transições próprias do estilo indireto, mesmo quando essas transições não são perceptíveis ao leitor:
“… é na arte de tais transições, no ser e não-ser do estilo indireto, que assenta o valor da obra. Pois, se de fato fosse mais importante reproduzir com absoluta fidelidade os modelos que escolheu, o linguajar da peonada e o anedotário dos galpões, sem espírito de síntese, que restaria dessa obra, como realização de poesia? A obra de arte é um como se, uma constante transição da realidade observada para a sugestão de outra realidade, sobreposta àquela e como embebida noutro sentido, de valor subjetivo” (p. 22).