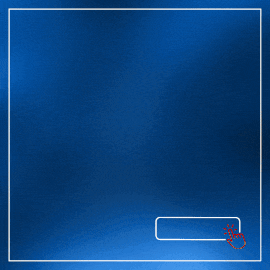[O texto que reproduzimos nesta página serviu de base para a intervenção do autor no Seminário de Formação da Juventude Pátria Livre (JPL), realizado em Nazaré Paulista. Este resumo foi reescrito após as discussões do Seminário.]
CARLOS LOPES
Qual o sentido de estudarmos e discutirmos o nacional-desenvolvimentismo, isto é, o desenvolvimento nacional, nos dias de hoje?
Em momento no qual o país está sufocado pela burguesia rentista, sobretudo estrangeira, no qual, durante o ano passado, transferiu aos cofres desses usurários nada menos que R$ 1 trilhão em dinheiro público, em recursos da população – que vegeta no pauperismo mais abjeto – o desenvolvimento nacional adquire uma proeminência ainda maior que naqueles dias em que fez o país arrancar da pantanosa estagnação oligárquica, anterior a 1930.
Pois o nacional-desenvolvimentismo implica numa economia produtiva, principalmente industrial, voltada para dentro do país, ou seja, tendo como centro o mercado interno, e no combate à especulação, sobretudo à especulação voltada para fora, que geralmente (ou sempre) dirige a especulação interna. Tal política econômica tem como pressuposto – e também como consequência – a independência econômica do país.
A sangria – melhor dizendo, a hemorragia – rentista é o oposto do desenvolvimento nacional.
A prova disso é a própria situação em que estamos no momento, sangrados por fundos financeiros e bancos que se sobrepõem aos empreendimentos produtivos, em suma, pelo capital financeiro, monopolista, principalmente norte-americano.
Então, façamos a pergunta: o que é nacional-desenvolvimentismo?
O termo “nacional-desenvolvimentismo” tornou-se corrente na década de 50 do século passado, a partir das aulas, conferências e publicações do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), órgão do Ministério da Educação e Cultura, fundado em 1955 – e, literalmente, destruído durante o golpe de Estado de 1964.
O ISEB, com a UNE e o CGT, esteve entre os órgãos mais odiados pelos golpistas que arraigaram sobre o país a estúpida ditadura que, durante 21 anos, reprimiu, prendeu, cassou, censurou, torturou e assassinou democratas e patriotas brasileiros.
Se tivéssemos de condensar a concepção do ISEB que define o “nacional-desenvolvimentismo”, talvez o melhor seria recorrer à frase de um de seus principais dirigentes, o grande filósofo Álvaro Vieira Pinto: “sem ideologia do desenvolvimento não há desenvolvimento nacional” (v. HP 05/05/2015, Álvaro Vieira Pinto: ideologia e desenvolvimento nacional).
Notemos que o filósofo menciona “desenvolvimento nacional” (grifo nosso) e não qualquer “desenvolvimento”.
Para aqueles pensadores, não existia desenvolvimento que não fosse nacional. É literalmente o que afirma outro dirigente do ISEB, o general Nelson Werneck Sodré. Daí, seu conflito com o suposto “desenvolvimentismo” do governo Juscelino, que baseava-se no programa de metas formulado por Roberto Campos (o avô) e no favorecimento ao capital estrangeiro, através da Instrução 113 da SUMOC, elaborada e publicada no governo Café Filho por Otávio Gouveia de Bulhões e Eugênio Gudin, então ministro da Fazenda.
Por exemplo:
“O que se seguiu [ao período de Getúlio], realmente, assinalou, em nossa história, as tortuosidades do desenvolvimentismo, isto é, a conquista de determinadas metas numéricas sem alteração das estruturas arcaicas. O período Kubitschek, no Brasil, assinalou, realmente, uma mudança singular de rumos e marcou os alicerces do que, depois, viria a ser o chamado ‘modelo brasileiro de desenvolvimento’ ou ‘milagre brasileiro’, como o imperialismo, gostosamente, fixou. O período Kubitschek foi, sem dúvida, o antípoda do período Vargas, foi a fase de transição em que se buscou, de maneira determinada, gerar um modelo antinacional de desenvolvimento. Busca que, em seu início, foi ainda compatível com formas políticas democráticas, nos limites brasileiros da época, mas logo exigiu formas ditatoriais de governo, com a implantação de uma ditadura obscurantista, em que os ricos ficaram mais ricos e os pobres foram atirados a níveis de carência inéditos aqui” (v. Nelson Werneck Sodré, Capitalismo e Revolução Burguesa no Brasil, Oficina de Livros, Belo Horizonte, 1990, p. 120).
Com efeito, todo o modelo econômico da ditadura, que procurava contestar – isto é, varrer do país – o “nacional-desenvolvimentismo”, tinha por base o capital estrangeiro. É verdade que sua versão mais alucinada, implementada pelo mesmo Roberto Campos e pelo mesmo Otávio Gouveia de Bulhões, no governo inicial da ditadura, foi um fracasso.
Em uma recente mesa-redonda, fiz uma consideração a esse respeito:
“A base sociopolítica que edificou o nosso desenvolvimento, a partir de 1930, foi formada por uma aliança entre os trabalhadores, os empresários nacionais e o Estado Nacional.
(…)
“Entretanto, a aliança a que nos referimos, característica do que se chamou nacional-desenvolvimentismo, foi interrompida pelo golpe de Estado de 1964 e pela ditadura que se instalou em seguida.
“Mas a tentativa do primeiro governo da ditadura, empreendida por Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões, de ‘limpar o terreno’ para as empresas estrangeiras, falindo as empresas de capital nacional, que, inconvenientemente para o entreguismo, ocupavam a economia brasileira, foi um fracasso.
“É verdade que conseguiram – seguindo o seu mestre, Eugênio Gudin, o mesmo que, no governo Café Filho, após a morte de Getúlio, emitira a famigerada Instrução 113 da Sumoc – arrochar os salários, concentrar a renda, estrangular os gastos públicos e o crédito.
“Em suma, transformaram a economia em um inferno para as empresas nacionais, deixando-as sem o mercado que era constituído pelo salário dos trabalhadores, sem as encomendas do Estado e sem financiamento.
“É isso o que explica, por exemplo, que, em 1964, as empresas nacionais ocupavam 60% do setor de material elétrico e comunicações, o que caiu para 7,2%, oito anos depois.
“Mas essa ‘limpeza’ para que os monopólios privados estrangeiros ocupassem o terreno antes ocupado pelas empresas nacionais, não redundou em crescimento da economia. Pelo contrário, em 1965 a produção industrial caiu 4,7%.
“Enquanto isso, e não por coincidência, o salário mínimo real em São Paulo diminuiu 35% nos quatro anos que vão de 1964 a 1968.
“E apenas vamos lembrar que as remessas de lucro líquidas para o exterior – isto é, subtraídos os investimentos diretos estrangeiros que entraram no país durante o mesmo período – aumentaram 119,72% em três anos (1964-1967).
“Diante desse caos, a ditadura mudou o seu modelo econômico, instalando uma corruptela do nacional-desenvolvimentismo com uma estranha aliança que, marginalizando os trabalhadores, submetidos a um terrível arrocho salarial, era, então, entre o capital estrangeiro, o capital nacional e o Estado” (v. HP 07/12/2024, “País que não tem aumento na produtividade industrial está condenado a se estagnar”, afirma Carlos Lopes).
Ou seja, até mesmo a ditadura, cujo desígnio explícito era acabar com o nacional-desenvolvimentismo, teve que recuar e instalar um arremedo de modelo desenvolvimentista.
O problema é que o favorecimento ao capital estrangeiro levou, inevitavelmente, ao fim de qualquer “desenvolvimentismo”, mesmo de um arremedo de desenvolvimento. Daí o império do neoliberalismo, a partir do governo Collor, as pretensões tucanas de “acabar com a era Vargas” – e outras esquisitices e atrasos que permeiam a vida política e econômica brasileira até hoje.
Tudo com base no modelo econômico da ditadura, derrubado com a Constituição de 1988, mas restaurado com a queda da União Soviética e dos demais países do Leste Europeu.
Qual é a questão chave do desenvolvimento brasileiro – isto que, ao modo de um lugar-comum, é chamado de “nacional-desenvolvimentismo”?
Em sua magnífica aula inaugural no ISEB, em 1959, intitulada “Raízes Históricas do Nacionalismo Brasileiro”, Nelson Werneck Sodré apontou:
“Por que Nacionalismo? Porque, agora, são as forças econômicas externas o mais poderoso obstáculo ao nosso desenvolvimento, e os seus aliados internos declinam em resistência, já não tutelam o país. Realizar-se nacionalmente, para um país de passado colonial, com estrutura econômica subordinada a interesses externos, corresponde a uma tarefa em muitos pontos idêntica à que os países europeus realizaram, no alvorecer da Idade Moderna, com a derrota dos remanescentes feudais e o avanço da capitalização. O que, para eles, eram as relações feudais, antepondo-se ao desenvolvimento, é, para nós, tudo o que reflete ainda o passado colonial. O Nacionalismo apresenta-se, assim, como libertação. De seu conteúdo libertador provém o teor apaixonado de que se reveste e que leva os seus opositores a considerá-lo mais como paixão do que como política. Conviria acentuar, no caso, que não existe paixão pelo abstrato, e que o Nacionalismo traduz uma verdade – a verdade do quadro histórico, e a verdade é concreta” (v. HP 24/09/2010, Nelson Werneck Sodré: o nacionalismo brasileiro e suas raízes históricas).
Essa aula é também importante por outro aspecto: nela, o conceito de desenvolvimento (sempre desenvolvimento nacional) está ligado à Revolução Brasileira, iniciada em 1930.
Mais importante ainda porque foi para impedir a continuação da Revolução Brasileira que, cinco anos depois, seria perpetrado o golpe de 1964 e instalada a ditadura – assim como foi para tentar impedir essa continuação que Getúlio fora levado ao suicídio em 1954.
A Revolução Brasileira – e, portanto, o desenvolvimento nacional ou nacional-desenvolvimentismo – implica, necessariamente, numa economia voltada para o mercado interno e numa política de industrialização nacional. Nesse sentido, a Constituinte que elaborou a Carta de 1988 estava inteiramente nos trilhos do desenvolvimento nacional, ao considerar que o mercado interno é um patrimônio nacional, reservando-o principalmente (embora não exclusivamente) para as empresas brasileiras de capital nacional.
Notemos que essas transformações se dão – e são típicas – em um país subordinado ao imperialismo. A rigor, são transformações que têm como objetivo a libertação do país de uma secular tutela imperialista:
“A pressão externa, que não cessa de avultar, sofre, porém, três pausas pouco intervaladas: a guerra mundial de 1914-1918, a crise de 1929 e a guerra mundial de 1939-1945. Essas três pausas permitem à estrutura nacional de produção dar três saltos e, mais do que isso, altera fundamentalmente a fisionomia econômica do país. (…) Cumpre mencionar, no entanto, que permitiram à capitalização nacional o transitório desafogo em que fortaleceu para enfrentar as pressões inexoráveis que se sucederam a cada uma. Essa capitalização operou-se particularmente pela possibilidade de montar um parque industrial de substituição de importações, com todos os reflexos que tal industrialização espontaneamente acarreta, e pela possibilidade de transferir recursos de um campo para outro, do campo agrícola para o industrial, do campo do café para o do algodão etc. A pausa nas importações, por outro lado, permitia, também espontaneamente, que se acumulassem recursos no exterior” (Nelson Werneck Sodré, aula cit.).
O mesmo autor faz, em seguida, uma observação sobre o governo Dutra, que sucedeu Getúlio, após o brevíssimo interregno de José Linhares:
“A dilapidação impressionante desses recursos, particularmente depois da Segunda Guerra Mundial, corresponde a um dos erros mais clamorosos já cometidos contra o país”.
Apenas por curiosidade – na verdade, não somente – vamos reproduzir uma observação sobre a ação estatal, que, já naquela época remota, há mais de 65 anos, era a bête noire dos entreguistas e reacionários:
“É curioso que se tenha levantado, nesta fase, o problema da não intervenção do Estado na vida econômica, cobrindo-se algumas de suas intervenções, não combatidas, sob o eufemismo de ‘ação supletiva’. Qualquer estudante de curso secundário sabe que a intervenção na vida econômica existe desde que o Estado existe. Não provocou debate e controvérsias enquanto a posse unilateral do poder ocultava o problema, uma vez que o Estado funcionava, na tonalidade de suas manifestações, como instrumento de uma só classe. O que traz a controvérsia a primeiro plano, encoberta, aliás, quase sempre, por abstrações doutrinárias, e não clarificada pela situação concreta, é o fato, novo na vida brasileira, de agora termos no poder, não apenas a classe territorial, mas esta e representações ponderáveis da classe média, daquilo que se convencionou chamar de burguesia nacional. Uma vez que o Estado ora atendia aos interesses antigos, ora aos novos, tornava-se necessário levantar o problema de um Estado neutro, abstrato, subjetivo, que realizasse o milagre de não existir, porque proibido de atuar, todas as vezes em que sua intervenção tende a favorecer ou simplesmente a tolerar as forças novas, agora presentes e mobilizadas em nosso país” (idem).
Tudo isso foi escrito, e proferido, há muito tempo. Apesar disso, ainda é útil para investigar, entre várias, duas questões decisivas, no plano histórico e no plano estratégico.
Uma, referente ao passado, é como chegamos ao caminho da Revolução Brasileira, um caminho tão fértil que as forças que se opunham a ela sentiram a necessidade de dar um golpe de Estado e instalar uma ditadura terrorista, sanguinária, para barrá-la.
Outra é referente ao futuro: para onde nos levará o caminho da Revolução Brasileira? Ou, o que é a mesma coisa, somente que formulada no presente: como, hoje, se coloca, para nós, a retomada do desenvolvimento nacional?
Quanto à primeira questão, o desenvolvimento nacional é a constituição do nosso povo, da nossa nação. Enfim, é devido à nossa história que desembocamos no caminho da Revolução Brasileira.
Esse afluente histórico inclui as revoltas contra a metrópole, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, assim como a nossa própria Independência de Portugal, na época da Revolução Industrial europeia e da crise do sistema colonial.
Inclui, também, a Abolição. Como poderíamos ter um povo único, se uma parcela dele continuasse escravo? Aliás, nesse caso, os escravizados eram a principal parcela que construiu a Nação. Nas palavras de Joaquim Nabuco (que, por sinal, era branco):
“A raça negra não é, tampouco, para nós, uma raça inferior, alheia à comunhão, ou isolada desta (…). Para nós, a raça negra é um elemento de considerável importância nacional, estreitamente ligada por infinitas relações orgânicas à nossa constituição, parte integrante do povo brasileiro.
(…)
“Em primeiro lugar, a parte da população nacional que descende de escravos é, pelo menos, tão numerosa como a parte que descende exclusivamente de senhores; a raça negra nos deu um povo. Em segundo lugar, o que existe até hoje sobre o vasto território que se chama Brasil foi levantado ou cultivado por aquela raça; ela construiu o nosso país. Há trezentos anos que o africano tem sido o principal instrumento da ocupação e da manutenção do nosso território pelo europeu, e que os seus descendentes se misturam com o nosso povo. Onde ele não chegou ainda, o país apresenta o aspecto com que surpreendeu os seus primeiros descobridores. Tudo o que significa luta do homem com a natureza, conquista do solo para a habitação e cultura, estradas e edifícios, canaviais e cafezais, a casa do senhor e a senzala dos escravos, igrejas e escolas, alfândegas e correios, telégrafos e caminhos de ferro, academias e hospitais, tudo, absolutamente tudo que existe no país, como resultado trabalho manual, como emprego de capital, como acumulação de riqueza, não passa de uma doação gratuita da raça que trabalha à que faz trabalhar” (Joaquim Nabuco, O Abolicionismo, Typographia de Abraham Kingdon e Ca., Londres, 1883, p.p. 19-21).
A Abolição significou o fim da base econômica da monarquia – que era, como destacou José do Patrocínio, a superestrutura jurídico-política da escravidão.
Assim, a Proclamação da República foi a revolta da classe média contra o trambolho monárquico dos senhores, revolta que se estendeu pelo governo de Deodoro, e, principalmente, pelo de Floriano Peixoto (v. nosso livro A República e o Grito da Nacionalidade).
Mas é verdade que os fazendeiros de café afastaram a classe média do poder a partir dos governos de Prudente de Moraes, e, sobretudo, de Campos Sales, implantando uma ditadura, algo instável, que se estendeu até 1930, quando a classe média – agora com o apoio dos trabalhadores – voltou ao poder e iniciou a Revolução Brasileira.
A segunda questão é, embora apenas em parte, teórica.
Evidentemente, um país do tamanho e das potencialidades naturais e econômicas do Brasil não irá sair da terrível situação atual, em que geme dentro de uma camisa de força extremamente apertada, mal respirando através de pequenas brechas nas masmorras do neoliberalismo imperialista.
No passado, não existiu desenvolvimento que não fosse nacional. Da mesma forma, na atualidade – mostram exemplos como os da China, Vietnã, Coreia, Índia, Indonésia -, continua não existindo.
Há muito, aliás, Barbosa Lima Sobrinho publicou o seu esplêndido Japão: o capital se faz em casa (Paz e Terra, 1974).
Mas esse é o lado prático da questão.
O lado teórico é como o que foi chamado de Revolução Brasileira se entrelaça com a revolução socialista no Brasil.
Acontece que o desenvolvimento nacional significa, em termos políticos, a expansão da democracia nacional. Outra vez, citando Nelson Werneck Sodré:
“… o Nacionalismo representa o ideal democrático, só esposado pelas classes em ascensão, que necessitam da liberdade como o organismo humano de oxigênio, que vivem do esclarecimento da opinião, que precisam discutir e colocar de público. Precisam, mais do que tudo, do apoio popular, e só isso revela o caráter democrático, essencial, da posição nacionalista”.
O nó, que entrelaça a Revolução Brasileira com a revolução socialista brasileira, é que “a luta pela democracia é sempre, no terreno político, a coluna dorsal da luta pelo socialismo e pelo seu desenvolvimento” (Cláudio Campos, Unir a Nação e Romper com a Dependência, 1982).
Por quê?
Porque a base da democracia, na Revolução Brasileira, é o desenvolvimento de um capitalismo independente, autônomo, popular, nacional – isto é, não mais subordinado à metrópole imperialista, pois, “não há, em termos históricos gerais outro caminho para o avanço em direção ao socialismo que não seja através do desenvolvimento do capitalismo” (Cláudio Campos, idem).
Aqui, é preciso ter claro onde nos levará o desenvolvimento nacional (ou, se o leitor preferir, o nacional-desenvolvimentismo):
“A ruptura da dependência, no Brasil, não viabilizará outra coisa senão um grande surto de desenvolvimento… capitalista”, o que “aproxima a sociedade do socialismo”.
Embora, independente do socialismo, é evidente que a Revolução Brasileira e o desenvolvimento nacional constituem interesses concretos, em si (e para si), do povo brasileiro:
“Não é porque não existem ainda condições objetivas e subjetivas para o socialismo que nós estamos condenados à dependência” (Cláudio Campos, idem).